MAE/USP Programa De Pós-Graduação Em Arqueologia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

INFORMAÇÃO TURÍSTICA E S R
R. Armando Martino R. Carlos B v . R. Lagoa Azul V . Corr o l R. Nelson u n t eia á A r i V o A . s R. Cel. Mar v R to A d . cílio F R. Dona a C R v ranc P P od. Bandeirantes r o . Gen. Edgard F u d de á z PARQUE SÃO e er t A r v. v. Casa V e M A i C edo Pujol a o R. Alfr i n DOMINGOS ag R. Our r c o de Paula o al ei h ç R. Dr César d ã ãe o R. Itapinima s R. Chic o Gr o m i S u osso R. L u q l to eão XIII SANTANA u Z R. M . Mora . Miguel Conejo r R . Z v A D acó R. Estela B . A élia SANTANA . J v R . C . PARQUE CIDADE Av. Ns. do Ó Z . Angelina Fr . Inajar de Souza a R. Chic v e c ire 1 DE TORONTO 2 3 v 4 5 de 6 7 8 h A i A PIQUERI r er i o o N i i Av. Ns. do Ó l Penitenciária do o P c a g i á R. Balsa r t Estado Carandiru ontes c s M . Casa V h a l v R. Maria Cândida n e i 48 98 i A r Jardim Botânico G7 A7 A 100 Serra da Cantareira 27 b o a Atrativos / Atractivos d t . G v n 49 99 A o Av. -
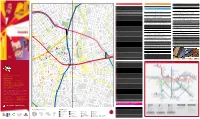
CENTRO E BOM RETIRO IMPERDÍVEIS Banco Do Brasil Cultural Center Liberdade Square and Market Doze Edifícios E Espaços Históricos Compõem O Museu
R. Visc onde de T 1 2 3 4 5 6 aunay R. Gen. Flor . Tiradentes R. David Bigio v R. Paulino A 27 R. Barra do Tibaji Av C6 R. Rodolf Guimarães R. Par . Bom Jar Fashion Shopping Brás o Miranda Atrativos / Attractions Monumentos / Monuments es dal dim A 28 v B2 Fashion Center Luz . R. Mamor R. T C é r R. Borac é u R. Pedro Vicente 29 almud Thorá z Ferramentas, máquinas e artigos em borracha / eal e 1 1 i Academia Paulista de Letras C1 E3 “Apóstolo Paulo”, “Garatuja, “Marco Zero”, entre outros R. Mamor r e R. Sólon o R. R R. do Bosque d C3 Tools, machinery and rubber articles - Rua Florêncio de Abreu éia ARMÊNIA odovalho da Fonseca . Santos Dumont o 2 R. Gurantã R. do Ar D3 v Banco de São Paulo Vieira o S A R. Padr R. Luis Pachec u 30 l ecida 3 Fotografia / Photography - Rua Conselheiro Crispiniano D2 R. Con. Vic Batalhão Tobias de Aguiar B3 ente Miguel Marino R. Vitor R. Apar Comércio / Shopping 31 Grandes magazines de artigos para festas Air R. das Olarias R. Imbaúba 4 R. Salvador L osa Biblioteca Mário de Andrade D2 R. da Graça eme e brinquedos (atacado e varejo) / Large stores of party items and toys 5 BM&F Bovespa D3 A ena R. Araguaia en. P eição R. Cachoeira 1 R. Luigi Grego Murtinho (wholesale and retail) - Rua Barão de Duprat C4 R. T R. Joaquim 6 Acessórios automotivos / Automotive Accessories R. Anhaia R. Guarani R. Bandeirantes Caixa Cultural D3 apajós R. -

Memoricidade.Pdf
memoricidadeV.1 - N.1 – Dezembro 2020 invisibilidades urbanas memoricidade sumário Revista do Museu da Cidade de São Paulo editorial Uma revista para o Museu da Cidade de São Paulo 6 Conselho editorial Editor Projeto gráfco e diagramação Beatriz Cavalcanti de Arruda Maurício Rafael Fajardo Ranzini Design João de Pontes Junior Arthur Fajardo e Claudia Ranzini ensaio A cidade, as memórias e as vozes rebeldes 8 José Henrique Siqueira Editores associados Alecsandra Matias de Oliveira Luiz Fernando Mizukami João de Pontes Junior Impressão Marcos Cartum Rafael Itsuo Takahashi Imprensa Ofcial do Estado - Imesp Preservação experimental para desinventar a tradição 14 Marília Bonas dossiê Marly Rodrigues Produção editorial Revisão Giselle Beiguelman Maurício Rafael Felipe Garofalo Cavalcanti Renata Lopes Del Nero Natália Godinho João de Pontes Junior O.CU.PAR: invisibilidades LGBTQIA+ na cidade de São Paulo 22 Maurício Rafael Foto de capa Bruno Puccinelli Coordenação Rafael Itsuo Takahashi Crianças em São Paulo, Praça da Sé, 1984 Marcos Cartum Silvia Shimada Borges Rosa Gauditano Museu dos invisíveis 28 Christian Ingo Lenz Dunker Visibilidades da cidade 36 Esta publicação é dedicada a Julio Abe Wakahara, falecido em novembro de 2020, cuja trajetória profssional, de mais de quatro décadas, trouxe notáveis contribuições para a museologia brasileira, tendo sido um dos primeiros a se dedicar ao patrimônio Abílio Ferreira imaterial. Julio Abe foi diretor, no fnal da década de 1970, da Seção Museu Histórico da Imagem Fotográfca da Cidade de São Paulo -

1ª E 2ª Séries Ou (1º 2º E 3º Anos)
2012 - INSTITUIÇÕES PARCEIRAS - CAPITAL Instituições Série/ano Casa do Bandeirante Capela do Morumbi Casa da Imagem e Beco do Pinto Casa do Grito e Monumento à Independência Casa do Tatuapé Casa Modernista Catavento Pavilhão das Culturas Brasileiras Sítio da Ressaca Sítio Morrinhos Solar da Marquesa 1ª e 2ª séries ou Centro Cultural Banco do Brasil (1º 2º e 3º anos) Centro Cultural São Paulo Planetário Parque Ecológico do Tietê Parque Estadual da Cantareira – Núcleo Engordador Parque Estadual da Cantareira – Núcleo Pedra Grande Memória do Gás Museu Barão de Mauá Museu Brasileiro de Escultura - MUBE Parque Estadual do Juquery SESC 2012 - INSTITUIÇÕES PARCEIRAS - CAPITAL Instituições Série/ano Casa do Bandeirante Capela do Morumbi Casa da Imagem e Beco do Pinto Casa do Grito e Monumento à Independência Casa do Tatuapé Casa Modernista Pavilhão das Culturas Brasileiras Sítio da Ressaca Sítio Morrinhos Solar da Marquesa Catavento Centro Cultural Banco do Brasil CCBB Centro Cultural São Paulo 3ª e 4ª séries ou Instituto Verdescola – Memória do Gás (4º e 5º anos) Museu Afro Brasil Museu Barão de Mauá Museu da Casa Brasileira - MCB Museu Brasileiro da Escultura - MUBE Museu Lasar Segall - MLS Parque Estadual do Juquery Fundação Ema Gordon Klabin Parque Ecológico do Guarapiranga Planetário Parque Estadual da Cantareira - Núcleo Engordador Parque Estadual da Cantareira - Núcleo Pedra Grande SESC 2012 - INSTITUIÇÕES PARCEIRAS - CAPITAL Instituições Série/ano Casa do Bandeirante Capela do Morumbi Casa da Imagem e Beco do Pinto Casa do Grito e Monumento -

CLIPPING 30 De Outubro De 2019
CLIPPING 30 de outubro de 2019 HORTO FLORESTAL DE SUSSUÍ Termo de guarda de 30 de outubro de 1981. O Horto Florestal de Sussuí protege 9,68 ha de Mata Atlântica, dentro de um município com baixíssima cobertura natural remanescente. Pela sua localização junto às margens do rio Pari Veado, destaca-se os serviços ecossistêmicos de proteção aos recursos hídricos. SUMÁRIO ENTREVISTAS ............................................................................................................................... 4 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE ....................................................................... 4 Vale do Futuro: Secretários de Estado visitam comunidades remanescentes de quilombos ..................... 4 Zoo de São Paulo apresenta ao público duas raposinhas-do-campo ..................................................... 6 Parte de morro fica três dias sem água em Santos ............................................................................ 8 SBC sobe no ranking de saneamento ............................................................................................... 9 Região implanta monitoramento da costa ....................................................................................... 10 Câmara vota permissão para receber lixo de fora ............................................................................ 11 Um terço do litoral já sofre com óleo e, para ministro, fim da crise é incerto ....................................... 12 Setor de Seguros e a força do interior paulista ............................................................................... -

000895779.Pdf (8.327Mb)
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “Julio de Mesquita Filho” Campus Experimental de Ourinhos JULIA CRISTINA ABRAMI RANGEL REDESCOBRINDO O CENTRO DE SÃO PAULO: PROPOSTA DE ESTUDO DO MEIO PARA O ENSINO BÁSICO Ourinhos – SP 2017 JULIA CRISTINA ABRAMI RANGEL REDESCOBRINDO O CENTRO DE SÃO PAULO: PROPOSTA DE ESTUDO DO MEIO PARA O ENSINO BÁSICO Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à banca examinadora do Campus Experimental de Ourinhos, da Universidade Estadual Paulista – UNESP, para obtenção do título de Bacharel em Geografia. Orientadora: Prof. Dra. Carla Cristina Reinaldo Gimenes de Sena Ourinhos – SP 2017 Banca Examinadora _____________________________________________________ Prof. Dra. Carla Cristina Reinaldo Gimenes de Sena ________________________________________________________ Prof. Dr. Ari da Silva Fonseca Filho _______________________________________________________ Prof. Ms. Mariane Revagio Catelli AGRADECIMENTOS Durante nosso processo de crescimento e amadurecimento na vida, uma série de fatores podem nos influenciar e determinar o que seremos e como seremos. De acordo Sirius Black, “O mundo não se divide em pessoas boas e más. Todos temos luz e trevas dentro de nós. O que importa é o lado o qual decidimos agir, isso é o que realmente somos!”. Embora caiba a nos mesmos decidir como direcionaremos nossa luz e nossa treva, são as memórias e ensinamentos dessa nossa caminhada que determinam nossas escolhas, e são dessas escolhas que mais aprendizagens são geradas. Das frases típicas que ouvimos dos pais, a de que eles ensinam com amor e que a vida não vai ser tão gentil assim está entre as mais citadas. É por todo esse amor e ensinamento que agradeço aos meus, afinal, sem o incentivo, dedicação e sua fé em mim, talvez nem tivesse terminado o primeiro semestre da Geografia. -

Vida Material De Desterro No Século Xix: As Louças Do Palácio Do Governo De Santa Catarina, Brasil
VIDA MATERIAL DE DESTERRO NO SÉCULO XIX: AS LOUÇAS DO PALÁCIO DO GOVERNO DE SANTA CATARINA, BRASIL. Fernanda Codevilla Soares Largo do Palácio. Vista da cidade de Desterro em 1846 por Victor Meirelles . Armazém Rua do Príncipe nº05, Desterro. Fonte: Inventário post mortem , século XIX. Jarra de faiança fina inglesa, estilo peasant. Foto: Osvaldo Paulino da Silva, 2003. ORIENTADOR: Dr. Fernando Coimbra Palácio Cruz e Souza. (MHSC) Foto: Fernanda Codevilla Soares, 2010. UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO VILA REAL, 2011 1 FERNANDA CODEVILLA SOARES VIDA MATERIAL DE DESTERRO NO SÉCULO XIX: AS LOUÇAS DO PALÁCIO DO GOVERNO DE SANTA CATARINA, BRASIL. Tese apresentada para obtenção do grau de Doutor em Quaternário, Materiais e Cultura, UTAD. ORIENTADOR: Dr. Fernando Coimbra Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro Vila Real, 2011 2 ÍNDICE GERAL ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................................................... 5 ÍNDICE DE GRÁFICOS ......................................................................................................................................... 8 ÍNDICE DE TABELAS ........................................................................................................................................... 9 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................................... 12 1. ARQUEOLOGIA HISTÓRICA EM FLORIANÓPOLIS: (IN) DEFINIÇÕES -

Cidade Criativa Ciudad Creativa
ROTEIRO TEMÁTICO / TOUR TEMÁTICO: Cidade Criativa Ciudad Creativa Este folheto faz parte da série Roteiros Temáticos. Vivencie e explore São Paulo em roteiros autoguiados que oferecem outras 8 perspectivas da cidade: Roteiro Afro, Arquitetura pelo centro histórico, Arte Urbana, O Café e a História da Cidade, Ecorrural, Futebol, Independência do Brasil e Mirantes. Este folleto es parte de la serie Itinerarios Temáticos. Viva y explore São Paulo en itinerarios autoguiados que ofrecen Concepção / Concepción: São Paulo Turismo otras 8 perspectivas de la ciudad. Tour Afro, Arquitectura por el Projeto Gráfico / Proyecto Gráfico: Rômulo Castilho Diagramação / Diagramación: Marília Uint, Rene Perol centro histórico, Arte Urbano, El Café y la Historia de la Ciudad, Mapas: Fluxo Design, Rene Perol Eco Rural, Fútbol, Independencia de Brasil y Miradores. Fotos: Alexandre Diniz, André Stéfano, Caio Pimenta, Dirceu Rodrigues, Jefferson Pancieri, José Cordeiro, Marcos Hirawaka, Mario Miranda, www.cidadedesaopaulo.com Priscilla Vilariño, Roberto Nakai, Vanessa Menagaldo de Camargo, Wanderley Celestino Supervisão / Supervisión: Fernanda Ascar, Paulo Amorim Conteúdo / Contenido: Adriana Omuro, Carolina Paes, Gabriel Rostey, Silvia Chimenti Agradecimento / Reconocimiento: Ana Carla Fonseca São Paulo Turismo S/A www.cidadedesaopaulo.com Av. Olavo Fontoura, 1209 www.spturis.com Parque Anhembi, São Paulo (SP), www.anhembi.com.br CEP 02012-021, Tel.: +5511 2226-0400 www.autodromointerlagos.com [email protected] www.visitesaopaulo.com O objetivo da São Paulo Turismo é promover a cidade de São Paulo de forma independente sem nenhum vínculo com os estabelecimentos mencionados. Algumas informações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. / El objetivo de São Paulo Turismo es promover la ciudad de São Paulo de forma independiente sin ningún vínculo con los establecimientos mencionados. -

Guia Da Cidade
guia da cidade guía de la ciudad Legenda/ Leyenda Viva Tudo Isso! / 3 ¡Viva Todo Esto! Estação de metrô em um raio Locais com acessibilidade para de até 1,5 km do atrativo. / pessoas com deficiência física, Imperdíveis / Estación de metro en un rayo de auditiva, visual ou intelectual. Con- 17 Imperdibles hasta 1,5km del punto principal. sulte mais informações nos locais e no Guia de Acessibilidade Cultural, São Paulo por Regiões / Locais que não cobram índice do Instituto Mara Gabrilli em: 39 São Paulo por Regiones entrada ou dia no qual a Locales con accesibilidad para entrada é gratuita. / Locales que personas con discapacidades Informações Úteis e Serviços / no cobran entrada o el día en que físicas, auditivas, visuales o inte- 115 la entrada es gratuita. lectuales. Ver más informaciónes Informaciones Útiles y Servicios en los locales y en la Guía de Calendário de Eventos / Local com Central de Accesibilidad Cultural del Instituto 143 Informação Turística. / Mara Gabrilli en: Calendario de Eventos Local con Central de www.acessibilidadecultural.com.br Información Turística. CITs - Centrais de Informação Turística / Página com mais informa- 155 ções relevantes sobre o tema. Centrales de Información Turtística / Página con más informaciones São Paulo a Pé - Mapas / importantes sobre el tema. 159 São Paulo a Pie - Mapas 1 viva tudo isso! ¡viva todo esto! Este guia foi pensado para facilitar a sua vida, elen- cando os pontos turísticos mais visitados, os servi- ços para aproveitar o melhor de São Paulo, dicas de aplicativos que auxiliam a estadia, além do calen- dário de eventos e outras informações úteis. -

Guia Da Cidade City Guide Legenda/ Caption Viva Tudo Isso! / 3 Experience It All! Estação De Metrô Em Um Raio Locais Com Acessibilidade De Até 1,5 Km Do Atrativo
guia da cidade city guide Legenda/ Caption Viva Tudo Isso! / 3 Experience It All! Estação de metrô em um raio Locais com acessibilidade de até 1,5 km do atrativo. / para pessoas com deficiência Atrações Imperdíveis / Subway station at a 1.5 km distance física, auditiva, visual ou intelec- 17 Must See Attractions from the tourist attraction. tual. Consulte mais informações nos locais e no Guia de Acessibi- São Paulo por Regiões / índice Local que não cobra entrada lidade Cultural, do Instituto Mara 39 São Paulo by Regions ou com um dia no qual a Gabrilli em: entrada é gratuita. / Place that do Places with accessibility persons Informações Úteis e Serviços / not charge tickets or with a day with physical, hearing, visual or 115 when the tickets are free of charge. intellectual disabilities. See more Useful Information and Services information at the Cultural Ac- Calendário de Eventos / Local com uma Central de cessibility Guide by Mara Gabrilli 143 Informação Turística. / Place Institute in: Events Calendar with a Tourist Information Center. www.acessibilidadecultural.com.br CITs - Centrais de Página com mais informa- Informação Turística / ções relevantes sobre o tema. 155 Tourist Information Centers / Page with more relevant informa- tion on the subject. São Paulo a Pé - Mapas / 159 São Paulo on Foot - Maps 1 viva tudo isso! experience it all! Este guia foi pensado para facilitar a sua vida, elen- cando os pontos turísticos mais visitados, os servi- ços para aproveitar o melhor de São Paulo, dicas de aplicativos que auxiliam a estadia, além do calen- dário de eventos e outras informações úteis. -

Pdf/Livroiqusp.Pdf, Na Segunda Rotatória, Em Frente À Alça De Acesso Ao Centro Esportivo, Acessada Em Fevereiro 2009
Quim. Nova, Vol. 32, No. 7, 1975-1980, 2009 ALAMEDA GLETTE, 463, SEDE DO CURSO DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO NO PERÍODO 1939-1965 Viktoria Klara Lakatos Osorio Instituto de Química, Universidade de São Paulo, CP 26077, 05513-970 São Paulo – SP, Brasil Recebido em 10/12/08; aceite em 13/4/09; publicado na web em 10/8/09 Assuntos Gerais 463 GLETTE STREET, HEADQUARTERS OF THE SCHOOL OF CHEMISTRY OF THE UNIVERSITY OF SÃO PAULO FROM 1939 TO 1965. As the foundation of the University of São Paulo completes 75 years, this article describes the history of a mansion at 463 Glette Boulevard, in São Paulo city, where several undergraduate courses of the University’s Philosophy, Sciences and Letters Faculty operated until 1969. The first building of the school of Chemistry was erected there, 70 years ago. A brief retrospective of the Department of Chemistry at that place is given. The mansion was torn down by the middle of the 1970s, but it remained as a symbol of the school identity in the memory of all those who studied there. Keywords: history of chemistry in Brazil; University of São Paulo; FFCL-USP. INTRODUÇÃO para o ensino normal e secundário. A criação dessa Faculdade se apresentou como a idéia mais inovadora contida no estatuto,3 embora A história da origem das universidades no Brasil é bastante com- o seu caráter pragmático levantasse críticas.4 plexa.1 Durante todo o período colonial, o Império e o início da Repú- Em 1932, foi lançado o “Manifesto dos Pioneiros da Educação blica, foi priorizado no país o ensino profissionalizante. -

Pátio Do Colégio, Secularização E Reconstrução
João Carlos Santos Kuhn Resistências Sagradas Pátio do Colégio, secularização e reconstrução Dissertação apresentada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo para a obtenção do título de mestre em História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo. área de concentração: História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo. orientador: Prof. Doutor Renato Cymbalista. São Paulo 2016 exemplar revisado e alterado em relação à versão original, sob responsabilidade do autor e anuência do orientador. O original se encontra disponível na sede do programa. São Paulo, 15 de julho de 2016. Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. e-mail do autor: [email protected] Kuhn, João Carlos Santos . K96r Resistências sagradas: Pátio do Colégio, secularização e reconstrução / João Carlos Santos Kuhn. - São Paulo, 2016. 146 p.: il. Dissertação (Mestrado - Área de Concentração: História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo) - FAUUSP. Orientador: Renato Cymbalista 1. Resistência 2. Igreja católica - São Paulo (SP) 3. Representação 4. Companhia de Jesus - São Paulo (SP) 5. Memória cultural - São Paulo (SP) 6. Pátio do Colégio - São Paulo (SP) 7. A.S.I.A 8. São Paulo (SP) - História 9. Sagrado 10. Relíquias I.Título CDU 711.523 Nome: KUHN, João Carlos Santos. Título: RESISTÊNCIAS SAGRADAS: PÁTIO DO COLÉGIO, SECULARIZAÇÃO E RECONSTRUÇÃO. DISSERTAÇÃO APRESENTADA À FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO PARA A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE MESTRE EM HISTÓRIA E FUNDAMENTOS DA ARQUITETURA E URBANISMO. APROVADO EM: BANCA EXAMINADORA: Prof.