Revista Brasileira 64-Completa.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Cleonice Berardinelli Figuras Da Lusofonia
Figuras da Lusofonia Cleonice Berardinelli Figuras da Lusofonia Organizador Izabel Margato Edição Instituto Camões Design Gráfico atelier Nuno Vale Cardoso + Nina Barreiros Pré-impressão e impressão Text y pe Tiragem 1000 exemplares 1ª edição Lisboa, 2002 Depósito Legal 181 628/02 ISBN 972-566-231 Figuras da Lusofonia Cleonice Berardinelli organização Izabel Margato 2002 Índice 6 Jorge Couto Prefácio 9 Izabel Margato Introdução 15 Cleonice Berardinelli Gratidão 18 Aníbal Pinto Castro Cleonice, Mestra da Universidade Luso-Brasileira 27 Luciana Stegagno Picchio Uma Ilha para Cleonice 34 Liliana Bastos Cleonice Berardinelli 38 Jorge Fernandes da Silveira Adeus às Armas 54 Eduardo Lourenço A Musa de Antero ou Antero e Eros 63 Maria Vitalina Leal de Matos O “Correlativo Objectivo” de T. S. Eliot e a sua Versão Pessoana (Digressões) 71 Tereza Cristina Cerdeira da Silva O Delfim ou “O Ano Passado na Gafeira” 78 Vilma Arêas “Honra e Paixão” versus “Passion et Vertu” 84 Helder Macedo Os Maias e a Veracidade da Inverosimilhança 90 Laura Padilha Sinos e Lembranças: Ecos de Dois Romances Angolanos Finisseculares 102 Lélia Parreira Duarte Alves & Cia, de Eça de Queirós, e Amor & Cia., de Helvécio Ratton 109 Maria Fernanda Abreu Mulata e Histérica: um Retrato Brasileiro de Carlos Malheiro Dias 118 Eneida Leal da Cunha Tornar-se Lusófono. História e Contemporaneidade 126 Renato Cordeiro Gomes Que Faremos com esta Tradição? Ou: Relíquias da Casa Velha 142 Ronaldo Menegaz Na Derrota de As Naus, de António Lobo Antunes, a Imagem de um Velho Portugal 150 Izabel Margato A Lisboa de José Cardoso Pires: o Percurso que Interroga os Relatos de Fundação 158 Benjamin Abdala Jr. -

Revista Brasileira 79
Revista Brasileira Fase VIII Abril-Maio-Junho 2014 Ano III N.o 79 Esta a glória que fica, eleva, honra e consola. Machado de Assis ACADEMIA BRASILEIRA REVISTA BRASILEIRA DE LETRAS 2014 Diretoria Diretor Presidente: Geraldo Holanda Cavalcanti Marco Lucchesi Secretário-Geral: Domício Proença Filho Conselho Editorial Primeiro-Secretário: Antonio Carlos Secchin Arnaldo Niskier Segundo-Secretário: Merval Pereira Merval Pereira Tesoureira: Rosiska Darcy de Oliveira Murilo Melo Filho Comissão de Publicações Membros efetivos Alfredo Bosi Affonso Arinos de Mello Franco, Antonio Carlos Secchin Alberto da Costa e Silva, Alberto Ivan Junqueira Venancio Filho, Alfredo Bosi, Ana Maria Machado, Antonio Carlos Produção editorial Secchin, Antônio Torres, Ariano Suassuna, Monique Cordeiro Figueiredo Mendes Arnaldo Niskier, Candido Mendes de Revisão Almeida, Carlos Heitor Cony, Carlos Nejar, Vania Maria da Cunha Martins Santos Celso Lafer, Cícero Sandroni, Cleonice Paulo Teixeira Pinto Filho, João Luiz Serôa da Motta Berardinelli, Domício Lisboa Pacheco, Sandra Pássaro, Proença Filho, Eduardo Portella, Evanildo José Bernardino Cotta Cavalcante Bechara, Evaristo de Moraes Projeto gráfico Filho, Fernando Henrique Cardoso, Victor Burton Geraldo Holanda Cavalcanti, Helio Editoração eletrônica Jaguaribe, Ivan Junqueira, Ivo Pitanguy, Estúdio Castellani João Ubaldo Ribeiro, José Murilo de ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS Carvalho, José Sarney, Lygia Fagundes Av. Presidente Wilson, 203 – 4.o andar Telles, Marco Lucchesi, Marco Maciel, Rio de Janeiro – RJ – CEP 20030-021 Marcos Vinicios Vilaça, Merval Pereira, Telefones: Geral: (0xx21) 3974-2500 Murilo Melo Filho, Nélida Piñon, Setor de Publicações: (0xx21) 3974-2525 Nelson Pereira dos Santos, Paulo Coelho, Fax: (0xx21) 2220-6695 Rosiska Darcy de Oliveira, Sábato Magaldi, E-mail: [email protected] Sergio Paulo Rouanet, Tarcísio Padilha. -
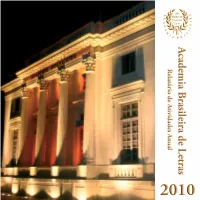
Relatorio 2010.Pdf
ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL 2010 Academia Brasileira de Letras Diretoria 2010 Presidente Marcos Vinicios Vilaça Secretária-Geral Ana Maria Machado Primeiro-Secretário Domício Proença Filho Segundo-Secretário Luiz Paulo Horta Tesoureiro Murilo Melo Filho APRESENTAÇÃO Em 2010, a Academia Brasileira de Letras comemorou o centenário de nascimento de quatro acadêmicos: Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Carlos Chagas Filho, Miguel Reale e Rachel de Queiroz, insuflando vitalidade que se espraiou nas diversas atividades desta Casa: conferências, colóquios, mesas-redondas, seminários, exposições, concertos, shows, leituras dramatizadas, peças teatrais, filmes, concursos literários, premiações, publicações e merendas acadêmicas. Imbuída da pulsação do presente, a Academia não se olvida do passado, cultuando-o, não como tempo estéril, mas como fonte de sabedoria potencialmente atualizável. Atestam essa reverência as homenagens ao centenário de morte de Joaquim Nabuco, que, além de fundador desta instituição, desenvolveu sólida carreira na política, na diplomacia e nas letras, enobrecendo o Brasil aos olhos nacionais e estrangeiros. Também se prestaram condolências aos saudosos Confrades José Mindlin e José Saramago, para os quais, ao contrário do homônimo personagem drummondiano, a Academia nunca deixará a festa acabar. Se o José brasileiro ainda vive na sua magnânima biblioteca, o português renasce na sua vultosa obra. Ao primeiro sucedeu na Cadeira 31 o Embaixador Geraldo Holanda Cavalcanti, recebido pelo Acadêmico Eduardo Portella; ao segundo, o historiador inglês Leslie Bethell, eleito para a Cadeira 16 de nossos sócios correspondentes. Lamentamos também a morte do Acadêmico Padre Fernando Bastos de Ávila, falecido em 6 de novembro. Ainda no processo sucessório, tomou posse a Professora Cleonice Berardinelli, na Cadeira 8, antes ocupada pelo Acadêmico Antonio Olinto, sendo recebida pelo Acadêmico e ex-aluno Affonso Arinos de Mello Franco. -

Eça De Queirós
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by Apollo !1 Naturalism Against Nature: Kinship and Degeneracy in Fin-de-siècle Portugal and Brazil David James Bailey" Trinity Hall 1/9/17 This dissertation is submitted for the degree of Doctor of Philosophy !2 DECLARATION This dissertation is the result of my own work and includes nothing which is the outcome of work done in collaboration except as declared in the Preface and specified in the text. It is not substantially the same as any that I have submitted, or, is being concurrently submitted for a degree or diploma or other qualification at the University of Cambridge or any other University or similar institution except as declared in the Preface and specified in the text. I further state that no substantial part of my dissertation has already been submitted, or, is being concurrently submitted for any such degree, diploma or other qualification at the University of Cambridge or any other University or similar institution except as declared in the Preface and specified in the text. It does not exceed the prescribed word limit. !3 Abstract The present thesis analyses the work of four Lusophone Naturalist writers, two from Portugal (Abel Botelho and Eça de Queirós) and two from Brazil (Aluísio Azevedo and Adolfo Caminha) to argue that the pseudoscientific discourses of Naturalism, positivism and degeneration theory were adapted on the periphery of the Western world to critique the socio-economic order that produced that periphery. A central claim is that the authors in question disrupt the structure of the patriarchal family — characterised by exogamy and normative heterosexuality — to foster alternative notions of kinship that problematise the hegemonic mode of transmitting name, capital, bloodline and authority from father to son. -

BOLETIM INFORMATIVO De Outubro De 2012
P E N C L U B E D O B R A S I L Há 76 anos promovendo a literatura e defendendo a liberdade de expressão Boletim Informativo Rio de Janeiro – Ano I I – Outubro de 2012 – Edição Online Fundado em 1936 DESTAQUES DO MÊS Novo número da Revista Convivência Neste segundo número, além de assuntos especiais e registros vinculados às atividades do PEN Clube do Brasil, surgem as seções de Crítica, Poesia, Artigos, Conferência, Memória e Depoimento. Com exceção do artigo “Pai e Zweig”, do cineasta e poeta Sylvio Back, que escreveu depoimento sobre sua experiência como diretor e roteirista do filme “Lost Zweig”, todas as demais colaborações são dos seguintes sócios da entidade: Eduardo Portella, Cláudio Aguiar, Astrid Cabral, Raquel Naveira, Marcelo Caetano, Clair de Mattos, Ives Gandra, Marcia Agrau, Claire Leron, Arnaldo Niskier, Geraldo Holanda Cavalcanti, Mary del Priore e Vasco Mariz. Ainda não foi possível a Revista Convivência aparecer, simultaneamente, nos formatos físico e digital. No entanto, é bom lembrar que estamos bem próximo desse momento auspicioso. É que, até o presente, a Diretoria vem concentrando esforços no sentido de solucionar assuntos urgentes e inadiáveis ligados à própria sobrevivência patrimonial da entidade. A Revista Convivência nº 2 poderá ser lida e impressa no Portal do PEN Clube – http://www.penclubedobrasil.org.br –, bastando clicar, em seguida, no link “Revista Convivência”, onde também há acesso para ler e imprimir a revista nº 1. Ana Maria Machado ganha prêmio Ibero-Americano A escritora e Acadêmica Ana Maria Machado, Presidente da Academia Basileira de Letras, foi a ganhadora do Prêmio Ibero-Americano de Literatura Infantil e Juvenil de 2012. -

Marcelo Sandmann
Marcelo Sandmann AQUÉM-ALÉM-MAR: PRESENÇAS PORTUGUESAS EM MACHADO DE ASSIS Unicamp Instituto de Estudos da Linguagem 2004 Marcelo Sandmann AQUÉM-ALÉM-MAR: PRESENÇAS PORTUGUESAS EM MACHADO DE ASSIS Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Teoria e História Literária do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Teoria Literária. Unicamp Instituto de Estudos da Linguagem 2004 i V EX TOMBO BCI $<1f;[4 PROC.)).JJ '1~ Ot.{ C [J. D~ PREÇO~ . DATA NR CPD ~ .~~ ",Jv 3~t l\ l\ 4 FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA IEL - UNICAMP Ir~) -- Sandmann, Marcelo.' \ Sa56a Aquém-Além-Mar: presenças portuguesas em Machado de Assis / Marcelo Sandmann. - Campinas, SP : 487 pp., 2004. \.0\~'-V Orientador : PIOf.Dr. Paulo FranchettiJ Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudos da Linguagem. 1. Assis, Machadode, l839-1908. 2. Literaturabrasileira - Séc.II'S! XIX. 3. Literatura comparada'ifasileira e portuguesa. 4. Diálogos luso- brasileiros. 5. Literatura - Historiografia. I. Franchetti, Paulo. TI. Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Estudos da Linguagem. III. Título. ii ~ '. Banca '"'- .......; -..... -~ ~~) c= ,... -,.., -o ) Paulo Elias Allane Franchetti 1Cí3 o U' I~ Cí3 rr- "'d ..... João Roberto Gomes de Faria ~ ;... o Lúcia Granja Cí3 U ~ ;... -~ Gilberto Pinheiro Passos Cí3 L.. v - o o.. Marilene Weinhardt o.. c. 8 ~ ~->( .~ ~~ c ~~ qJ 11) C:tJ"O 11l a Antônio José Sandmann, meu pai v Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões (canção “Língua”, de Caetano Veloso) vii Agradecimentos Ao meu orientador, Paulo Franchetti. Às professoras Márcia Abreu e Orna Messer, pelas observações e sugestões no exame de qualificação. -

Poesia Portuguesa E Brasileira Licenciatura Em Letras Língua Portuguesa 2 Modalidade a Distância
Licenciatura em Letras Língua Portuguesa modalidade a distância 1 Disciplina Poesia Portuguesa e Brasileira Licenciatura em Letras Língua Portuguesa 2 modalidade a distância MATERIAL DIDÁTICO ELABORAÇÃO DO CONTEÚDO Sílvio Augusto de Oliveira Holanda Maria de Fátima do Nascimento REVISÃO Ana Lygia Almeida Cunha CAPA, PROJETO GRÁFICO E EDITORAÇÃO ELETRÔNICA Oficina de Criação da Universidade Federal do Pará Reimpressão 2012 Dados Internacionais de Catalogação na publicação (CIP) – Biblioteca do ILC/ UFPA, Belém – PA HOLANDA, Sílvio Augusto de Oliveira. Poesia portuguesa e brasileira/ Sílvio Augusto de Oliveira Holanda, Maria de Fátima Nascimento. – Belém: EDUFPA, 2009. v.7. Textos didáticos do Curso de Licenciatura em Letras – Habilitação em Língua Portuguesa – Modalidade a distância. ISBN: 978-85-247-0499-4 1. Poesia Portuguesa. 2. Poesia brasileira. I. NASCIMENTO, Maria Fátima do. II. Título. CDD.20.ed.890.1. Licenciatura em Letras Língua Portuguesa 3 Sílvio Augusto de Oliveira Holanda modalidade a distância Maria de Fátima do Nascimento Disciplina Poesia Portuguesa e Brasileira Belém-Pa 2012 volume 7 Licenciatura em Letras Língua Portuguesa 4 modalidade a distância MINISTRO DA EDUCAÇÃO Aloizio Mercadante Oliva SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MEC José Henrique Paim Fernandes SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR (SERES/MEC) Luis Fernando Massonetto DIRETOR DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA Hélio Chaves Filho DIRETOR DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL João Carlos Teatini de Souza Clímaco COORDENADOR-GERAL DE PROGRAMAS -

P E N C L U B E D O B R a S
P E N C L U B E D O B R A S I L Há 77 anos promovendo a literatura e defendendo a liberdade de expressão Boletim Informativo Rio de Janeiro – Ano III – Abril de 2013 – Edição Online Fundado em 1936 DESTAQUES DO MÊS PEN CLUBE COMEMORA 77 ANOS DE FUNDAÇÃO (1936-2013) No dia 8 o PEN Clube do Brasil realizou mais uma concorrida solenidade de comemoração de sua fundação em sua sede social do Flamengo, Rio de Janeiro. O escritor e crítico musical Ricardo Cravo Albin empolgou os presentes ao proferir a conferência "Vinicius, poeta da paixão na MPB", em homenagem ao centenário de nascimento do famoso poeta, compositor e diplomata brasileiro Vinicius de Moraes. Na mesma ocasião foram concedidas as medalhas Cláudio de Souza e Barbosa Lima Sobrinho, ambos ex-presidentes deste Clube Literário, respectivamente, ao Acadêmico Geraldo Holanda Cavalcanti, Secretário-Geral da ABL e Dr. Maurício Vicente Ferreira Júnior, Diretor do Museu Imperial, de Petrópolis. A concessão da Medalha Barbosa Lima Sobrinho a Geraldo Holanda Cavalcanti foi feita como reconhecimento por seu constante apoio junto à Academia Brasileira de Letras aos esforços que atualmente são desenvolvidos por todos os que integram a direção e o quadro social do PEN Clube do Brasil. Já a Medalha Cláudio de Souza foi concedida ao Dr. Maurício Vicente Ferreira Júnior por seu trabalho de restauração da "Casa de Cláudio de Souza", integrante da estrutura do Museu Imperial e por ter criado, no ano passado, as condições para a formalização de convênio de cooperação entre o PEN Clube do Brasil e aquele Museu. -

Metamorfoses 14.1
METAMORFOSES 14.1 Cátedra Jorge de Sena para Estudos Luso-Afro-Brasileiros Metamorfoses__14-1.indd 1 14/04/2017 13:28:10 A Revista Metamorfoses é editada pela Cátedra Jorge de Sena para Estudos Literários Luso-Afro-Brasileiros, criada em 1999, no Departamento de Letras Vernáculas da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro e dirigida por um Conselho de Adminis- tração assim constituído, na gestão 2014-2017: Regente: Luci Ruas Pereira Substituto eventual: Carmen Lúcia Tindó Secco Representantes de Literatura Portuguesa: Luci Ruas Pereira, Teresa Cristina Cerdeira, Sofia de Sousa Silva e Mônica Genelhu Fagundes Representantes de Literatura Brasileira: Anélia Pietrani, Maria Lucia Guimarães de Faria e Gilberto Representantes de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa: Carmen Lúcia Tindó Ribeiro Secco e Teresa Salgado Eméritas: Cleonice Berardinelli, Marlene de Castro Correia e Gilda Santos Endereço para correspondência: Revista Metamorfoses/Cátedra Jorge de Sena Faculdade de Letras/UFRJ Cidade Universitária – Ilha do Fundão CEP: 21941-590 – Rio de janeiro – RJ – Brasil E-mail: [email protected] Metamorfoses__14-1.indd 2 14/04/2017 13:28:10 METAMORFOSES 14.1 Comissão Editorial Anélia Pietrani, Carmen Lúcia Tindó Ribeiro Secco, Cleonice Berardinelli, Gilberto Araújo, Gilda Santos, Luci Ruas Pereira, Maria Lúcia Guimarães de Faria, Marlene de Castro Correia, Mônica Genelhu Fagundes, Sofia de Sousa Silva, Teresa Cristina Cerdeira, Teresa Salgado. Conselho Editorial Alfredo Bosi, Ana Mafalda Leite, Benjamin Abdala Júnior, Davi Arrigucci Jr., Eduardo Lourenço, Ettore Finazzi-Agrò, Flávio Loureiro Chaves, Francisco Cota Fagundes, Godofredo de Oliveira Neto, Helder Macedo, Helena Buescu, Inocência Mata, Isabel Pires de Lima, Laura Cavalcante Padilha, Leyla Perrone-Moisés, Maria Alzira Seixo, Maria Irene Ramalho, Vilma Arêas Edição deste número Luci Ruas Pereira Metamorfoses__14-1.indd 3 14/04/2017 13:28:11 Revista patrocinada pela Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa Capa: M. -

Atas Da Academia Brasileira De Letras 1920 E 1921
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ ESCOLA DE COMUNICAÇÃO – ECO INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IBCTI PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – PPGCI ANA MARIA RUTTIMANN Informação e memória: Atas da Academia Brasileira de Letras 1920 e 1921 Rio de Janeiro 2015 1 ANA MARIA RUTTIMANN Informação e memória: Atas da Academia Brasileira de Letras 1920 e 1921 Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, convênio entre o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e a Universidade Federal do Rio de Janeiro/Escola de Comunicação, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Ciência da Informação. Orientador: Geraldo Moreira Prado Coorientadora: Rosali Fernandez de Souza Rio de Janeiro 2015 2 ANA MARIA RUTTIMANN Informação e memória: Atas da Academia Brasileira de Letras 1920 e 1921 Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Ciência da Informação, convênio entre o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e a Universidade Federal do Rio de Janeiro/Escola de Comunicação, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Ciência da Informação. Aprovada em: ___________________________________________________________ Prof. Dr. Geraldo Moreira Prado (Orientador) PPGCI/IBCTI – ECO/UFRJ ___________________________________________________________ Prof.ª Dr.ª Rosali Fernandez de Souza (Co-orientadora) PPGCI/IBCTI – ECO/UFRJ Prof.ª Dr.ª Lena Vania Ribeiro Pinheiro PPGCI/IBCTI – ECO/UFRJ Prof.ª Dr.ª Icleia Thiesen Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO 3 DEDICATÓRIA Dedico esta dissertação a meu pai, que apesar de não estar mais entre nós, é sempre presente, como modelo e exemplo, que me ensinou o amor pelos livros, pela catalogação e investigação científica desde criança, começando por nossa singela coleção de selos, até a organização da sua própria biblioteca e documentos, memórias de uma vida. -

Revista Brasileira Fase VII Janeiro-Fevereiro-Março 2011 Ano XVII N.O 66
Revista Brasileira Fase VII Janeiro-Fevereiro-Março 2011 Ano XVII N.o 66 Esta a glória que fica, eleva, honra e consola. Machado de Assis ACADEMIA BRASILEIRA REVISTA BRASILEIRA DE LETRAS 2011 Diretoria Diretor Presidente: Marcos Vinicios Vilaça João de Scantimburgo Secretária-Geral: Ana Maria Machado Primeiro-Secretário: Domício Proença Filho Conselho Editorial Segundo-Secretário: Murilo Melo Filho Arnaldo Niskier Tesoureiro: Geraldo Holanda Cavalcanti Lêdo Ivo Ivan Junqueira Membros efetivos Comissão de Publicações Affonso Arinos de Mello Franco, Antonio Carlos Secchin Alberto da Costa e Silva, Alberto Cleonice Serôa da Motta Berardinelli Venancio Filho, Alfredo Bosi, José Murilo de Carvalho Ana Maria Machado, Antonio Carlos Secchin, Ariano Suassuna, Arnaldo Niskier, Produção editorial Candido Mendes de Almeida, Carlos Monique Cordeiro Figueiredo Mendes Heitor Cony, Carlos Nejar, Celso Lafer, Revisão Cícero Sandroni, Cleonice Serôa da Motta Berardinelli, Domício Proença Filho, Gilberto Araújo Eduardo Portella, Evanildo Cavalcante Projeto gráfico Bechara, Evaristo de Moraes Filho, Victor Burton Geraldo Holanda Cavalcanti, Helio Jaguaribe, Ivan Junqueira, Ivo Pitanguy, Editoração eletrônica João de Scantimburgo, João Ubaldo Estúdio Castellani Ribeiro, José Murilo de Carvalho, José Sarney, Lêdo Ivo, Luiz Paulo Horta, ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS Lygia Fagundes Telles, Marco Lucchesi, Av. Presidente Wilson, 203 – 4.o andar Marco Maciel, Marcos Vinicios Vilaça, Rio de Janeiro – RJ – CEP 20030-021 Moacyr Scliar, Murilo Melo Filho, Telefones: Geral: (0xx21) 3974-2500 Nélida Piñon, Nelson Pereira dos Santos, Setor de Publicações: (0xx21) 3974-2525 Paulo Coelho, Sábato Magaldi, Sergio Fax: (0xx21) 2220-6695 Paulo Rouanet, Tarcísio Padilha. E-mail: [email protected] site: http://www.academia.org.br As colaborações são solicitadas. -

Revista Brasileira Fase Ix
Revista Brasileira FASE IX • ABRIL-MAIO-JUNHO 2020 • ANO III • N.° 103 ACADEMIA BRASILEIRA REVISTA BRASILEIRA DE LETRAS 2020 D IRETORIA D IRETOR Presidente: Marco Lucchesi Cicero Sandroni Secretário-Geral: Merval Pereira C ONSELHO E D ITORIAL Primeiro-Secretário: Antônio Torres Arnaldo Niskier Segundo-Secretário: Edmar Bacha Merval Pereira Tesoureiro: José Murilo de Carvalho João Almino C O M ISSÃO D E P UBLI C AÇÕES M E M BROS E FETIVOS Alfredo Bosi Affonso Arinos de Mello Franco, Antonio Carlos Secchin Alberto da Costa e Silva, Alberto Evaldo Cabral de Mello Venancio Filho, Alfredo Bosi, P RO D UÇÃO E D ITORIAL Ana Maria Machado, Antonio Carlos Secchin, Antonio Cicero, Antônio Torres, Monique Cordeiro Figueiredo Mendes Arnaldo Niskier, Arno Wehling, Carlos R EVISÃO Diegues, Candido Mendes de Almeida, Perla Serafim Carlos Nejar, Celso Lafer, Cicero Sandroni, P ROJETO G RÁFI C O Cleonice Serôa da Motta Berardinelli, Victor Burton Domicio Proença Filho, Edmar Lisboa Bacha, E D ITORAÇÃO E LETRÔNI C A Evaldo Cabral de Mello, Evanildo Cavalcante Estúdio Castellani Bechara, Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Carneiro, Geraldo Holanda ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS Cavalcanti, Ignácio de Loyola Brandão, Av. Presidente Wilson, 203 – 4.o andar João Almino, Joaquim Falcão, José Murilo de Rio de Janeiro – RJ – CEP 20030-021 Carvalho, José Sarney, Lygia Fagundes Telles, Telefones: Geral: (0xx21) 3974-2500 Marco Lucchesi, Marco Maciel, Marcos Setor de Publicações: (0xx21) 3974-2525 Vinicios Vilaça, Merval Pereira, Murilo Melo Fax: (0xx21) 2220-6695 Filho, Nélida Piñon, Paulo Coelho, Rosiska E-mail: [email protected] Darcy de Oliveira, Sergio Paulo Rouanet, site: http://www.academia.org.br Tarcísio Padilha, Zuenir Ventura.