Revista Brasileira 75
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
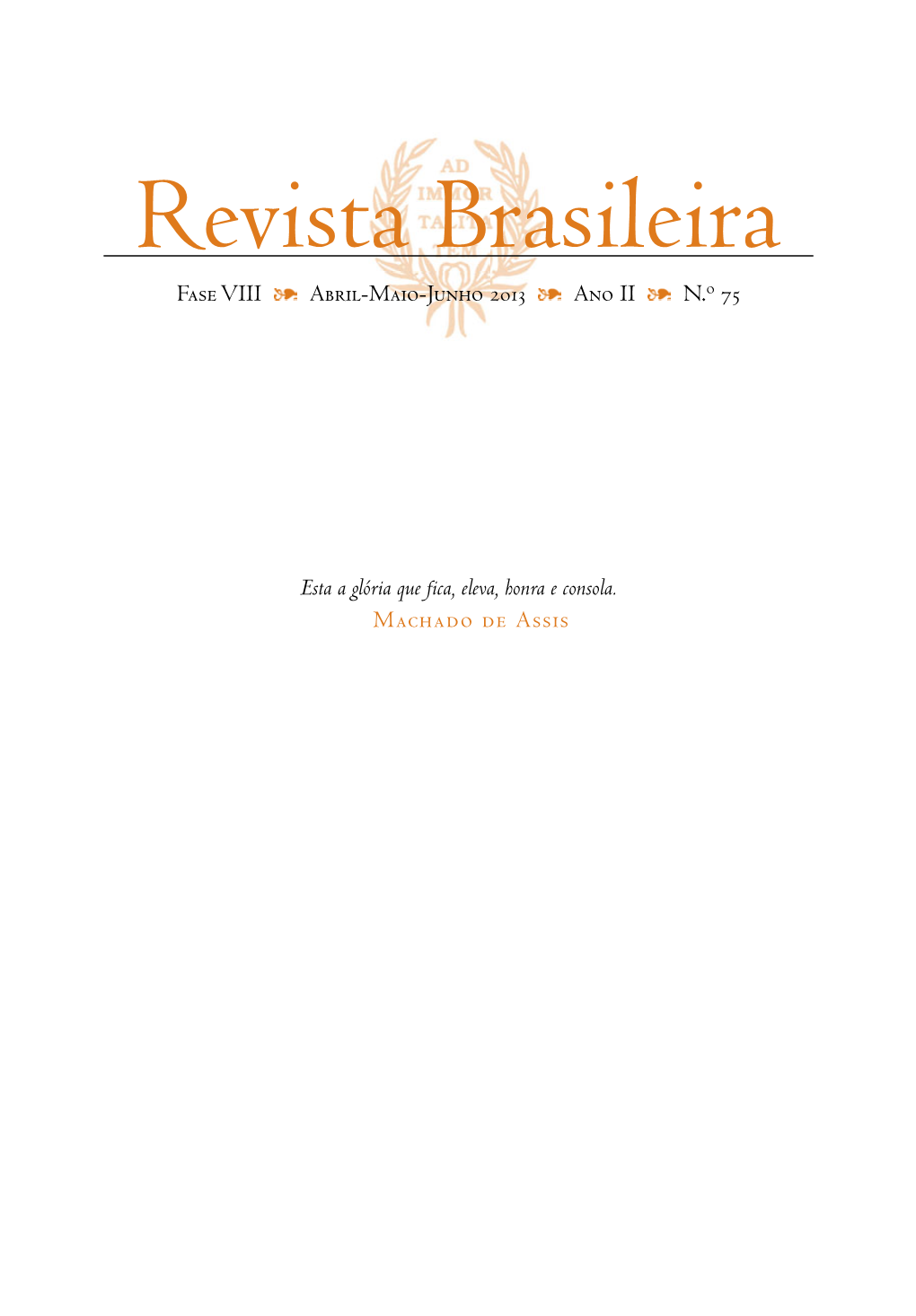
Load more
Recommended publications
-

RACHEL DE QUEIROZ POLÍTICA: Uma Escrita Entre Esquerdas E Direitas No Brasil (1910-1964)
RACHEL DE QUEIROZ POLÍTICA: uma escrita entre esquerdas e direitas no Brasil (1910-1964) Natália de Santanna Guerellus (*) Resumo O presente artigo procura traçar em poucas páginas uma biografia intelectual da escritora brasileira Rachel de Queiroz (1910-2003), da militância comunista até a defesa do golpe de 1964. O objetivo é melhor compreender a polêmica história política do Brasil contemporâneo através da trajetória original desta escritora brasileira. Palavras chave: História do Brasil Contemporâneo. Política. Biografia Intelectual. Golpe de Estado. Rachel de Queiroz. RACHEL POLICY QUEIROZ: written between left and right in Brazil (1910-1964) Abstract This paper builds in a few pages an intellectual biography of the brazilian writer Rachel de Queiroz (1910-2003), from her communist militancy until her defense of the Coup d’État of 1964. The goal is better understand Contemporary Political Brazilian History through the original life of this important brazilian woman writer. Keywords: Contemporary Brazilian History. Politics. Intellectual Biographie. Coup d’État, Rachel de Queiroz. “ O melhor é pôr os pingos nos is ”1 No ano de 2014, a discussão sobre o “aniversário” de cinqüenta anos do golpe de 1964 dominou a produção historiográfica brasileira. Já no começo do ano, livrarias enchiam suas prateleiras com volumes e coleções sobre o tema. Muitos pesquisadores de instituições e universidades públicas e privadas também aproveitaram para publicar suas versões ou críticas sobre o fatídico ano e seu controverso movimento. O presente artigo é resultado de uma pesquisa que partiu da mesma discussão, mas não para se debruçar exclusivamente sobre o golpe. Ao contrário, o trabalho consistiu na análise (*) École des Hautes Études em Sciences Sociales (Paris) França. -

Brasil [email protected] ASIL
SALVADOR SEXTA-FEIRA 8/11/2013 B7 Editora-coordenadora PROTESTOS Governos criarão comitê para definir Hilcélia Falcão aÇãoantivandalismo www.atarde.com.br/brasil [email protected] ASIL Marcos de Paula/ Estadão Conteúdo IMORTAL Torres ocupará a cadeira 23, Torres nasceu fundada pelo escritor Machado de Assis em Sátiro Dias, onde despertou Baiano é eleito para a leitura para Academia VERENA PARANHOS Antônio Torres nasceu no pe- queno povoado de Junco (ho- je a cidade de Sátiro Dias), no Brasileira interior da Bahia, em 13 de setembrode 1940. Seu inte- resse pela leitura foidesper- tado ainda na escola rural do lugarejo. de Letras Ele começou a carreira co- mo jornalista e depois passou aatuarcomopublicitário. Seu ROBERTA PENNAFORT primeiro livro, Um cão Uivan- Estadão Conteúdo, Rio FAVORITO NA DISPUTA do para a Lua, foi lançado em 1972. Essa Terra (1976), sua Depois de duas tentativas Favorito na disputa, Torres obrademaiorsucesso,estána frustradas, oescritor baiano derrotou cinco candidatos 25ª edição e tem como temá- Antônio Torres foi eleito nes- que não tinham cabos ticaprincipalaquestãodami- ta quinta-feira, com 34 votos, eleitorais: Blasco Peres gração interna. para a Academia Brasileira de Rêgo, Eloi Angelos Ghio, letras. José William Vavruk, Condecorado O novo imortal ocupará a Felisbelo da Silva e Wilson Oescritorfoicondecoradope- cadeira 23, fundada pelo pri- Roberto de Carvalho de lo governo francês, em 1998, meiro-presidentedaABL,Ma- Almeida Antônio Torres festejou a vitória na casa de amigos, em Botafogo, na zona sul do Rio como “Chevalier des Arts et chadodeAssis,ecomtradição des Lettres”, por seus roman- baiana: foi ocupada por Oc- ces publicados na França até távio Mangabeira, Jorge Ama- então (Essa Terra e Um Táxi do e Zélia Gattai antes de per- obra (o mais prestigioso da terceira candidatura à ABL. -

Nise Da Silveira (Notas De Pesquisa)
Contribuições à história intelectual do Brasil republicano Alexandre de Sá Avelar Daniel Barbosa Andrade Faria Mateus Henrique de Faria Pereira (organizadores) 2012 Reitor | João Luiz Martins Vice-Reitor | Antenor Rodrigues Barbosa Junior Diretor-Presidente | Gustavo Henrique Bianco de Souza Assessor Especial | Alvimar Ambrósio CONSELHO EDITORIAL Adalgimar Gomes Gonçalves André Barros Cota Elza Conceição de Oliveira Sebastião Fábio Faversani Gilbert Cardoso Bouyer Gilson Ianinni Gustavo Henrique Bianco de Souza Carla Mercês da Rocha Jatobá Ferreira Hildeberto Caldas de Sousa Leonardo Barbosa Godefroid Rinaldo Cardoso dos Santos Coordenador | Valdei Lopes de Araújo Vice-Coordenadora | Cláudia Maria das Graças Chaves Editor geral | Fábio Duarte Joly Núcleo Editorial | Núcleo de Estudos em História da Historiografia e Modernidade Editora | Helena Miranda Mollo CONSELHO EDITORIAL Luisa Rauter Pereira (UFOP) Valdei Lopes de Araújo (UFOP) Helena Miranda Mollo (UFOP) Temístocles Cezar (UFRGS) Lucia Paschoal Guimarães (UERJ) © EDUFOP – PPGHIS-UFOP Projeto Gráfico ACI - UFOP Editoração Eletrônica Fábio Duarte Joly FICHA CATALOGRÁFICA Todos os direitos reservados à Editora UFOP http//:www.ufop.br e-mail : [email protected] Tel.: 31 3559-1463 Telefax.: 31 3559-1255 Centro de Vivência | Sala 03 | Campus Morro do Cruzeiro 35400.000 | Ouro Preto | MG Coleção Seminário Brasileiro de História da Historiografia A coleção Seminário Brasileiro de História da Historiografia vem à luz com seus primeiros títulos, frutos de cinco de seus Simpósios Temáticos acontecidos durante o evento em 2011, o 5SNHH, cujo tema foi a Biografia e História Intelectual. O leitor terá acesso a contribuições que vão das perquirições sobre a história do tempo presente, a história da historiografia religiosa, historiografia da América, historiografia brasileira no Oitocentos e as interfaces entre a história da historiografia e a história das ciências. -

Anais 191.Qxd
1 2 ANO 2006 VOL. 191 ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS JANEIRO A JUNHO DE 2006 RIO DE JANEIRO 3 A C A D E M I A B R A S I L E I R A D E L E T R A S DIRETORIA DE 2006 Presidente: Marcos Vinicios Vilaça Secretário-Geral: Cícero Sandroni Primeira-Secretária: Ana Maria Machado Segundo-Secretário: José Murilo de Carvalho Tesoureiro: Antonio Carlos Secchin Diretor das Bibliotecas: Murilo Melo Filho Diretor do Arquivo: Sergio Paulo Rouanet Diretor dos Anais da ABL: Eduardo Portella Diretor da Revista Brasileira: João de Scantimburgo Diretor das Publicações: Antonio Carlos Secchin ______________ Monique Mendes – Produção editorial / Organização dos Anais da ABL Revisão – Paulo Teixeira ______________ Sede da ABL: Av. Presidente Wilson, 203 – 4o andar Castelo – 20030-021 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil Tel.: (0xx21) 3974-2500 / Fax: (0xx21) 2220-6695 Correio eletrônico: [email protected] (Este volume foi editado no 2o semestre de 2007) ISSN 1677-77255 ______________ A Academia Brasileira de Letras não é responsável pelas opiniões manifestadas nos trabalhos assinados em suas publicações. ______________ Capa Victor Burton Editoração eletrônica Maanaim Informática Ltda. 4 SUMÁRIO ANO 06 VOL. 191 1o Semestre Págs. – Sessão do dia 9 de março de 2006............................................................. 9 Termo de comodato entre a ABL e a Prefeitura do Rio de Janeiro.... 16 – Sessão do dia 21 de março de 2006........................................................... 21 Discurso de adeus a Josué Montello – Palavras do Presidente Acadêmico Marcos Vinicios Vilaça........................................................... 24 Sessão de saudade dedicada à memória de Josué Montello .................. 26 – Sessão do dia 23 de março de 2006.......................................................... -

Eurípedes Gomes Da Cruz Junior Aluno Do Curso De Mestrado Em Museologia E Patrimônio Linha 02 – Museologia, Patrimônio Integral E Desenvolvimento
O MUSEU DE IMAGENS DO INCONSCIENTE: das coleções da loucura aos desafios contemporâneos por Eurípedes Gomes da Cruz Junior Aluno do curso de Mestrado em Museologia e Patrimônio Linha 02 – Museologia, Patrimônio Integral e Desenvolvimento Dissertação de Mestrado apresentada à Coordenação do Programa de Pós- Graduação em Museologia e Patrimônio Orientadora: Prof.ª Dr.ª Lena Vania Ribeiro Pinheiro UNIRIO/MAST Rio de Janeiro, Fevereiro de 2009 ii Cruz Junior, Eurípedes Gomes da. C957 O Museu de Imagens do Inconsciente: das coleções da loucura aos desafios contemporâneos / Eurípedes Gomes da Cruz Junior, 2009. xiii, 183f. Orientador: Lena Vania Ribeiro Pinheiro. Dissertação (Mestrado em Museologia e Patrimônio) – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; MAST, Rio de Janeiro, 2009. 1. Museu de Imagens do Inconsciente. 2. Silveira, Nise da, 1905- 1999. 3. Coleções da loucura. 4. Arte e ciência. 5. Patrimônio cultural. 6. Museus – Aspectos sociais. I. Pinheiro, Lena Vania Ribeiro. II. Uni- versidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (2003-). (Centro de Ciências Humanas e Sociais). Mestrado em Museologia e Patrimônio III. Museu de Astronomia e Ciências Afins. IV. Título. CDD – 069.67 iii iv Para o meu pai (in memorian) v AGRADECIMENTOS Agradecimentos podem ser ao mesmo tempo prazeirosos e perigosos. O prazer vem da possibilidade de honrar aqueles que contribuíram, muitas vezes sem noção da dimensão de sua importância, para que um trabalho como este chegue ao seu objetivo. O perigo é o esquecimento que sempre ronda, amplificado pelo cacoete da importância que atribuímos à memória em nossa campo de atuação. A lista a seguir não possui uma hierarquia, ela é puro rizoma. -

I CURATING PUBLICS in BRAZIL: EXPERIMENT, CONSTRUCT, CARE
CURATING PUBLICS IN BRAZIL: EXPERIMENT, CONSTRUCT, CARE by Jessica Gogan BA. in French and Philosophy, Trinity College Dublin, 1989 MPhil. in Textual and Visual Studies, Trinity College Dublin, 1991 Submitted to the Graduate Faculty of the Kenneth P. Dietrich School of Arts and Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Pittsburgh 2016 i UNIVERSITY OF PITTSBURGH DIETRICH SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES This dissertation was presented by Jessica Gogan It was defended on April 13th, 2016 and approved by John Beverley, Distinguished Professor, Hispanic Languages and Literatures Jennifer Josten, Assistant Professor, Art History Barbara McCloskey, Department Chair and Professor, Art History Kirk Savage, Professor, Art History Dissertation Advisor: Terence Smith, Andrew W.Mellon Professor, Art History ii Copyright © by Jessica Gogan 2016 iii CURATING PUBLICS IN BRAZIL: EXPERIMENT, CONSTRUCT, CARE Jessica Gogan, MPhil/PhD University of Pittsburgh, 2016 Grounded in case studies at the nexus of socially engaged art, curatorship and education, each anchored in a Brazilian art institution and framework/practice pairing – lab/experiment, school/construct, clinic/care – this dissertation explores the artist-work-public relation as a complex and generative site requiring multifaceted and complicit curatorial approaches. Lab/experiment explores the mythic participatory happenings Domingos da Criação (Creation Sundays) organized by Frederico Morais at the Museum of Modern Art, Rio de Janeiro in 1971 at the height of the military dictatorship and their legacy via the minor work of the Experimental Nucleus of Education and Art (2010 – 2013). School/construct examines modalities of social learning via the 8th Mercosul Biennial Ensaios de Geopoetica (Geopoetic Essays), 2011. -

Mulheres Pioneiras: Elas Fizeram História
Centro Cultural Câmara dos Deputados elas fizeram história mulheres Secretaria de Comunicação Social mulheres pioneiras pelaiso fizneraem ihrisatórsia FRENTE mulheres pioneiras elas fizeram história UMA HISTÓRIA NO FEMININO “Toda a História das mulheres foi escrita pelos homens”. (Simone de Beauvoir) Apesar de História ser um vocábulo feminino, sua escrita reserva pouco espaço para a atuação das mulheres. Durante muito tempo a história oficial, consagrada nos livros e reproduzida em sala de aula, deu prioridade ao espaço público onde emergia a figura dos heróis nacionais, quase que exclusivamente homens. Como a esfera pública era um espaço negado às mulheres, elas foram alijadas, silenciadas e até mesmo omitidas pela historiografia tradicional. A Exposição MULHERES PIONEIRAS: ELAS FIZERAM HISTÓRIA pretende evidenciar que, ao contrário do que apregoa a história oficial, muitas mulheres lutaram por seus direitos de cidadania, por sua emancipação e, a duras penas, conseguiram ocupar, paulatinamente, vários espaços da sociedade. Neste sentido, resgata-se a participação e a presença das mulheres no âmbito da política – um espaço de poder historicamente ocupado por homens, bem como em outras instâncias sociais, destacando-se o papel pioneiro de algumas delas. Especial destaque será dado à atuação das sufragistas que lutaram pela conquista do voto, que ousaram se candidatar e que ocuparam cargos no poder público, abrindo novos caminhos para as mulheres brasileiras. Também destacam-se mulheres que foram incompreendidas pela sociedade, por pensarem diferente dos padrões sociais estabelecidos, ou seja, elas estavam à frente de seu tempo. Como o mundo feminino estava associado ao “sexo frágil”, a história oficial omite muitas vezes as mulheres que participaram em guerras, revoltas e conflitos armados. -

Liberdade, Afetividade E Atividade: O Tripé Terapêutico De Nise Da Silveira No Discurso Dos Integrantes Do Núcleo De Criação E Pesquisa Sapos E Afogados
PATRÍCIA FONSECA DE OLIVEIRA LIBERDADE, AFETIVIDADE E ATIVIDADE: O TRIPÉ TERAPÊUTICO DE NISE DA SILVEIRA NO DISCURSO DOS INTEGRANTES DO NÚCLEO DE CRIAÇÃO E PESQUISA SAPOS E AFOGADOS São João del-Rei PPGPSI-UFSJ 2012 PATRÍCIA FONSECA DE OLIVEIRA LIBERDADE, AFETIVIDADE E ATIVIDADE: O TRIPÉ TERAPÊUTICO DE NISE DA SILVEIRA NO DISCURSO DOS INTEGRANTES DO NÚCLEO DE CRIAÇÃO E PESQUISA SAPOS E AFOGADOS Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Psicologia. Área de Concentração: Psicologia. Linha de Pesquisa: Processos Psicossociais e Sócio- educativos. Orientador: Professor Walter Melo Júnior Co-orientadora: Professor Marcos Vieira Silva. São João del-Rei PPGPSI-UFSJ 2012 Desfazer o normal, há de ser uma norma. Manoel de Barros Dedico este trabalho aos integrantes do Núcleo de Criação e Pesquisa Sapos e Afogados. Agradecida pelo imenso carinho e acolhida. AGRADECIMENTO Agradeço a Deus e a todas as energias positivas que recebi enquanto realizava este trabalho. Aos meus pais, José Geraldo e Maria Aparecida, pelo amor e apoio incondicionais. Ao meu irmão Juninho, pelo carinho e amizade. Ao professor Walter, por acreditar em mim e por ter me dado uma grande oportunidade de crescimento profissional. Agradeço também pela liberdade que sempre me proporcionou nos trabalhos que juntos realizamos. Não poderia ter tido melhor orientador, muito obrigada. À professora Marília, pela generosidade em me ajudar a trilhar os caminhos da análise do discurso. Sem essa ajuda o percurso teria sido muito difícil. E por participar da banca de defesa. -

Cleonice Berardinelli Figuras Da Lusofonia
Figuras da Lusofonia Cleonice Berardinelli Figuras da Lusofonia Organizador Izabel Margato Edição Instituto Camões Design Gráfico atelier Nuno Vale Cardoso + Nina Barreiros Pré-impressão e impressão Text y pe Tiragem 1000 exemplares 1ª edição Lisboa, 2002 Depósito Legal 181 628/02 ISBN 972-566-231 Figuras da Lusofonia Cleonice Berardinelli organização Izabel Margato 2002 Índice 6 Jorge Couto Prefácio 9 Izabel Margato Introdução 15 Cleonice Berardinelli Gratidão 18 Aníbal Pinto Castro Cleonice, Mestra da Universidade Luso-Brasileira 27 Luciana Stegagno Picchio Uma Ilha para Cleonice 34 Liliana Bastos Cleonice Berardinelli 38 Jorge Fernandes da Silveira Adeus às Armas 54 Eduardo Lourenço A Musa de Antero ou Antero e Eros 63 Maria Vitalina Leal de Matos O “Correlativo Objectivo” de T. S. Eliot e a sua Versão Pessoana (Digressões) 71 Tereza Cristina Cerdeira da Silva O Delfim ou “O Ano Passado na Gafeira” 78 Vilma Arêas “Honra e Paixão” versus “Passion et Vertu” 84 Helder Macedo Os Maias e a Veracidade da Inverosimilhança 90 Laura Padilha Sinos e Lembranças: Ecos de Dois Romances Angolanos Finisseculares 102 Lélia Parreira Duarte Alves & Cia, de Eça de Queirós, e Amor & Cia., de Helvécio Ratton 109 Maria Fernanda Abreu Mulata e Histérica: um Retrato Brasileiro de Carlos Malheiro Dias 118 Eneida Leal da Cunha Tornar-se Lusófono. História e Contemporaneidade 126 Renato Cordeiro Gomes Que Faremos com esta Tradição? Ou: Relíquias da Casa Velha 142 Ronaldo Menegaz Na Derrota de As Naus, de António Lobo Antunes, a Imagem de um Velho Portugal 150 Izabel Margato A Lisboa de José Cardoso Pires: o Percurso que Interroga os Relatos de Fundação 158 Benjamin Abdala Jr. -

Revista Brasileira 79
Revista Brasileira Fase VIII Abril-Maio-Junho 2014 Ano III N.o 79 Esta a glória que fica, eleva, honra e consola. Machado de Assis ACADEMIA BRASILEIRA REVISTA BRASILEIRA DE LETRAS 2014 Diretoria Diretor Presidente: Geraldo Holanda Cavalcanti Marco Lucchesi Secretário-Geral: Domício Proença Filho Conselho Editorial Primeiro-Secretário: Antonio Carlos Secchin Arnaldo Niskier Segundo-Secretário: Merval Pereira Merval Pereira Tesoureira: Rosiska Darcy de Oliveira Murilo Melo Filho Comissão de Publicações Membros efetivos Alfredo Bosi Affonso Arinos de Mello Franco, Antonio Carlos Secchin Alberto da Costa e Silva, Alberto Ivan Junqueira Venancio Filho, Alfredo Bosi, Ana Maria Machado, Antonio Carlos Produção editorial Secchin, Antônio Torres, Ariano Suassuna, Monique Cordeiro Figueiredo Mendes Arnaldo Niskier, Candido Mendes de Revisão Almeida, Carlos Heitor Cony, Carlos Nejar, Vania Maria da Cunha Martins Santos Celso Lafer, Cícero Sandroni, Cleonice Paulo Teixeira Pinto Filho, João Luiz Serôa da Motta Berardinelli, Domício Lisboa Pacheco, Sandra Pássaro, Proença Filho, Eduardo Portella, Evanildo José Bernardino Cotta Cavalcante Bechara, Evaristo de Moraes Projeto gráfico Filho, Fernando Henrique Cardoso, Victor Burton Geraldo Holanda Cavalcanti, Helio Editoração eletrônica Jaguaribe, Ivan Junqueira, Ivo Pitanguy, Estúdio Castellani João Ubaldo Ribeiro, José Murilo de ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS Carvalho, José Sarney, Lygia Fagundes Av. Presidente Wilson, 203 – 4.o andar Telles, Marco Lucchesi, Marco Maciel, Rio de Janeiro – RJ – CEP 20030-021 Marcos Vinicios Vilaça, Merval Pereira, Telefones: Geral: (0xx21) 3974-2500 Murilo Melo Filho, Nélida Piñon, Setor de Publicações: (0xx21) 3974-2525 Nelson Pereira dos Santos, Paulo Coelho, Fax: (0xx21) 2220-6695 Rosiska Darcy de Oliveira, Sábato Magaldi, E-mail: [email protected] Sergio Paulo Rouanet, Tarcísio Padilha. -

Revista Brasileira
Revista Brasileira o Fase VII Julho-Agosto-Setembro 2004 Ano X N 40 Esta a glória que fica, eleva, honra e consola. Machado de Assis ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS 2004 REVISTA BRASILEIRA Diretoria Presidente: Ivan Junqueira Diretor Secretário-Geral: Evanildo Bechara João de Scantimburgo Primeira-Secretária: Ana Maria Machado Segundo-Secretário: Marcos Vinicius Vilaça Conselho editorial Diretor-Tesoureiro: Cícero Sandroni Miguel Reale, Carlos Nejar, Arnaldo Niskier, Oscar Dias Corrêa Membros efetivos Affonso Arinos de Mello Franco, Produção editorial e Revisão Alberto da Costa e Silva, Alberto Nair Dametto Venancio Filho, Alfredo Bosi, Ana Maria Machado, Antonio Carlos Assistente editorial Secchin, Antonio Olinto, Ariano Frederico de Carvalho Gomes Suassuna, Arnaldo Niskier, Candido Mendes de Almeida, Carlos Heitor Cony, Carlos Nejar, Projeto gráfico Celso Furtado, Cícero Sandroni, Victor Burton Eduardo Portella, Evanildo Cavalcante Bechara, Evaristo de Moraes Filho, Editoração eletrônica Pe. Fernando Bastos de Ávila, Estúdio Castellani Ivan Junqueira, Ivo Pitanguy, João de Scantimburgo, João Ubaldo ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS Ribeiro, José Murilo de Carvalho, Av. Presidente Wilson, 203 – 4o andar José Sarney, Josué Montello, Lêdo Ivo, Rio de Janeiro – RJ – CEP 20030-021 Lygia Fagundes Telles, Marco Maciel, Telefones: Geral: (0xx21) 3974-2500 Marcos Vinicios Vilaça, Miguel Reale, Setor de Publicações: (0xx21) 3974-2525 Moacyr Scliar, Murilo Melo Filho, Fax: (0xx21) 2220.6695 Nélida Piñon, Oscar Dias Corrêa, E-mail: [email protected] Paulo Coelho, Sábato Magaldi, Sergio site: http://www.academia.org.br Corrêa da Costa, Sergio Paulo Rouanet, Tarcísio Padilha, Zélia Gattai. As colaborações são solicitadas. Sumário Editorial . 5 CICLO ORIGENS DA ACADEMIA ALBERTO VENANCIO FILHO Lúcio de Mendonça, o fundador da Academia Brasileira de Letras. -

Relatorio 2010.Pdf
ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL 2010 Academia Brasileira de Letras Diretoria 2010 Presidente Marcos Vinicios Vilaça Secretária-Geral Ana Maria Machado Primeiro-Secretário Domício Proença Filho Segundo-Secretário Luiz Paulo Horta Tesoureiro Murilo Melo Filho APRESENTAÇÃO Em 2010, a Academia Brasileira de Letras comemorou o centenário de nascimento de quatro acadêmicos: Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Carlos Chagas Filho, Miguel Reale e Rachel de Queiroz, insuflando vitalidade que se espraiou nas diversas atividades desta Casa: conferências, colóquios, mesas-redondas, seminários, exposições, concertos, shows, leituras dramatizadas, peças teatrais, filmes, concursos literários, premiações, publicações e merendas acadêmicas. Imbuída da pulsação do presente, a Academia não se olvida do passado, cultuando-o, não como tempo estéril, mas como fonte de sabedoria potencialmente atualizável. Atestam essa reverência as homenagens ao centenário de morte de Joaquim Nabuco, que, além de fundador desta instituição, desenvolveu sólida carreira na política, na diplomacia e nas letras, enobrecendo o Brasil aos olhos nacionais e estrangeiros. Também se prestaram condolências aos saudosos Confrades José Mindlin e José Saramago, para os quais, ao contrário do homônimo personagem drummondiano, a Academia nunca deixará a festa acabar. Se o José brasileiro ainda vive na sua magnânima biblioteca, o português renasce na sua vultosa obra. Ao primeiro sucedeu na Cadeira 31 o Embaixador Geraldo Holanda Cavalcanti, recebido pelo Acadêmico Eduardo Portella; ao segundo, o historiador inglês Leslie Bethell, eleito para a Cadeira 16 de nossos sócios correspondentes. Lamentamos também a morte do Acadêmico Padre Fernando Bastos de Ávila, falecido em 6 de novembro. Ainda no processo sucessório, tomou posse a Professora Cleonice Berardinelli, na Cadeira 8, antes ocupada pelo Acadêmico Antonio Olinto, sendo recebida pelo Acadêmico e ex-aluno Affonso Arinos de Mello Franco.