O Fluir-Ricorso E Os Tempos De Finnegans Wake
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Psychological Study in James Joyce's Dubliners and VS
International Conference on Shifting Paradigms in Subaltern Literature A Psychological Study in James Joyce’s Dubliners and V. S. Naipaul’s Milguel Street: A Comparative Study Dr.M.Subbiah OPEN ACCESS Director / Professor of English, BSET, Bangalore Volume : 6 James Joyce and [V]idiadhar [S] Urajprasad Naipaul are two great expatriate writers of modern times. Expatriate experience provides Special Issue : 1 creative urges to produce works of art of great power to these writers. A comparison of James Joyce and V.S. Naipaul identifies Month : September striking similarities as well as difference in perspective through the organization of narrative, the perception of individual and collective Year: 2018 Endeavour. James Joyce and V.S. Naipaul are concerned with the lives of ISSN: 2320-2645 mankind. In all their works, they write about the same thing, Joyce write great works such as Dubliners, an early part of great work, Impact Factor: 4.110 and Finnegans Wake, in which he returns to the matter of Dubliners. Similarly, Naipaul has written so many works but in his Miguel Citation: Street, he anticipated the latest autobiographical sketch Magic Seeds Subbiah, M. “A returns to the matter of Miguel Street an autobiographical fiction Psychological Study in about the life of the writer and his society. James Joyce’s Dubliners James Joyce and V.S. Naipaul are, by their own confession, and V.S.Naipaul’s committed to the people they write about. They are committed to the Milguel Street: A emergence of a new society free from external intrusion. Joyce wrote Comparative Study.” many stories defending the artistic integrity of Dubliners. -

Of Finnegans Wake
University of Mississippi eGrove Electronic Theses and Dissertations Graduate School 2013 Pedagogy And Identity In "The Night Lessons" Of Finnegans Wake Zachary Paul Smola University of Mississippi Follow this and additional works at: https://egrove.olemiss.edu/etd Part of the Literature in English, British Isles Commons Recommended Citation Smola, Zachary Paul, "Pedagogy And Identity In "The Night Lessons" Of Finnegans Wake" (2013). Electronic Theses and Dissertations. 541. https://egrove.olemiss.edu/etd/541 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at eGrove. It has been accepted for inclusion in Electronic Theses and Dissertations by an authorized administrator of eGrove. For more information, please contact [email protected]. ! PEDAGOGY AND IDENTITY IN “THE NIGHT LESSONS” OF FINNEGANS WAKE A Thesis Presented for the Master of Arts Degree in the Department of English The University of Mississippi ZACHARY P. SMOLA May 2013 ! ! Copyright © 2013 by Zachary P. Smola All rights reserved ! ABSTRACT This thesis explores chapter II.ii of James Joyce’s Finnegans Wake (1939)—commonly called “The Night Lessons”—and its peculiar use of the conventions of the textbook as a form. In the midst of the Wake’s abstraction, Joyce uses the textbook to undertake a rigorous exploration of epistemology and education. By looking at the specific expectations of and ambitions for textbooks in 19th century Irish national schools, this thesis aims to provide a more specific historical context for what textbooks might mean as they appear in Finnegans Wake. As instruments of cultural conditioning, Irish textbooks were fraught with tension arising from their investment in shaping religious and political identity. -

A Shorter Finnegans Wake Ed. Anthony Burgess
Warning Concerning Copyright Restrictions The Copyright Law of the United States (Title 17, United States Code) governs the making of photocopies or other reproductions of copyrighted materials. Under certain conditions specified in the law, libraries and archives are authorized to furnish a photocopy or other reproduction. One of these specified conditions is that the photocopy or reproduction is not to be used for any purpose other than private study, scholarship, or research. If electronic transmission of reserve material is used for purposes in excess of what constitutes "fair use," that user may be liable for copyright infringement. A SHORTER FINNE GANS WAKE ]AMES]OYCE EDITED BY ANTHONY BURGESS NEW YORK THE VIKING PRESS "<) I \J I Foreword ASKED to name the twenty prose-works of the twentieth century most likely to survive into the twenty-first, many informed book-lovers would feel constrained to· include James Joyce's Ulysses and Finnegans Wake. I say "constrained" advisedly, because the choice of these two would rarely be as spontaneous as the choice of, say, Proust's masterpiece or a novel by D. H. Lawrence or Thomas Mann. Ulysses and Finnegans Wake are highly idiosyncratic and "difficult" books, admired more often than read, when read rarely read through to the end, when read through to the end not often fully, or even partially, under stood. This, of course, is especially t-rue of Finnegans Wake. And yet there are people who not only claim to understand a great deal of these books but affirm great love for them-love of an intensity more commonly accorded to Shakespeare or Jane Austen or Dickens. -

Finnegans Wake at 80 11–13 April 2019, Trinity College Dublin
Finnegans Wake at 80 11–13 April 2019, Trinity College Dublin Preliminary Programme (draft 2.0, 17/1/19) Wednesday 10 April 6:00: Welcome drinks (tba) Thursday 11 April 9:30–10:30: Plenary 1 (Neill Lecture Theatre, Long Room Hub) Chrissie Van Mierlo (Erewash Museum and Nottingham University, UK): Shaun at 80 (or 96): Verbivocovisualising Character in Finnegans Wake Chair: Sam Slote (Trinity College Dublin) 10.30–11.00: Coffee (Hoey Ideas Space, Long Room Hub) 11.00–12.30: Panel 1 (Neill Lecture Theatre, Long Room Hub) Talia Abu (Hebrew University of Jerusalem): The Evolution of Festy King’s Guilt Roland McHugh (independent scholar): Knickers in Finnegans Wake James Green (University of Manchester): ‘The Scholar and the Novelist’: Rehistoricizing the Middle Ages with Joyce and Joseph Bédier Wim Van Mierlo (Loughborough University): Revivals at the Wake: James Joyce’s Genealogical Art Chair: Wim Van Mierlo 12.30–1.30: Lunch 1.30–3.00: Panel 2 (Neill Lecture Theatre, Long Room Hub) Richard Barlow (Nanyang Technological University, Singapore): Introduction to a Finnegans Wake Digital Humanities Project Anne Marie D’Arcy (University of Leicester): ‘Postmantuam glasseries from the lapins and the grigs’: Biddy the Hen and the Exegetical Topos of aurum in stercore quaero Vincent Deane (independent scholar): Structure and Motif Revisited Robert Baines (University of Evansville): A Portrait of the Ondt as a Young Man Chair: Robert Baines 3.00–3.30: Coffee (Hoey Ideas Space, Long Room Hub) Waywords and Meansigns (Galbraith Seminar Room, Long Room Hub) An audio-visual installation with interactive elements, exploring Finnegans Wake as music. -

Reimagining the Central Conflict of Joyce's Finnegans Wake
Bard College Bard Digital Commons Senior Projects Fall 2020 Bard Undergraduate Senior Projects Fall 2020 Penman Contra Patriarch: Reimagining the Central Conflict of Joyce's Finnegans Wake Gabriel Beauregard Egset Bard College, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.bard.edu/senproj_f2020 Part of the Literature in English, British Isles Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License. Recommended Citation Egset, Gabriel Beauregard, "Penman Contra Patriarch: Reimagining the Central Conflict of Joyce's Finnegans Wake" (2020). Senior Projects Fall 2020. 9. https://digitalcommons.bard.edu/senproj_f2020/9 This Open Access is brought to you for free and open access by the Bard Undergraduate Senior Projects at Bard Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Senior Projects Fall 2020 by an authorized administrator of Bard Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. Penman Contra Patriarch Reimagining the Central Conflict of Joyce’s Finnegans Wake Senior Project Submitted to The Division of Languages and Literature of Bard College by Gabriel Egset Annandale-on-Hudson, New York December 2020 Egset 2 To my bestefar Ola Egset, we miss you dearly Egset 3 Table of Contents Acknowledgements……………………………………………………………………………………………………4 Introduction……………………………………………………………………………………………………………….5 The Illustrated Penman…………………………………………………………………………………..................8 Spatial and Temporal Flesh: The Giant’s Chronotope………………………………………………….16 Cyclical Time: The Great Equalizer…………………………………………………………………………….21 The Gendered Wake Part I: Fertile Femininity…………………………………………………………...34 The Gendered Wake Part II: Sterile Masculinity…………………………………………………………39 Works Cited……………………………………………………………………………………………………………..54 Egset 4 Acknowledgements To my parents for their unconditional support: I love you both to the moon and back. -

A Dream Before the Dawn of the Digital Age? Finnegans Wake, Media, and Communications
A Dream Before the Dawn of the Digital Age? Finnegans Wake, Media, and Communications The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Shen, Emily. 2020. A Dream Before the Dawn of the Digital Age? Finnegans Wake, Media, and Communications. Bachelor's thesis, Harvard University Engineering and Applied Sciences. Citable link https://nrs.harvard.edu/URN-3:HUL.INSTREPOS:37367286 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA A DREAM BEFORE THE DAWN OF THE DIGITAL AGE? FINNEGANS WAKE, MEDIA, AND COMMUNICATIONS by Emily Shen Presented to the Committee on Degrees in History and Literature and the Department of Computer Science in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Bachelor of Arts with Honors Harvard College Cambridge, Massachusetts October 29, 2020 Word Count: 19,741 TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION .............................................................................................................. 1 Writing Finnegans Wake ........................................................................................................... 4 The Emergence of Information Theory ................................................................................... 8 Finnegans Wake as Medium and Message ............................................................................ -

Music in Dubliners
Colby Quarterly Volume 28 Issue 1 March Article 4 March 1992 Music in Dubliners Robert Haas Follow this and additional works at: https://digitalcommons.colby.edu/cq Recommended Citation Colby Quarterly, Volume 28, no.1, March 1992, p.19-33 This Article is brought to you for free and open access by Digital Commons @ Colby. It has been accepted for inclusion in Colby Quarterly by an authorized editor of Digital Commons @ Colby. Haas: Music in Dubliners Music in Dubliners by ROB ERTHAAS AM ES JOY e E was a musician before he ever became a writer. 1 He learned music as a child~ perfonned it for his family, friends~ and the public as a young Jman, and loved the arthis whole life long. The books ofHodgart and Worthington and of Bowen have traced how deeply and pervasively its role is felt throughout Joyce's fiction. 2 The great novels ofhis maturity, Ulysses and Finnegans Wake. contain more than a thousand musical episodes, incidents, and allusions. If Joyce's early fiction has less than this profusion~ it is perhaps simply because at the time he was not yet so bold an experimenter in literary style. The early works were~ nevertheless, produced by a man who was actively studying music, who was near his peak as a musical performer, and who still at times contemplated making music his life ~s career. When Joyce introduces music in his writing~ it is with the authority and significance ofan expert; and it is surely worth OUf while as readers to attend to it. In the present essay I would like to focus on the music inJoyce's early volume ofshort stories, Dubliners. -

Finnegans Wake and the Art of Punishing the English Language
Papers on Joyce 16 (2010): 49-66 Finnegans Wake and the Art of Punishing the English Language MÁRCIA LEMOS Abstract If puns were once used by the English nonsense writers Edward Lear and Lewis Carroll to bring smiles and laughter both to children and adults, their intrinsically subversive nature made them also an appealing tool (or weapon) to Irish writers such as James Joyce or Samuel Beckett. In this paper, I discuss the ambivalence of puns through the investigation of their presence and purposes in Finnegans Wake, Joyce‟s last and most controversial work. This paper specifically argues that a pun can sometimes become a punishment and that Joyce‟s radical re-creation of English in the Wake is the best example of it. Keywords: nonsense literature, language usage, Finnegans Wake, Edward Lear, Lewis Caroll, Samuel Beckett. In establishing usage, grammar makes valid and invalid divisions. For example, it divides verbs into transitive and intransitive. But a man who knows how to say what he says must sometimes make a transitive verb intransitive so as to photograph what he feels instead of seeing it in the dark, like the common lot of human animals. If I want to say I exist, I‟ll say, „I am‟. If I want to say I exist as a separate entity, I‟ll say, „I am myself‟. But if I want to say I exist as an entity that addresses and acts on itself, exercising the divine FINNEGANS WAKE AND THE ART OF PUNISHING THE ENGLISH LANGUAGE function of self-creation, then I‟ll make to be into a transitive verb. -

Diasporic Joyce
DIASPORIC JOYCE THE 2017 NORTH AMERICAN JAMES JOYCE CONFERENCE VICTORIA COLLEGE, UNIVERSITY OF TORONTO JUNE 21-25, 2017 ACKNOWLEDGEMENTS We are grateful to Victoria College in the University of Toronto and to the Social Sciences and Humanities Research Council for their very generous support of this conference. Our thanks also to the Graduate Program in Comparative Literature, the Department of English at the Scarborough campus, and the Department of English at the St. George campus, University of Toronto. WELCOME! Welcome! Twenty years ago, we (Jennifer Levine and Garry Leonard) or- ganized the North American conference here in Toronto and on this same site: Victoria College at the University of Toronto. We are delighted to see a few of you back again, and a great deal more of you here for the first time. For some of you June 1997 marked the beginning or mid-point of your career, for some others of you it is not far from the year of your birth. Social media is perhaps the biggest change over the past twenty years and yet, despite that, the importance of personal contact, of friendships and mutual support are, if anything, even more important. In a world where, it seems, everything is available, everywhere, all the time, friendship and collegiality remain a vital form of encouragement. To the emerging scholars among us, let us reassure you: you are most wel- come to all of us who have been at this for awhile. And to our more sea- soned colleagues, remember those early days, as we do, where estab- lished scholars took the time to listen to our ideas in such a way we felt supported for what we were doing, even as we felt challenged to take it to the next level. -
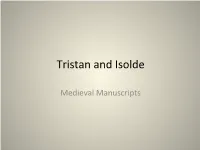
Tristan and Isolde
Tristan and Isolde Medieval Manuscripts Tristan and Isolde Sources and Texts Béroul, The Romance of Tristran • End 12th century; courtly vs. primitive versions; incremental repetition of trials and ordeals • Tristan defeats Irish giant Morholt who had demanded Cornish youths as tribute, with fragment of his sword remaining in Morholt’s skull • Goes to Ireland to bring Uncle Mark a wife; kills a dragon but overcome by poison; healed by Yseut, Morholt’s niece • Drink the magic potion on way back from Ireland to Cornwall; Brangain takes Yseut’s place in the marriage bed to conceal Yseut’s loss of virginity • Dwarf instructs Mark to hide in tree overlooking trysting place of Tristran and Yseut, but she sees his reflection in the fountain, and they trick him; Tristran reconciled with Mark • Dwarf lays trap with flour on the floor; Tristran wounded by boar leaves blood on Yseut’s bed; caught by the Barons and bonfire prepared for Tristran after imprisoning Yseut • Tristran stops at Chapel and jumps out the Chancel window to the beach and caught by a rock called “Tristran’s Leap”; Governal brings him his sword • Yseut on funeral pyre given to crowd of lepers, who take her away to where Tristran hiding along the path, and Governal rescues her after attacking the Leper; • Live a long time in the forest, while dwarf who reveals the secret of King Mark’s equine ears is beheaded • Tristran’s dog Husdent released and Barons follow as far as the forest of Morrois, which none dare enter, until one of the Barons enters the woods while hunting a stag, -

Faber & Faber, 1975
James Joyce Finnegans Wake FABER & FABER, 1975 James Joyce Finnegans Wake FABER & FABER, 1975 I riverrun, past Eve and Adam’s, from swerve of shore to bend of bay, brings us by a commodius vicus of recirculation back to Howth Castle and Environs. Sir Tristram, violer d’amores, fr’over the short sea, had passen- core rearrived from North Armorica on this side the scraggy isthmus of Europe Minor to wielderfi ght his penisolate war: nor had topsawyer’s rocks by the stream Oconee exaggerated themselse to Laurens County’s gorgios while they went doublin their mumper all the time: nor avoice from afi re bellowsed mishe mishe to tauftauf thuartpeatrick: not yet, though venissoon after, had a kidscad buttended a bland old isaac: not yet, though all’s fair in vanessy, were sosie sesthers wroth with twone nathandjoe. Rot a peck of pa’s malt had Jhem or Shen brewed by arclight and rory end to the regginbrow was to be seen ringsome on the aquaface. Th e fall (bababadalgharaghtakamminarronnkonnbronntonner- ronntuonnthunntrovarrhounawnskawntoohoohoordenenthur- nuk!) of a once wallstrait oldparr is retaled early in bed and later on life down through all christian minstrelsy. Th e great fall of the off wall entailed at such short notice the pftjschute of Finnegan, erse solid man, that the humptyhillhead of humself prumptly sends an unquiring one well to the west in quest of his tumptytumtoes: and their upturnpikepointandplace is at the knock out in the park where oranges have been laid to rust upon the green since dev- linsfi rst loved livvy. 3 What clashes here of wills gen wonts, oystrygods gaggin fi shy- gods! Brékkek Kékkek Kékkek Kékkek! Kóax Kóax Kóax! Ualu Ualu Ualu! Quaouauh! Where the Baddelaries partisans are still out to mathmaster Malachus Micgranes and the Verdons cata- pelting the camibalistics out of the Whoyteboyce of Hoodie Head. -
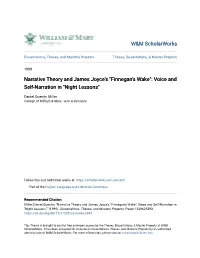
Narrative Theory and James Joyce's "Finnegan's Wake": Voice and Self-Narration in "Night Lessons"
W&M ScholarWorks Dissertations, Theses, and Masters Projects Theses, Dissertations, & Master Projects 1990 Narrative Theory and James Joyce's "Finnegan's Wake": Voice and Self-Narration in "Night Lessons" Daniel Quentin Miller College of William & Mary - Arts & Sciences Follow this and additional works at: https://scholarworks.wm.edu/etd Part of the English Language and Literature Commons Recommended Citation Miller, Daniel Quentin, "Narrative Theory and James Joyce's "Finnegan's Wake": Voice and Self-Narration in "Night Lessons"" (1990). Dissertations, Theses, and Masters Projects. Paper 1539625593. https://dx.doi.org/doi:10.21220/s2-mw3e-e047 This Thesis is brought to you for free and open access by the Theses, Dissertations, & Master Projects at W&M ScholarWorks. It has been accepted for inclusion in Dissertations, Theses, and Masters Projects by an authorized administrator of W&M ScholarWorks. For more information, please contact [email protected]. NARRATIVE THEORY AND JAMES JOYCE'S FINNEGANS WAKE: VOICE AND SELF-NARRATION IN "NIGHT LESSONS" A Thesis Presented to The Faculty of the Department of English The College of William and Mary in Virginia In Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree of Master of Arts by Daniel Quentin Miller 1990 APPROVAL SHEET This thesis is submitted in partial fulfillment the requirements for the degree of MASTER OF ARTS Daniel Quentin Miller Approved, December 1990 J. H. Willis, Jr., Chair Henry Hart Colleen Kennedy ABSTRACT The complexity of voice and the role of the narrator in Joyce's Finnegans Wake present fundamental problems to the reader. To a certain extent, the problems of this unique and difficult narrative can be approached using narrative theory as the basis for a critical method.