Baixar Baixar
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Popmusik Musikgruppe & Musisk Kunstner Listen
Popmusik Musikgruppe & Musisk kunstner Listen Stacy https://da.listvote.com/lists/music/artists/stacy-3503566/albums The Idan Raichel Project https://da.listvote.com/lists/music/artists/the-idan-raichel-project-12406906/albums Mig 21 https://da.listvote.com/lists/music/artists/mig-21-3062747/albums Donna Weiss https://da.listvote.com/lists/music/artists/donna-weiss-17385849/albums Ben Perowsky https://da.listvote.com/lists/music/artists/ben-perowsky-4886285/albums Ainbusk https://da.listvote.com/lists/music/artists/ainbusk-4356543/albums Ratata https://da.listvote.com/lists/music/artists/ratata-3930459/albums Labvēlīgais Tips https://da.listvote.com/lists/music/artists/labv%C4%93l%C4%ABgais-tips-16360974/albums Deane Waretini https://da.listvote.com/lists/music/artists/deane-waretini-5246719/albums Johnny Ruffo https://da.listvote.com/lists/music/artists/johnny-ruffo-23942/albums Tony Scherr https://da.listvote.com/lists/music/artists/tony-scherr-7823360/albums Camille Camille https://da.listvote.com/lists/music/artists/camille-camille-509887/albums Idolerna https://da.listvote.com/lists/music/artists/idolerna-3358323/albums Place on Earth https://da.listvote.com/lists/music/artists/place-on-earth-51568818/albums In-Joy https://da.listvote.com/lists/music/artists/in-joy-6008580/albums Gary Chester https://da.listvote.com/lists/music/artists/gary-chester-5524837/albums Hilde Marie Kjersem https://da.listvote.com/lists/music/artists/hilde-marie-kjersem-15882072/albums Hilde Marie Kjersem https://da.listvote.com/lists/music/artists/hilde-marie-kjersem-15882072/albums -

Estrella Morente Lead Guitarist: José Carbonell "Montoyita"
Dossier de prensa ESTRELLA MORENTE Vocalist: Estrella Morente Lead Guitarist: José Carbonell "Montoyita" Second Guitarist: José Carbonell "Monty" Palmas and Back Up Vocals: Antonio Carbonell, Ángel Gabarre, Enrique Morente Carbonell "Kiki" Percussion: Pedro Gabarre "Popo" Song MADRID TEATROS DEL CANAL – SALA ROJA THURSDAY, JUNE 9TH AT 20:30 MORENTE EN CONCIERTO After her recent appearance at the Palau de la Música in Barcelona following the death of Enrique Morente, Estrella is reappearing in Madrid with a concert that is even more laden with sensitivity if that is possible. She knows she is the worthy heir to her father’s art so now it is no longer Estrella Morente in concert but Morente in Concert. Her voice, difficult to classify, has the gift of deifying any musical register she proposes. Although strongly influenced by her father’s art, Estrella likes to include her own things: fados, coplas, sevillanas, blues, jazz… ESTRELLA can’t be described described with words. Looking at her, listening to her and feeling her is the only way to experience her art in an intimate way. Her voice vibrates between the ethereal and the earthly like a presence that mutates between reality and the beyond. All those who have the chance to spend a while in her company will never forget it for they know they have been part of an inexplicable phenomenon. Tonight she offers us the best of her art. From the subtle simplicity of the festive songs of her childhood to the depths of a yearned-for love. The full panorama of feelings, the entire range of sensations and colours – all the experiences of the woman of today, as well as the woman of long ago, are found in Estrella’s voice. -

O Teatro Adulto Na Cidade De São Paulo Na Década De 1980 / Alexandre Mate
Alexandre Alexandre Mate A seleção do que é exposto no livro é bastante Este livro é resultado de pesquisa e reflexão prodigiosas sobre Conheci Alexandre Mate em 1985, quando estáva- feliz, pois apresenta um aspecto geral do teatro durante mos envolvidos na realização de um trabalho extrema- os anos de 1980, em que cabem tanto as experiências o teatro em São Paulo nos anos de 1980. A elaboração analítica mente difícil e desafiador: apresentar novas propostas radicais de um Gerald Thomas, como os trabalhos mais de um panorama exaustivo da produção comercial produz os curriculares para professores da rede estadual de escolas singelos do chamado “besteirol”. Na amplitude que dis- critérios necessários ao exame da trajetória de dois grupos – do estado de São Paulo, dentro de um órgão pertencen- tancia vivências teatrais quase antagônicas, um ponto em te à Secretaria de Educação denominado Coordenadoria comum: a incompreensão apressada da crítica que reage Teatro União e Olho Vivo e Apoena/Engenho Teatral –, que, por de Estudos e Normas Pedagógicas (Cenp). Ele fazia parte segundo o senso comum, negando-se a reconhecer “o opções ética, política e estética, atuaram à margem do circuito, da equipe de Educação Artística que tentava construir a que não é espelho”. A acertada preocupação do autor proposta para essa disciplina, e eu compunha a equipe de está na questão tanto da acessibilidade do teatro, ou pagando o preço da incompreensão crítica e da invisibilidade História com o mesmo propósito. Estávamos, portanto, seja, a quem ele consegue atingir, bem como daquilo social. Em reviravolta histórica, esses mesmos grupos se torna- em meio àquela que não foi uma “década perdida”. -

THANH INGLE-LAI Artiste Interprète - Réalisatrice
THANH INGLE-LAI Artiste Interprète - Réalisatrice 2 RUE DE SABLONVILLE 75017 PARIS | TÉL : 07.69.19.54.80 – EMAIL : [email protected] SB TALENTS - SASU AU CAPITAL DE 1000€ | RCS PARIS 824 536 957 |APE 7490B ARTISTE INTERPRÈTE CINÉMA 2018 LES PARQUÉS – Charlotte DAUPHIN 2012 ARTICLE 23 – Jean-Pierre DELÉPINE TÉLÉVISION 2016 HÉROÏNES – Audrey ESTROUGO MOYENS MÉTRAGES 2014 SUBORDINATE – Clara LEAC BFI London Film Festival, International Shortfilm Festival Leuven, Palm Springs Festival, Newport Beach Film Festival, Winner of the National Board of Review Student Grant COURTS MÉTRAGES 2017 FAUX CONTACT – Colette BOISIVON 2017 PAUL ET LENA – Vincent RODELLA 2017 HERZOG – Carla CAPLIN 2016 AN ORDINARY STORY – Jing LI Prix de la meilleure actrice (Festival EICAR à la cinémathèque française) – Présidente du jury : Danièle THOMPSON 2016 ÉCLIPSE – Aymeric BAGIC / Lola SAUVAGEOT 2015 EL NINO – Federica GIANNI 2015 PARIS ROUGE – Jordan DURAND 2014 LIMBO – Eléa CLAIR / Olivia GOTANEGRE 2014 MAMAN – Julie COLLY 2014 REPLAY – Morgane DERRIENNIC-LONG 2013 L’HEURE ZÉRO – Ho LAM 2012 L’AUDITION – Mary GILLEN 2012 3 POUR 2 – Colia VRANICI 2012 MON BEAU MIROIR – Flavien LARDERET 2012 RENCARDS – Cyrus ATORY 2012 WALKING – Joel ANDERSON 48hours film project WEB SÉRIES 2014 XIIIème ARRONDISSEMENT – Aliya GRANGE / Fabien QUANG (pilote) 2012 LE PROTOCOLE CHINOIS – Julien FERRAND (pilote) 2 RUE DE SABLONVILLE 75017 PARIS | TÉL : 07.69.19.54.80 – EMAIL : [email protected] SB TALENTS - SASU AU CAPITAL DE 1000€ | RCS PARIS 824 536 957 |APE 7490B THÉÂTRE 2013 -

Frente Liberal Tenta Impugnar a Fidelidade
" /*?*.. ÍV>-. >"-*JfÍ! BIBLIOTECA NÁ-.IOHAL AVV RIO BRANCO 219-39 CENTRO ' ' .-»,.- it Idéias Õ Festival de Nas páginas 2 e 3 do Caderno H, Cinema está no as idéias de Eduardo Portella, An- tonio Carlos Porto Gonçalves, Raul Celso Lins e Silva, José Au- _&s\ Caderno H gusto Assumpção Brito, Luís Pin- guelli Rosa, José Alberto Gueiros e Antônio Carlos Peixoto. E um de- sabafo de Oscar Niemeyer. O Dito (ou escrito) há um ano está na Umma Htfia> página 3. Rio de Janeiro, quinta-feira, 22 de novembro de 1984 Ano 34n? 11.446Cr$W) ^y/ Tempo — O tempo hoje no Rio e em Niterói será nublado ainda sujeito a pancadas de chuvas e Estado trovoadas, com período de melho- rias. Temperatura estável. Ventos de Norte a Frente atrai novas Noroeste fracos a mo- Liberal tenta derados com rajadas ocasionais. Visibilidade moderada. A máxima indústrias de ontem foi de 32.0 graus em Realengo, enquanto a mínima re- Três novos grupos industriais gistrou 17.8 graus no Alto da Boa acertaram ontem a sua instala- Vista. ção em municípios fluminenses impugnar Magé e Nova Igua- a fidelidade (Petrópolis, Vendaval - Moradores da Zo- çu), deslocando seus centros de na operações de outros Estados, Sul foram surpreendidos ontem A Frente "um por forte vendaval, atingiu Liberal já tomou Tribunal Superior Eleitoral. A abrir uma guerra contra par- Neves constitui ultraje" beneficiados incentivos que impugnar lamentares. Vão tentar expul- pelos velocidade de 72 quilômetros/ho- providências para Frente Liberal espera entre- ao Judiciário. Tançredo disse concedidos pelo Governo. Re- ra. Apesar do susto, não houve na Justiça a decisão do Dire- tanto que o TSE se negue a sar apenas pedessistas que que Paulo Maluf está tão per- presentam investimentos de problemas sérios e os bombeiros só tório Nacional do PDS, que registrar o fechamento de não têm mandato, como os dido que não conseguirá lide- Cr$ 11,2 bilhões, recolhimentos foram acionados uma vez, aprovou o fechamento de ex-governadores Antônio para questão. -

On Est Responsable À Jamais De Notre Rose Élyséenne... SOMMAIRE
On est responsable à jamais de notre rose élyséenne... SOMMAIRE Editorial 7 Les professeurs à l’Élysée 8 Honneur à M. Bruno Foucher 13 Portes ouvertes à la maternelle 18 Célébrons l’Indépendance! 19 Une Sainte Barbe riche en variétés 22 Noël 24 Charité et bienveillance 28 On est responsable à jamais Le livre, un ami éternel 32 de ce qu’on apprivoise, Notre univers: Histoire, sciences, culture et exploration 34 chaque élyséen est responsable Bonne fête maman 42 Un voyage hors pair 44 de sa rose éternelle, de ses étoiles qui rient, Recueillement 45 des ses soucis qui pleurent, Pâques 47 de ses épines qui se défendent contre l’injustice Eveil et sensibilisation 48 Apprendre grâce aux jeux 56 et des valeurs qu’elles tentent de pourchasser Records artistiques et culturels 69 dans les étoiles. Compétitions sportives 74 Théâtre et cinéma 80 Former et orienter 82 Les scouts Carmel / Elysée 89 Célébrations, danses et chansons 94 L’école est finie! 99 Bizutage 101 Promo 2019 103 Major de Promotion 2019 116 Photos de classe 117 1 «De toutes vos forces, de toute votre vigueur et de toute votre détermination, écrivez l’histoire nouvelle du nouveau Liban! La nouvelle histoire du Liban, c’est à vous Conception et Réalisation qu’il incombe de l’écrire parce que les ratés, Mme Graziella Chidiac Ikbal Mlle Sahar Moussallem les lâches et les marginaux n’ont pas leur Comité de Rédaction place dans les pages de l’Histoire; parce que Mme Elham Abdelnour Mme Joelle Feghali Kmeid l’Histoire ne retient que les noms des héros, Mlle May Daou Mme Samar Saadeh des savants et des pionniers!» Mme Eliane Khoury Mme Rima Bouhairie Mme Gina Nakhlé Elie Moussallem Comité de Relecture Mme Elham Abdelnour Fondateur du Collège M. -

Baixar PDF Do Vol. VIII, Nº 65, Agosto De 2015
PATROCÍNIO: SUMÁRIO 4 EXPEDIENTE 5 EDITORIAL CRÍTICAS Aula sobre o realismo ideal 8 Crítica da peça Aula Magna com Stálin de David Pownall, encenada por William Pereira Edelcio Mostaço O terno: Peter Brook e o teatro épico 18 Crítica da peça O terno, dirigida por Peter Brook Luciano Gatti Ocupação SozinhosJuntos: Samuel Beckett segundo o Coletivo Irmãos Guimarães 33 Crítica do conjunto de espetáculos intitulado Ocupação SozinhosJuntos, concebido pelo Coletivo Irmãos Guimarães. Luciano Gatti A pulsão rapsódica de Octavio Camargo 59 Crítica do projeto Ilíadahomero Patrick Pessoa Uma trans-dialética 75 Crítica da peça Sexo neutro, direção e dramaturgia de João Cícero Dinah Cesare Overdrive 86 Crítica de Caranguejo Overdrive, dAquela Cia. Mariana Barcelos Laio e Crísipo: a Pop e o esquecimento 98 Crítica da peça Laio e Crísipo, texto de Pedro Kosovski e direção de Marco André Nunes João Cícero Bezerra O trans e a trans: fábula mundo 106 Crítica das peças O homossesxual ou a dificuldade de se expressar e A geladeira Renan Ji 2 Dedando Copi – considerações sobre o cu e o fracasso em O Homossexual ou a 116 dificuldade de se expressar pelo Teatro de Extremos Crítica da peça de Copi encenada por Fabiano de Freitas Caio Riscado O teatro, o cinema e a pintura; a presença, a atenção e a escuta 129 Crítica de Krum, encenação de Marcio Abreu, texto de Hanoch Levin Daniele Avila Small ESTUDOS A missão italiana. Arquivo e representação do legado dos diretores italianos na 143 “renovação” do teatro brasileiro Alessandra Vannucci Sobre Stanislavski. Precisão -

I CURATING PUBLICS in BRAZIL: EXPERIMENT, CONSTRUCT, CARE
CURATING PUBLICS IN BRAZIL: EXPERIMENT, CONSTRUCT, CARE by Jessica Gogan BA. in French and Philosophy, Trinity College Dublin, 1989 MPhil. in Textual and Visual Studies, Trinity College Dublin, 1991 Submitted to the Graduate Faculty of the Kenneth P. Dietrich School of Arts and Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Pittsburgh 2016 i UNIVERSITY OF PITTSBURGH DIETRICH SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES This dissertation was presented by Jessica Gogan It was defended on April 13th, 2016 and approved by John Beverley, Distinguished Professor, Hispanic Languages and Literatures Jennifer Josten, Assistant Professor, Art History Barbara McCloskey, Department Chair and Professor, Art History Kirk Savage, Professor, Art History Dissertation Advisor: Terence Smith, Andrew W.Mellon Professor, Art History ii Copyright © by Jessica Gogan 2016 iii CURATING PUBLICS IN BRAZIL: EXPERIMENT, CONSTRUCT, CARE Jessica Gogan, MPhil/PhD University of Pittsburgh, 2016 Grounded in case studies at the nexus of socially engaged art, curatorship and education, each anchored in a Brazilian art institution and framework/practice pairing – lab/experiment, school/construct, clinic/care – this dissertation explores the artist-work-public relation as a complex and generative site requiring multifaceted and complicit curatorial approaches. Lab/experiment explores the mythic participatory happenings Domingos da Criação (Creation Sundays) organized by Frederico Morais at the Museum of Modern Art, Rio de Janeiro in 1971 at the height of the military dictatorship and their legacy via the minor work of the Experimental Nucleus of Education and Art (2010 – 2013). School/construct examines modalities of social learning via the 8th Mercosul Biennial Ensaios de Geopoetica (Geopoetic Essays), 2011. -

Chanter En Français Et Rencontrer Un Succès International Est-Il Possible ?
Chanter en français et rencontrer un succès international est-il possible ? (article paru dans Langue et Cultures Françaises et Francophones (lcff) de juin 2016, reproduit avec l’autorisation de Mme Florence Teste, directrice de publication, et de l’auteur) La question s’est posée à l’occasion de la soixante-et-unième édition du Concours Eurovision de la chanson qui s’est tenue le samedi 14 mai à Stockholm (Suède). En effet, tous les candidats ont interprété leur chanson avec des paroles en anglais sauf la candidate autrichienne Zoë avec un texte intégralement chanté en français pour le titre Loin d’ici. La France, représentée par le chanteur franco-israélien Amir Haddad, « Amir », avait choisi une chanson bilingue intitulée J’ai cherché. Interprétée sur une musique pop, similaire à celle de la chanteuse autrichienne, il m'a paru intéressant de savoir comment les deux chansons ont été reçues. À l’issue du concours, le représentant français a très largement devancé la candidate autrichienne dans le classement général puisqu’il a terminé sixième contre treizième pour la chanteuse. Lorsqu’on analyse les deux classements qui, additionnés, ont servi à l’établissement du classement général, son avance est encore plus nette pour le classement des points attribués par les jurys nationaux de professionnels : troisième pour Amir contre vingt-quatrième pour la chanteuse autrichienne (sur vingt-six pays participants). Elle a obtenu ses plus grands nombres de points de la part des jurys français et hollandais. Les résultats sont très différents pour l’autre classement établi à partir des points attribués par les téléspectateurs. -

Copyright by Alan Eladio Gómez 2006
Copyright by Alan Eladio Gómez 2006 The Dissertation Committee for Alan Eladio Gómez Certifies that this is the approved version of the following dissertation: “From Below and to the Left”: Re-Imagining the Chicano Movement through the Circulation of Third World Struggles, 1970-1979 Committee: Emilio Zamora, Supervisor Toyin Falola Anne Martinez Harry Cleaver Louis Mendoza “From Below and To the Left”: Re-Imagining the Chicano Movement through the Circulation of Third World Struggles, 1970-1979 by Alan Eladio Gómez, B.A.; M.A. Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of the University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy The University of Texas at Austin August 2006 For the Zarate, González, Gallegos, and Gómez families And for my father, Eladio Gómez Well, we’ve had to look at ourselves, we have had to look at our history: actually we have had to define that history because it was never defined by North American historians. Antonia Castañeda Shular, Seattle, 1974 “El mismo enemigo ha querido mutilar, y si posible, hacer desaparecer nuestras culturas, tan parecidas una a la otra, y sin embargo, tanto el Chicano como el Boricua hemos podido salvar nuestra idenitidad cultural…” Rafael Cancel Miranda, Leavenworth Federal Penitentiary, 1972 “Prison is a backyard form of colonialism” raúlrsalinas “Nuestra América” José Martí Por la reunificación de los Pueblos Libres de América en su Lucha el Socialismo. Partido de los Pobres Unido de América (PPUA) “Somos uno porque América es una.” Centro Libre de Expresión Teatral Artística (CLETA) Exploitation and oppression transcend national boundaries and so the success of our resistance will be largely dependent upon our ability to forge strong ties with struggling peoples across the globe. -

P36-40 Layout 1
lifestyle THURSDAY, MAY 12, 2016 Music & Movies Inmate says he’s Prince’s son and heir 39-year-old inmate has said that he is the son of pop icon Prince, seeking a DNA test that could make him Aheir to the late singer’s storied estate. A lawyer for Carlin Q. Williams, who is from Kansas City, lodged an objection to a court filing by Prince’s sister Tyka Nelson who said the singer had no children. Williams is serving a sentence for gun posses- sion in a stolen car and is not due to leave the high-security federal prison in Florence, Colorado until late 2020. His mother, Marsha Henson, submitted a sworn statement saying that she met the singer-whose full name is Prince Rogers Nelson-at a Kansas City hotel in July 1976. The two drank and then he took her to his room at the now defunct Midwest Hotel where they had unprotected sex, she said. The lawyer requested a DNA test to determine whether Prince was the father of Williams. The petition claims that Williams “believes he is or may be the sole surviving legal heir” of the music legend, who died suddenly at age 57 on April 21 without leaving any known will. A 2014 court document on Williams’ sentencing said that he had a troubled childhood and wrote: “His father had no pres- ence at all in his life.” The sentencing memorandum said that Williams had seven half-siblings and that he dropped out of This undated booking photo released by Missouri Prince’s sister Tyka Nelson, center, leaves the Carver County Justice Center in Chaska with her husband Maurice school in 10th grade before being convicted on drug offenses. -
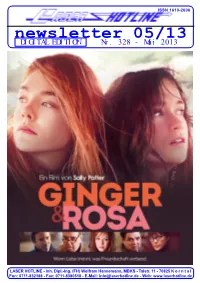
Newsletter 05/13 DIGITAL EDITION Nr
ISSN 1610-2606 ISSN 1610-2606 newsletter 05/13 DIGITAL EDITION Nr. 328 - Mai 2013 Michael J. Fox Christopher Lloyd LASER HOTLINE - Inh. Dipl.-Ing. (FH) Wolfram Hannemann, MBKS - Talstr. 11 - 70825 K o r n t a l Fon: 0711-832188 - Fax: 0711-8380518 - E-Mail: [email protected] - Web: www.laserhotline.de Newsletter 05/13 (Nr. 328) Mai 2013 editorial THE BROKEN CIRCLE: Kino & Konzert im Schauburg Cinerama Theater, Karlsruhe Cast & Crew im Gespräch mit Wolfram Hannemann 5 JAHRE LEBEN: Baden-Württemberg-Premiere mit Cast & Crew Liebe Filmfreundinnen und WIDESCREEN WEEKEND: Filmfreunde! Wolfram Hannemann führt in „Hello, Dolly!“ ein Wann sind Sie das nächste Mal „online“? Es lohnt sich wieder einmal auf unseren Youtube-Kanal zu surfen. Dort gibt es nicht weniger als gleich vier Neuzugänge zu entdecken. Alles natürlich wie immer in Full HD. Wir freuen uns über jeden Klick und jedes „Like“. Also ran an die Tasten und viel Spaß dabei! Noch ein wichtiger Hinweis für alle, die sich schon auf das CinemaScope-Festival in der Karlsruher Schauburg gefreut haben: es findet leider vorerst nicht statt. Der Termin 01./0.2 Juni 2013 ist einer umfassenden Renovierung des Hauses zum Opfer gefallen. Einen Trost gibt es: aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Ihr LASER HOTLINE Team JÄGER DES AUGENBLICKS: Sportkletterer Stefan Glowacz und Holger Heuber im Gespräch mit SWR-Kinomann Herbert Spaich LASER HOTLINE Seite 2 Newsletter 05/13 (Nr. 328) Mai 2013 Star Trek Wars München hat mich wieder. Frisch aus der Schweiz zurück, lasse ich 15•-Kino-Tickets, zweisprachige Untertitel und nerventötende Filmpausen hinter mir. Als erstes ging es in meiner bayerischen Hei- matstadt auch nicht in den Biergarten oder auf den Marienplatz, sondern ins langjährige, heimi- sche Stammkino.