M Direito D MARISSO De Autor, L BARBO , Limites E OSA DE E
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
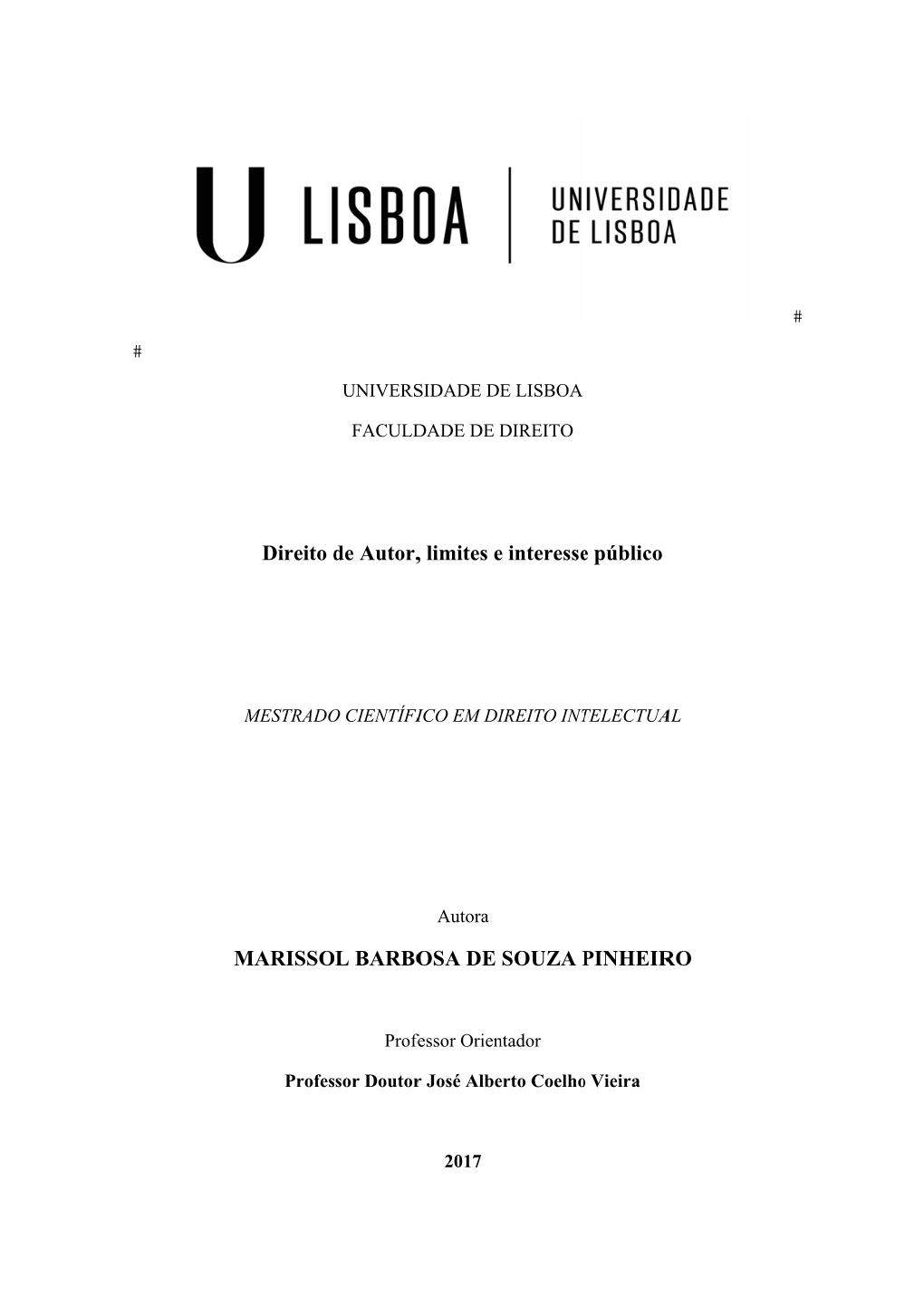
Load more
Recommended publications
-

Recovery and Characterization of an Ancient Bacillus Sphaericus From
Recovery and Characterization of an Ancient Bacillus sphaericus from Dominican Amber Extracção por Solventes O que há de "Novo" na Química Supramolecular O Sexo dos Anjos ou as Maçãs da Ciência Ainda a propósito do Centenário da Morte de Pasteur: Simetria e Quiralidade Moleculares As Técnicas de Reflectância Difusa de Fotólise Pulso de Laser e de Estado Fundamental Publicação trimestral • N." 60 • Janeiro - Março '1996 BOLETIM DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE QUÍMICA Orientação Editorial Química, Boletim da Sociedade Portuguesa de Química, versa todos os assuntos relacionados com a Química, e em particular aqueles que dizem respeito à Química em Portugal. Química publica entrevistas, reportagens, artigos solicitados e propostos, noticiário, recensões de livros e outras publicações e correspondência dos leitores. Nenhum texto será considerado a priori inaceitável, mas é dada preferência a artigos de carácter relativamente geral e escritos de modo a poderem interessar a um vasto leque de leitores. Normas de Colaboração e Instruções para os Autores 1. Enviar três exemplares, dactilo- sentar ilustrações para os seus textos, 6. Em casos especiais, sujeitos à con- grafados a dois espaços, com as pági- até ao máximo de oito por artigo. As cordância da Direcção do Química, as nas numeradas e em formato A4, fórmulas complexas, os esquemas, etc. contribuições poderão ser publicadas endereçados a: Director de Química, deverão ser preparados como ilustra- em inglês, ou noutra língua estrangei- Boletim da SPQ, Av. da República, 37- ções mas não estão incluídos no ra, devendo então conter um resumo 40, 1050 LISBOA. Não enviar os origi- número limite anterior. suplementar em português. nais das eventuais ilustrações. -

A Vida Sexual Da Mulher Feia
A VIDA SEXUAL DA MULHER FEIA De Claudia Tajes Direção Otávio Müller Supervisão Amir Haddad Comédia pop que narra o universo da mulher feia e suas descobertas, revelando que ser feia é tão somente uma questão de espírito Mais informações e fotos em www.opuspromocoes.com.br No espetáculo Otávio Müller dá vida à Maricleide, que goza de uma autocrítica impagável e não perde tempo em se indispor à ditadura da beleza. Com realização da Opus Promoções e Chaim Produções o espetáculo já passou por Fortaleza, dias 11 e 12 de junho, no Teatro RioMar Fortaleza (Fortaleza/CE). Agora segue para Natal, dia 25 de junho, no Teatro Riachuelo (Natal/RN) e Porto Alegre, dias 2 e 3 de julho, no Teatro do Bourbon Country (Porto Alegre/RS). Confira o serviço completo abaixo. Baseado no livro homônimo de Claudia Tajes, sucesso absoluto em vendas, o espetáculo não deixa nenhuma mulher ou homem imune à insegurança da personagem. Afinal, quanto mais se olha no espelho, mais imperfeições aparecem. Com a crueza de um consultório de terapeuta, é possível acompanhar suas aventuras amorosas, primeiro beijo e primeira transa. Em seu livro, Tajes criou uma protagonista sem rosto, não esmiuçou descrições físicas, não impôs uma caracterização isolada. Esse recurso facilita a identificação ampla e abrangente do público. Embarcando no sucesso do livro, o espetáculo agrada a todos – homens e mulheres, feios ou não. Afinal, todo homem já se sentiu o próprio Shrek algum dia e até a princesa mais linda já teve o seu dia de Fiona. Quem nunca esteve acima do peso? Quem nunca se viu apavorado ao constatar os estragos feitos pelos hormônios da adolescência? Ao acompanhar os relatos hilários do diário amoroso da personagem, a identificação é inevitável, o que faz com que a história se torne ainda mais engraçada. -

Viajando Com a Telenovela: O Turismo Ficcional Como Ampliação De Universos Simbólicos E Materiais
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by idUS. Depósito de Investigación Universidad de Sevilla Viajando com a telenovela: o turismo ficcional como ampliação de universos simbólicos e materiais Marcia Perencin Tondato Escola Superior de Propaganda e Marketing - PPGCOM [email protected] Resumen: En la primera década del siglo XXI aumentan en las telenovelas brasileñas las grabaciones en el extranjero, difundiendo nuevos modos de vida, promocionando expectativas de consumo. En Brasil, la estabilidad económica resulta en la ampliación del acceso a bienes materiales. Hago una reflexión sobre estos acontecimientos por la vía de la promoción de los destinos turísticos, en confluencia con las prácticas de consumo y con interés especial en la intersección consumo- medios de comunicación. Analizo las grabaciones en el extranjero en las telenovelas brasileñas de 2000 a 2011. Estas ambientaciones revelan diferentes culturas, ampliando el universo simbólico y material del receptor. Palabras clave: comunicación, consumo, telenovela. Abstract: In the 2000s there is an increase in the quantity of Brazilian telenovelas scenes shot abroad, spreading new ways of life, promoting consumption expectations. In Brazil, economic stabilization enlarges the access to goods and services. Here I develop a discussion on these events from the point of view of promotion of touristic destinies, in the confluence with consumption practices, interested in the intersection consumption-media. I quantify and characterize the Brazilian telenovelas with scenes shot abroad from 2000 to 2011, understanding that these reveal different cultures, extending the symbolic and material universe of the audience. Keywords: communication, consumption, telenovela. -

O Estatuto Da Psicanálise É Místico
revista de uma publicação do estudos . transitivos do ...etc contemporâneo Estudos Transitivos do Contemporâneo TRANZ _____________________________________________________________________________________________________ O Estatuto da psicanálise é místico Sonia Nassim1 O sentido de místico é a ser tomado aí não como um mistério puro, mas como a operação que os místicos sempre nos apresentaram de tentar indiferenciar o mundo, exacerbar-se no movimento desejante para com esse impossível. MD MAGNO Resumo: Partindo do estatuto Místico da psicanálise, tal como concebido por MD Magno, o artigo busca as fontes da Mística em Freud e Lacan. À guisa de exemplo, conclui com o depoimento de dois grandes místicos: mestre Eckhart e Jacob Boheme. Em sua reformatação da psicanálise pela via de Freud e Lacan, MD Magno constitui um axioma (Haver quer Não-Haver) para a psicanálise, do qual decorrem um paradigma e um estatuto. O presente artigo visa esclarecer o Estatuto: do latim statútum “estatuto, regulamento, sentença, aresto”; particípio passado de statuère “pôr, colocar, estabelecer, fixar, constituir” (Houaiss). Em suma: leis, normas e/ou regras que organizam em seu conjunto certo modo de estar no mundo. A Nova Psicanálise, pensa como funciona o aparelho mental para além das descrições dadas por Freud e Lacan. Apesar da herança dos antecessores, ela se configura como um novo aparelho, uma prótese de intervenção no mundo, que tem como referente a exasperação do movimento pulsional, cujo sentido é sua extinção. No entanto, a impossibilidade de extinguir-se, faz a pulsão2 retornar sobre si mesma e 1 Psicanalista. Doutora em Teoria Psicanalítica (UFRJ). 2 Algo que já havia sido esboçado por Freud em Além do Princípio do Prazer, no qual o desejo de morte ou extinção adquire feições de impossibilidade e retorna sobre si Edição 11 – dezembro 2016 – ISSN 1809-8312 – www.tranz.org.br 1 revista de uma publicação do estudos . -

A Figura Do Anjo Na Publicidade SÃO PAULO 2015
TATIANA ANCHIESCHI GOMES MAZZEI Câmbios estéticos de um mito moderno: a figura do anjo na publicidade SÃO PAULO 2015 TATIANA ANCHIESCHI GOMES MAZZEI Câmbios estéticos de um mito moderno: a figura do anjo na publicidade Dissertação apresentada ao Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação na Escola de Comunicações e Artes (ECA/USP) da Universidade de São Paulo, como requisito para obtenção do título de Mestre. Área de concentração: Teoria e Pesquisa em Comunicação Orientador: Prof. Dr. Victor Aquino Gomes Correa. SÃO PAULO 2015 2 Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. Catalogaca̧ õ na Publicaca̧ õ Servico̧ de Biblioteca e Documentaca̧ õ Escola de Comunicaco̧ es̃ e Artes da Universidade de Saõ Paulo Dados fornecidos pelo(a) autor(a) 3 Nome: MAZZEI, TATIANA ANCHIESCHI GOMES Título: Câmbios estéticos de um mito moderno: a figura do anjo na publicidade Dissertação apresentada à Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo para obtenção de título de Mestre em Teoria e Pesquisa em Comunicação. Aprovada em: ___/___/___ BANCA EXAMINADORA Prof. Dr.:_________________________________ Instituição: _________________ Julgamento: ________________________________ Assinatura: __________________ Prof. Dr.:_________________________________ Instituição: _________________ Julgamento: ________________________________ Assinatura: __________________ -

Discoteca Rádio UFSM Índice Completo Página 1
Discoteca Rádio UFSM índice completo Página 1 COD TITULO BANDA GRAVADORA ANO MIDIA 400.001 14 BIS II 14 BIS EMI-ODEON 1980 COMPACTO 400.002 EVERYTHING GOOD IS BAD 100 PROOF TOP TAPE 1972 COMPACTO 400.003 SOMEBODY'S BEEN SLEEPING 100 PROOF TOP TAPE 0 COMPACTO 400.004 BAILE DOS PASSARINHOS A TURMA DO CBS 1982 COMPACTO BALAO MAGICO 400.005 THE DAY BEFORE YOU CAME ABBA RCA VICTOR 1982 COMPACTO 400.006 QUEM AVISA ABILIO MANOEL SOM LIVRE 1975 COMPACTO 400.007 DOMINGO EN BUENOS AIRES ABRACADABRA CONTINENTAL 1970 COMPACTO 400.008 ANTMUSIC ADAM AND THE EPIC 1980 COMPACTO ANTS 400.009 O QUE ME IMPORTA ADRIANA ODEON 1972 COMPACTO 400.010 O MENINO E A ROSA ADRIANO SANTOS COPACABANA 1983 COMPACTO 400.011 SEPTEMBER IN THE RAIN AEROPLANE ONE WAY 1973 COMPACTO 400.012 MELÔ DA PIRANHA AFRIC SIMONE RCA BARCLAY 1977 COMPACTO 400.013 MUNDO BOM AGEPÊ CONTINENTAL 1977 COMPACTO 400.014 MUDANÇA DE VENTO AGEPÊ CONTINENTAL 1973 COMPACTO 400.015 A DANÇA DO MEU LUGAR AGEPÊ CONTINENTAL 1976 COMPACTO 400.016 JEITO DE FELICIDADE AGEPÊ CONTINENTAL 1977 COMPACTO 400.017 SEM VOCE AGNALDO RAYOL WM 1981 COMPACTO 400.018 LET'S STAY TOGETHER AL GREEN LONDON 1972 COMPACTO 400.019 ALAIDE COSTA ALAIDE COSTA ODEON 1972 COMPACTO 400.020 FIGLI DELLE STELLE ALAN SORRENTI EMI-ODEON 1978 COMPACTO 400.021 ALBERTO LUIZ ALBERTO LUIZ COPACABANA 1972 COMPACTO 400.022 UM SER DE LUZ ALCIONE RCA 1983 COMPACTO 400.023 QUEM DERA ALCIONE RCA VICTOR 1973 COMPACTO 400.024 QUASE MEIO-DIA ALINE RCA VICTOR 1973 COMPACTO 400.025 LET ME BE THE ONE ALLEN BROWN BLUE ROCK 1973 COMPACTO 400.026 ORAI POR -

ETERNAS EMOÇÕES a Questão Do Remake Na Telenovela Brasileira
ETERNAS EMOÇÕES A questão do remake na telenovela brasileira texto de MAURO ALENCAR Resumo A identidade é a marca, o registro do tempo. Cada tempo tem a sua identidade e linguagem. Remake: velhos temas com novas identidades, novos registros. É a “transformação” da telenovela. Um processo que ganhará impulso a partir da década de 80. Vamos reviver e questionar um pouco deste recurso da telenovela que muito bem poderíamos chamar de Eternas Emoções. CAPÍTULO 1 ORIGENS DA TELENOVELA DIÁRIA Em julho de 1963, o gênero telenovela (tal e qual conhecemos hoje) é importado da Argentina pelo diretor artístico da TV Excelsior, Edson Leite, que entregou o texto original de Alberto Migré (0597 da Ocupado, um grande sucesso da televisão argentina) à experiente e muito bem conceituada radionovelista Dulce Santucci. Vale aqui fazer uma pausa para lembrar que a tv brasileira - PRF 3 TV Tupi - nasceu em 18 de setembro de 1950. A primeira experiência dramatúrgica ocorreu em novembro do mesmo ano pelas mãos do diretor Cassiano Gabus Mendes ao adaptar para tv um filme norte-americano com o título de A Vida Por Um Fio, com a atriz Lia de Aguiar. Somente em 21 de dezembro de 1951, através de Walter Forster é que a novela começou a ganhar contornos do que viria a ser em 1963. O diretor, autor e ator protagonista (ao lado de Vida Alves), levou ao ar Sua Vida Me Pertence. Tendo como base a estrutura radiofônica de apresentar dramaturgia, resolveu lançar a telenovela (com 15 capítulos exibidos 2 vezes por semana) propriamente dita. Daí suas ligações com o folhetim do século XIX, o cinema seriado da década de 50 e toda a estrutura da radionovela de então. -
Dicionário Aberto De Cal˜Ao E Express˜Oes Idiomáticas
Dicionario´ aberto de calao˜ e expressoes˜ idiomaticas´ Jose´ Joao˜ Almeida 13 de Outubro de 2008 2 Este dicionario´ e´ simultaneamente um exerc´ıcio Lista de colaboradores de lingu´ıstica, de linguagens de programac¸ao˜ e de PERL. Gil Vicente; Bocage; Adriano Martins; Al- Detalhes acerca do modo como ele esta´ cons- berto Manuel Brandao˜ Simoes;˜ Alexandre (br) ; tru´ıdo podem ser obtidos do autor. Alexandra; Ana; Ana Lucia´ Batista Rodrigues; Este dicionario´ contem presentemente cerca de Antonio´ de Sousa; Antonio´ Pina; Barbara San- 4000 entradas e precisa desesperadamente da tos; Caio Gracco Pinheiro Dias; Carlos (br) ; sua colaborac¸ao.˜ Deve ser olhado nao˜ como Carlos; Carlos Carvalho; Carlos Ilhargo; Celia´ um dicionario´ completo mas como uma colecc¸ao˜ Soares; Claudia´ Magalhaes;˜ Conceic¸ao˜ Saraiva; amadora que tem contado com a colaborac¸ao˜ Conceic¸ao˜ Paiva; Daniel Santos; Daniela Rodri- de varios´ +daci!informantes! agradecimentos! a gues; David; Drausio Fortes Henrique Faria; Ed- quem muito agradecemos gar Carvalho; Eduardo Cavalcanti Gomes Ferreira; Tecnicamente, este dicionario´ esta´ a usar a lin- Eduardo; Eugenio´ Otero; Fabio´ Santos; Fernando guagem programac¸ao˜ DPL (dictionary program- Jorge; Fernando Rangel; Filipe Silva; Filipe Mar- ming language), do projecto Natura tins; Florbela Soares; Francisco Almada Lobo; Francisco Gonc¸alves; Hernaniˆ Mergulhao;˜ Inesˆ de Matos; Jacinto; Jorge Gustavo; Jorge Otto S. Bec- Estrutura das entradas ken; Jorge Quinta-Nova; jorge Galrito; Jose´ Ber- nardo; Jose´ Joao˜ Almeida; Jose´ Manuel Ruas; Jose´ – sinonimos:´ Nuno Oliveira; Jose´ Pedro Oliveira; Jose´ Orlando – semantica: significado Pereira; Jose´ Leon Machado; Joao;˜ Joao;˜ Joao˜ Jose´ – exemplo: • frase: exemplo de uso Cardoso; J. Vicente; J. -

Pontifícia Universidade Católica De São Paulo PUC-SP Flavio Eduardo Magalhães Taam Luchino Visconti E Os Signos Proustianos
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC-SP Flavio Eduardo Magalhães Taam Luchino Visconti e os signos proustianos A Trilogia Alemã à luz de Em busca do tempo perdido Mestrado em Comunicação e Semiótica São Paulo 2019 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC-SP Flavio Eduardo Magalhães Taam Luchino Visconti e os signos proustianos A Trilogia Alemã à luz de Em busca do tempo perdido Mestrado em Comunicação e Semiótica Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Mestre no Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica, sob a orientação da Profª. Drª. Leda Tenório da Motta. São Paulo 2019 Banca Examinadora ________________________________________ Profª. Drª. Neide Jallageas de Lima ________________________________________ Profª. Drª. Annita Costa Malufe ________________________________________ Profª. Drª. Leda Tenório da Motta Este trabalho foi contemplado com uma bolsa pelo CNPq, processo n. 169439/2017-8. AGRADECIMENTOS Meus mais sinceros agradecimentos a Leda Tenório da Motta pela primorosa orientação e confiança; a Neide Jallageas e Annita Costa Malufe por suas cuidadosas leituras; a Pedro Taam pelo sincero apoio em todas as fases por que passou esta pesquisa; aos demais familiares, amigos, professores e funcionários da PUC-SP que de alguma forma contribuíram para a conclusão deste trabalho. “O homem de boa memória nunca lembra de nada, porque nunca esquece de nada. Sua memória é uniforme, uma criatura de rotina, simultaneamente condição e função de seu hábito impecável, um instrumento de referência e não de descoberta.” Samuel Beckett Taam, Flavio. Luchino Visconti e os signos proustianos: A Trilogia Alemã à luz de Em busca do tempo perdido. -

Textos Para Discussão
Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa textos para discussão Televisão em Cores? Raça e sexo nas telenovelas “Globais” (1984-2014) Luiz Augusto Campos Professor IESP-UERJ João Feres Júnior 10/ Professor IESP-UERJ Expediente Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ Instituto de Estudos Sociais e Políticos – IESP Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa http://gemaa.iesp.uerj.br [email protected] Coordenadores João Feres Júnior Luiz Augusto Campos Pesquisadores Associados Marcia Rangel Candido Veronica Toste Daflon Assistentes de pesquisa Gabriella Moratelli Leandro Guedes Luna Sassara Poema Eurístines Capa, layout e diagramação Luiz Augusto Campos textos para discussão do gemaa / ano 2015 / n. 10 / p. 2 textos para discussão 10/ gemaa Televisão em Cores? Raça e sexo nas telenovelas “Globais” (1984-2014) Luiz Augusto Campos Desde sua popularização, as novelas da Rede Globo de Professor IESP-UERJ Televisão tomaram para si a tarefa de representar o Brasil de múltiplas maneiras. Apesar disso, a participação das João Feres Júnior personagens pretas e pardas nos elencos desses programas Professor IESP-UERJ sempre esteve aquém do seu peso demográfico no país. Este texto apresenta os dados gerais de um levantamento que buscou medir a representação de atrizes e atores pretos ou pardos na teledramaturgia da emissora. Embora os dados detectem uma tímida tendência à diversificação dos elencos, eles demonstram que os elencos das novelas brasileiras ainda são hegemonicamente brancos. Desde a sua popularização na década 1960, a telenovela brasileira se caracterizou por nutrir uma relação estreita com os projetos nacionalistas das elites dirigentes. É verdade que a produção das primeiras novelas de alcance nacional, sobretudo pela Rede Globo de Televisão, dependeu de uma complexa articulação entre grupos artísticos, econômicos e políticos bastante heterogêneos do ponto de vista ideológico. -

TV Excelsior.Indd 1 5/10/2010 17:14:21 Glória in Excelsior
TV Excelsior capa.indd 1 5/10/2010 17:16:16 Glória in Excelsior Ascensão, Apogeu e Queda do Maior Sucesso da Televisão Brasileira 2a edição revista e ampliada TV Excelsior.indd 1 5/10/2010 17:14:21 Glória in Excelsior Ascensão, Apogeu e Queda do Maior Sucesso da Televisão Brasileira Álvaro de Moya São Paulo, 2010 TV Excelsior.indd 2 5/10/2010 17:14:21 Glória in Excelsior Ascensão, Apogeu e Queda do Maior Sucesso da Televisão Brasileira 2ª edição revista e ampliada Álvaro de Moya São Paulo, 2010 TV Excelsior.indd 3 5/10/2010 17:14:21 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO Governador Alberto Goldman Imprensa Oficial do Estado de São Paulo Diretor-presidente Hubert Alquéres Coleção Aplauso Coordenador geral Rubens Ewald Filho TV Excelsior.indd 4 5/10/2010 17:14:21 No Passado Está a História do Futuro A Imprensa Oficial muito tem contribuído com a sociedade no papel que lhe cabe: a democratização de conhecimento por meio da leitura. A Coleção Aplauso, lançada em 2004, é um exemplo bem-sucedido desse intento. Os temas nela abordados, como biografias de atores, diretores e dramaturgos, são garantia de que um fragmento da me- mória cultural do país será preservado. Por meio de conversas infor- mais com jornalistas, a história dos artistas é transcrita em primeira pessoa, o que confere grande fluidez ao texto, conquistando mais e mais leitores. Assim, muitas dessas figuras que tiveram importância fundamental para as artes cênicas brasileiras têm sido resgatadas do esquecimento. Mesmo o nome daqueles que já partiram são frequentemente evo- cados pela voz de seus companheiros de palco ou de seus biógrafos. -

Pontifícia Universidade Católica Do Rio Grande Do Sul Faculdade De Letras Programa De Pós-Graduação Em Letras
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE LETRAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS MARISTELA KIRST DE LIMA GIROLA ENTRE A CASA E A RUA: O ESPAÇO FICCIONAL E A PERSONAGEM FEMININA NO ROMANCE PORTUGUÊS DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX Porto Alegre 2011 MARISTELA KIRST DE LIMA GIROLA ENTRE A CASA E A RUA: O ESPAÇO FICCIONAL E A PERSONAGEM FEMININA NO ROMANCE PORTUGUÊS DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX Tese apresentada como requisito para a obtenção do grau de Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Faculdade de Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Orientadora: Dr. Maria Luíza Ritzel Remédios Coorientadora: Dr. Helena Carvalhão Buescu Porto Alegre 2011 Às mulheres. AGRADECIMENTOS À Professora Maria Luíza Ritzel Remédios, minha orientadora, exemplo de amor à vida e de perseverança, pelos conselhos plenos de sabedoria, afeto e generosidade. À Professora Helena Carvalhão Buescu, minha orientadora na Universidade de Lisboa e coorientadora desta tese, pela disponibilidade, pelo acolhimento carinhoso e pelos ensinamentos preciosos. Aos professores Maria Eunice Moreira e Pedro Brum Santos pelas valiosas sugestões na banca de qualificação. A CAPES que viabilizou, por meio de bolsa, o Doutorado e o estágio em Portugal. À coordenação, aos professores, às secretárias, aos funcionários e aos colegas do Programa de Pós-Graduação em Letras da PUCRS pelos anos de convivência fraterna. À Maria Inês da Cruz Tinoco Rebelo, funcionária do Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, pelo atendimento sempre (mesmo quando à distância) expedito, gentil e eficiente. À Professora Beatriz Weigert pela atenção e afetuosa recepção em Lisboa.