Universidade Federal Da Bahia Saberes E Fazeres
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
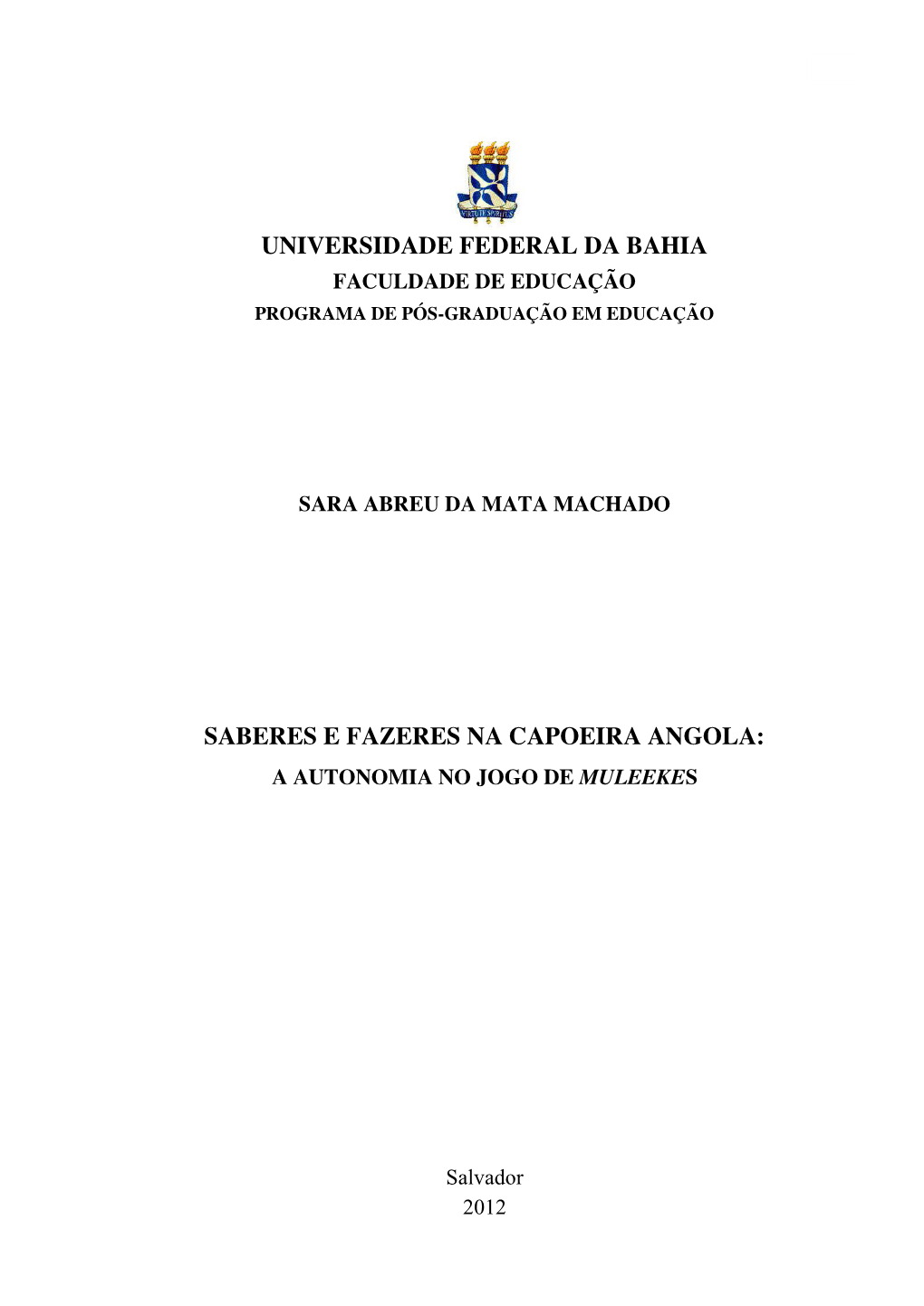
Load more
Recommended publications
-

Vivian Luiz Fonseca Dissertação
Vivian Luiz Fonseca CAPOEIRA SOU EU: memória, identidade, tradição e conflito. Rio de Janeiro 2009 FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL – CPDOC PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA, POLÍTICA E BENS CULTURAIS MESTRADO ACADÊMICO EM HISTÓRIA, POLÍTICA E BENS CULTURAIS PROFESSOR DOUTOR ORIENTADOR MARIO GRYNSZPAN VIVIAN LUIZ FONSECA CAPOEIRA SOU EU – memória, identidade, tradição e conflito Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil – CPDOC como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em História, Política e Bens Culturais. Rio de Janeiro, Agosto de 2009. II Dados Bibliográficos: FONSECA, Vivian Luiz./ Capoeira Sou Eu – memória, identidade, tradição e conflito. Rio de Janeiro: CPDOC-PPHPBC; Fundação Getúlio Vargas, 2009, 255 P. Dissertação de Mestrado. CPDOC, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, RJ, 2009. Orientador: Prof. Dr. Mario Grynszpan 1. Capoeira 2. Memória 3. Identidade 4. História do Brasil 5. História, Política e Bens Culturais 6. PPHPBC-CPDOC-FGV Portal: http://www.cpdoc.fgv.br III FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL – CPDOC PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA, POLÍTICA E BENS CULTURAIS MESTRADO ACADÊMICO EM HISTÓRIA, POLÍTICA E BENS CULTURAIS CAPOEIRA SOU EU – memória, identidade, tradição e conflito TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO APRESENTADA POR VIVIAN LUIZ FONSECA E APROVADO EM 01 de setembro de 2009 PELA BANCA EXAMINADORA _________________________________________________ PROF. ORIENTADOR DR. MARIO GRYNSZPAN _________________________________________________ PROFa. DRa. ANGELA DE CASTRO GOMES (CPDOC) _________________________________________________ PROF. DR. VICTOR DE ANDRADE MELO (UFRJ) _________________________________________________ PROF. DR. CARLOS EDUARDO SARMENTO (SUPLENTE) IV Dedicatória Para meu pai (in memorian). -

Políticas Publicas Em Capoeira
Universidade do Estado do Rio de Janeiro Centro de Educação e Humanidades Faculdade de Educação Lindinalvo Natividade CAPOEIRANDO EU VOU: cultura, memória, patrimônio e política pública no jogo da capoeira Rio de Janeiro 2012 Lindinalvo Natividade CAPOEIRANDO EU VOU: cultura, memória, patrimônio e política pública no jogo da capoeira Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Área de concentração: Pesquisa, Magistério Superior e Políticas Públicas. Orientadora: Prof.a Dra. Denise Barata Rio de Janeiro 2012 CATALOGAÇÃO NA FONTE UERJ / REDE SIRIUS / BIBLIOTECA CEH/A N278 Natividade, Lindinalvo. Capoeirando eu vou: cultura, memória, patrimônio e política pública no jogo da capoeira / Lindinalvo Natividade. - 2012. 128 f. Orientadora: Denise Barata Dissertação (Mestrado) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Faculdade de Educação. 1. Capoeira - Teses. 2. Cultura negra - Teses. 3. Políticas Públicas – Teses. 4. Capoeira Viva – Teses. Barata, Denise. II. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Faculdade de Educação. III. Título. mvf CDU 796.8 Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta dissertação. _______________________________________ ____________________ Assinatura Data Lindinalvo Natividade CAPOEIRANDO EU VOU: cultura, memória, patrimônio e política pública no jogo da capoeira Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Área de concentração: Pesquisa, Magistério Superior e Políticas Públicas. Aprovada em 18 de outubro de 2012. Banca Examinadora: _____________________________________________ Profª. -

Capoeira E Eficácia Simbólica: Apontamentos Teóricos E Aportes Empíricos
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA REUEL PEREIRA MARELY CAPOEIRA E EFICÁCIA SIMBÓLICA: APONTAMENTOS TEÓRICOS E APORTES EMPÍRICOS VITÓRIA 2013 REUEL PEREIRA MARELY CAPOEIRA E EFICÁCIA SIMBÓLICA: APONTAMENTOS TEÓRICOS E APORTES EMPÍRICOS Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Educação Física do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Educação Física, na área de concentração Estudos Socioculturais e Históricos das Práticas Corporais. Orientador: Prof. Dr. Otávio Guimarães Tavares da Silva VITÓRIA 2013 Dados Internacionais de Catalogação-na-publicação (CIP) (Biblioteca Central da Universidade Federal do Espírito Santo, ES, Brasil) Marely, Reuel Pereira, 1985- M323c Capoeira e eficácia simbólica : apontamentos teóricos e aportes empíricos / Reuel Pereira Marely. – 2013. 127 f. Orientador: Otávio Guimarães Tavares da Silva. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Educação Física e Desportos. 1. Capoeira. 2. Educação física. 3. Antropologia. 4. Etnografia. I. Silva, Otávio Guimarães Tavares da. II. Universidade Federal do Espírito Santo. Centro de Educação Física e Desportos. III. Título. CDU: 796 REUEL PEREIRA MARELY CAPOEIRA E EFICÁCIA SIMBÓLICA: APONTAMENTOS TEÓRICOS E APORTES EMPÍRICOS Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Educação Física do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Educação Física na área de concentração Estudos Socioculturais e Históricos das Práticas Corporais. Aprovada em 19 de dezembro de 2013. COMISSÃO EXAMINADORA ______________________________________________ Prof. Dr. -

Redalyc.Doenças, Alimentação E Resistência Na Penitenciária Da Bahia, 1861-1865
História, Ciências, Saúde - Manguinhos ISSN: 0104-5970 [email protected] Fundação Oswaldo Cruz Brasil Moraes Trindade, Cláudia Doenças, alimentação e resistência na penitenciária da Bahia, 1861-1865 História, Ciências, Saúde - Manguinhos, vol. 18, núm. 4, octubre-diciembre, 2011, pp. 1073-1093 Fundação Oswaldo Cruz Rio de Janeiro, Brasil Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=386138057007 Como citar este artigo Número completo Sistema de Informação Científica Mais artigos Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal Home da revista no Redalyc Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto Doenças, alimentação e resistência na penitenciária da Bahia, 1861-1865 TRINDADE, Cláudia Moraes. Doenças, alimentação e resistência na penitenciária da Bahia, 1861-1865. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.18, n.4, out.-dez.2011, p.1073-1093. Resumo Apresenta um estudo sobre as doenças Doenças, alimentação e as condições de alimentação dos presos da Casa de Prisão com Trabalho e resistência na em Salvador, Bahia, nos primeiros anos de seu funcionamento. Analisa suas penitenciária da Bahia, estratégias em busca de tratamento médico e de uma alimentação digna, e 1861-1865* destaca também como os presos se apropriavam das novas normas oficiais para resistir e conquistar espaços de Diseases, food, and resistance respiração dentro do novo modelo de aprisionamento pretendido pela in the Bahia penitentiary, primeira penitenciária da Bahia. Demonstra que nem mesmo privados 1861-1865 de necessidades tão básicas, como as relacionadas a saúde e alimentação, os presos se tornaram vítimas passivas do novo sistema prisional; pelo contrário, atuaram ativamente na construção da própria história. -

A-Disputa-Por-Hegemonia-Na-Tradicao
PAULO ANDRADE MAGALHÃES FILHO JOGO DE DISCURSOS: A DISPUTA POR HEGEMONIA NA TRADIÇÃO DA CAPOEIRA ANGOLA BAIANA Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciências Sociais. Orientadora: Profª Drª Paula Cristina da Silva Barreto Salvador 2011 Magalhães Filho, Paulo Andrade M188 Jogo de discursos: a disputa por hegemonia na tradição da capoeira angola baiana / Paulo Andrade Magalhães Filho. – Salvador, 2011. 197 f.: il. Orientadora: Profª. Drª. Paula Cristina da Silva Barreto Dissertação (mestrado) – Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 2011. 1. Capoeira - Angola. 2. Hegemonia. 3. Fronteiras. 4. Identidade. 5. Tradição. I. Barreto, Paula Cristina da Silva. II. Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. III. Título. CDD – 796.81 AGRADECIMENTOS À família e aos ancestrais; Aos mestres que me conduziram nessa caminhada, e aos que gentilmente concederam entrevistas para este estudo; Às instituições que propiciaram esta pesquisa; Aos professores que me ensinaram e orientaram; A tod@s amig@s e camaradas que compartilham vibrações positivas... Êa! SUMÁRIO RESUMO …............................................................................................................................ 08 LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS …......................................................................... 12 INTRODUÇÃO …................................................................................................................. -

Universidade De São Paulo Faculdade De Educação Iê
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE EDUCAÇÃO IÊ, VIVA MEU MESTRE A Capoeira Angola da ‘escola pastiniana’ como práxis educativa Rosângela Costa Araújo Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo como parte dos requisitos para a obtenção do título de Doutora em Educação. Orientadora: Professora Doutora Roseli Fischmann São Paulo 2004 Dedicado à memória de Vicente Ferreira Pastinha (1889-1991) – Mestre Pastinha, e Nzinga Mbandi Ngola (1581-1663) – Rainha Jinga, ancestrais deste trabalho. À Ricardo Mendonça e Uiraí Fuscaldo, em memória. ii AGRADECIMENTOS Começo agradecendo a minha orientadora, Profª. Drª. Roseli Fischmann pelos ensinamentos que me possibilitaram agregar ao difícil caminho do fazer institucional a crença sobre o valor da amizade, do amor, da confiança e da paixão na esfera do inconformismo e da resistência. Também por acolher esta proposta de pesquisa, e com ela, minhas dificuldades e limitações. Sem dúvida alguma este trabalho situa-se na tomada de referência de uma pessoa que me encorajou na vivência humanizada do conhecimento, pela ética. Aos professores e funcionários do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, pelos muitos ensinamentos e trocas, ao longo de todo o Programa. Ao CNPq, pela concessão de bolsa de doutoramento por um período de dois anos. Aos vários professores e colegas nos vários departamentos da Universidade de São Paulo, com especial agradecimento aos professores Antônio Sérgio Guimarães (Departamento de Sociologia), Kabengele Munanga (Departamento de Antropologia) e também Ernst W. Hamburger e Dilma de Melo e Silva por apoiar as muitas necessidades de formação que esta pesquisa impôs durante a minha permanência na equipe da Estação Ciência Centro de Difusão Científica, Tecnológica e Cultural da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo. -

Hard Play: Capoeira and the Politics of Inequality in Rio De Janeiro
HARD PLAY: CAPOEIRA AND THE POLITICS OF INEQUALITY IN RIO DE JANEIRO KATYA WESOLOWSKI Submitted in Partial Fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy under the Executive Committee of the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2007 © 2007 Katya Wesolowski All Rights Reserved ABSTRACT Hard Play: Capoeira and the Politics of Inequality in Rio de Janeiro Katya Wesolowski Capoeira is a game of physical dexterity and cunning that incorporates fight, dance, acrobatics and music. Developed by African slaves in Brazil and once an exclusively male domain, capoeira was viewed as a social threat and severely persecuted through the 19th century. By the mid 20th century capoeira had come to be celebrated as an element of national identity, and today the practice crosses class, ethnic, gender and national boundaries. Among its myriad definitions, capoeira is conceived of as “play”: two participants “play” in a ring, or roda, surrounded by other participants and accompanied by percussive music and singing. Interaction oscillates between playful cooperation and aggressive confrontation as partner-adversaries attempt to outmaneuver each other, claim space, and demonstrate greater corporal expression, intelligence and creativity. A bounded ritual space, the roda is also contiguous with the external world, as is evident in claims that skills learned in the roda carry into everyday life. This ethnographic study, based on two years of fieldwork in Rio de Janeiro and my ongoing involvement as a practitioner, approaches capoeira as embodied play and a social practice that constitutes a particular type of engagement with the world: cultivating intelligent, expressive bodies through training and play, and forging collective identities and fictive kinship ties through group affiliation, practitioners become “capoeiristas,” and in so doing reshape themselves and their relationships to their environment and people within it. -

Universidade Federal Da Bahia Política Na Performance
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA ESCOLA DE TEATRO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS STEPHANIE BANGOURA POLÍTICA NA PERFORMANCE: WATUTSI NAS RUAS DE SALVADOR, BAHIA (1970-1989) Salvador 2012 STEPHANIE BANGOURA POLÍTICA NA PERFORMANCE: WATUTSI NAS RUAS DE SALVADOR, BAHIA (1970-1989) Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Artes Cênicas, Escola de Teatro, Universidade Federal da Bahia, como requisito para a obtenção do título de Mestre em Artes Cênicas. Orientadora: Profª Drª Suzana Martins Salvador 2012 STEPHANIE BANGOURA POLÍTICA NA PERFORMANCE: WATUTSI NAS RUAS DE SALVADOR, BAHIA (1970-1989) Dissertação apresentada como requisito para a obtenção do grau de Mestre em Artes Cênicas, Escola de Teatro, Universidade Federal da Bahia Aprovada em 04 de julho de 2011 Banca Examinadora Profª Drª Suzana Martins – Orientadora____________________________________ Universidade Federal da Bahia Profª Drª Jolanta Rekawek______________________________________________ Universidade Estadual de Feira de Santana Profª Drª Maria Albertina Grebler_________________________________________ Universidade Federal da Bahia Dedico este trabalho à minha filha Luisa Bangoura, uma afro-alemã que dança entre o racismo do negro contra o branco e o racismo do branco contra o negro, e corre rápido e longe do machismo com sua filosofia de vida: “só felicidade”. Dedico este trabalho para Núbia Kaftusi, filha de Kafuné e Watutsi, que gostou de provocar seu pai ausente, dizendo: “Eu gosto de ficar com os marginais, não tenho medo de morrer”. Também rebelde, orgulhosa, agressiva e corajosa, confrontou suas frustrações de não ser ouvida. Assassinada, seu corpo foi entregue na porta da casa de sua mãe Kafuné, em Brotas, Salvador, em abril de 2011. Dedico este trabalho a todas as filhas. -

O Dispositivo Da Capoeiragem Escritas, Técnicas E Estéticas Da Existência
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO PÓS-GRADUAÇÃO DA ESCOLA DE COMUNICAÇÃO BRUNO SOARES FERREIRA O DISPOSITIVO DA CAPOEIRAGEM ESCRITAS, TÉCNICAS E ESTÉTICAS DA EXISTÊNCIA Rio de Janeiro 2013 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO PÓS-GRADUAÇÃO DA ESCOLA DE COMUNICAÇÃO BRUNO SOARES FERREIRA O DISPOSITIVO DA CAPOEIRAGEM ESCRITAS, TÉCNICAS E ESTÉTICAS DA EXISTÊNCIA Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação da Escola de Comunicação da UFRJ para a obtenção do título de mestre em Comunicação pela Linha de Pesquisa Tecnologias da Comunicação e Estéticas. Orientadora: Prof. Dra. Ivana Bentes Oliveira Rio de Janeiro 2013 F383 Ferreira, Bruno Soares O dispositivo da capoeiragem: escritas, técnicas e estéticas da existência / Bruno Soares Ferreira. Rio de Janeiro: 2013. 155f. Orientadora: Ivana Bentes Oliveira. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Comunicação / Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura, 2013. 1. Capoeira. 2. Capoeira – Brasil - História. 3. Estética. I. Oliveira, Ivana Bentes. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Comunicação. CDD: 796.81 BRUNO SOARES FERREIRA O DISPOSITIVO DA CAPOEIRAGEM ESCRITAS, TÉCNICAS E ESTÉTICAS DA EXISTÊNCIA APROVADA EM 06 DE MARÇO DE 2013 BANCA EXAMINADORA ______________________________________ PROF. DRA. IVANA BENTES OLIVEIRA Doutora em Comunicação (Escola de Comunicação – UFRJ) ______________________________________ PROF. DRA. VICTA DE CARVALHO PEREIRA DA SILVA Doutora em Comunicação (Escola de Comunicação – UFRJ) ______________________________________ PROF. DR. MARCUS RAMÚSYO DE ALMEIDA BRASIL Doutor em Ciências Sociais (Instituto Federal do Maranhão - IFMA) ______________________________________ PROF. DR. HENRIQUE ANTOUN (Avaliador suplente) Doutor em Comunicação (Escola de Comunicação – UFRJ) A Jane Maciel, com gratidão e aos mestres da humanidade pela compreensão. -

Repositório Institucional Da Universida
AVISO AO USUÁRIO A digitalização e submissão deste trabalho monográfico ao DUCERE: Repositório Institucional da Universidade Federal de Uberlândia foi realizada no âmbito do Projeto Historiografia e pesquisa discente: as monografias dos graduandos em História da UFU, referente ao EDITAL Nº 001/2016 PROGRAD/DIREN/UFU (https://monografiashistoriaufu.wordpress.com). O projeto visa à digitalização, catalogação e disponibilização online das monografias dos discentes do Curso de História da UFU que fazem parte do acervo do Centro de Documentação e Pesquisa em História do Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia (CDHIS/INHIS/UFU). O conteúdo das obras é de responsabilidade exclusiva dos seus autores, a quem pertencem os direitos autorais. Reserva-se ao autor (ou detentor dos direitos), a prerrogativa de solicitar, a qualquer tempo, a retirada de seu trabalho monográfico do DUCERE: Repositório Institucional da Universidade Federal de Uberlândia. Para tanto, o autor deverá entrar em contato com o responsável pelo repositório através do e-mail [email protected]. UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA INSTITUTO DE HISTÓRIA CAPOEIRA ANGOLA: MANDINGAS DE CRIAÇÃO E REPRESENTAÇÕES DE LUTA PEDRO PAULO DE FREITAS BRAGA PEDRO PAULO DE FREITAS BRAGA CAPOEIRA ANGOLA: MANDINGAS DE CRIAÇÃO E REPRESENTAÇÕES DE LUTA Monografia apresentada ao Curso de Graduação em História, do Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia, como exigência parcial para a obtenção do título de Bacharel em História, sob a orientação da Profª. Drª. Maria Elizabeth R. Carneiro. Uberlândia, Dezembro de 2009. Foto da capa: Pierre Verger. FICHA CATALOGRÁFICA Braga, Pedro Paulo de Freitas, 1979. Capoeira Angola: mandingas de criação e representações de luta. -

Universidade Federal De São Carlos Centro De Educação E Ciências Humanas Programa De Pós-Graduação Em Ciências Sociais
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS DA INVERSÃO À RE-INVERSÃO DO OLHAR: RITUAL E PERFORMANCE NA CAPOEIRA ANGOLA ROSA MARIA ARAÚJO SIMÕES SÃO CARLOS 2006 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS DA INVERSÃO À RE-INVERSÃO DO OLHAR: RITUAL E PERFORMANCE NA CAPOEIRA ANGOLA ROSA MARIA ARAÚJO SIMÕES Tese apresentada ao Programa de Pós- graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos, como parte dos requisitos para obtenção do título de Doutora em Ciências Sociais (Área de Concentração: Relações Sociais, Poder e Cultura). Orientadora: Profa. Dra. MARINA DENISE CARDOSO SÃO CARLOS 2006 Ficha catalográfica elaborada pelo DePT da Biblioteca Comunitária/UFSCar Simões, Rosa Maria Araújo. S593ir Da inversão à re-inversão do olhar: ritual e performance na capoeira angola / Rosa Maria Araújo Simões. -- São Carlos : UFSCar, 2006. 200 p. Tese (Doutorado) -- Universidade Federal de São Carlos, 2006. 1. Antropologia. 2. Capoeira angola. 3. Ritual. 4. Performance (Arte). 5. Mestre João Pequeno de Pastinha. 6. Mestre Pé de Chumbo. I. Título. CDD: 301 (20a) ~ -r ...~..,., BANCA EXAMINADORADA TESE DE 9loóa JKwda ~ S~ 16/05/2006 ~ ~O. Cardoso Orientadora e Presidente Universidade Federal de São Carlo~ (UFSCar) tl/ C Or. Luiz Henrique de Toledo UnIVersidadeFederalde SãoCarlos(UFSCar) ~ \ -- ~ Or. Piero de Camargo Leirner -. UniversidadeFederalde SãoCarlos(UFSCar) Or. Mauro Betti UniversidadeEstadualPaulista"Júliode MesquitaFilho"(UNESP) Dedico este trabalho ao meu filho Gabriel e ao meu marido Márcio! Dedico, também, a todos os camaradinhas que deram, estão dando, ou darão a volta ao mundo comigo.. -
A Capoeira Em Salvador: Registro De Mestres E Instituições
A CAPOEIRA EM SALVADOR: REGISTRO DE MESTRES E INSTITUIÇÕES A CAPOEIRA EM SALVADOR: APENSANDO CAPOEIRA EM CAPOEIRA:SALVADOR: REGISTRO DE MESTRES E INSTITUIÇÕES DIMENSÕESorganização E PERSPECTIVAS Franciane Simplícioorg. Franciane• Alex Pochat Simplício • Nágila Daiacuí A HISTÓRIA DE JUMA, O CAPOEIRA Pedro Abib Salvador, 2015 Prefeito da Cidade do Salvador Fazem parte da “Coleção Capoeira Viva” as seguintes publicações: Antonio Carlos Peixoto de Magalhães Neto Volume 1 – A história de Juma, o capoeira Volume 2 – É Preta, Kalunga: a Capoeira Angola como prática política entre os angoleiros baianos — anos 80-90 Vice Prefeita Volume 3 – Pensando a Capoeira: dimensões e perspectivas Célia Oliveira de Jesus Sacramento Volume 4 – A capoeira em Salvador: registro de mestres e instituições Volume 5 – Capoeira Angola: ensaio socioetnográfico Secretário de Cultura e Turismo Erico Pina Mendonça Júnior Presidente da Fundação Gregório de Matt os Fernando Ferreira de Carvalho Chefe de Gabinete Silvia Maria Russo de Oliveira Assessora Chefe Gildete Nascimento Ferreira Assessora Jurídica Thais Conceição Santana Gerente de Promoção Cultural Wilton Rafael Souza Magalhães Gerente Administrativo-Financeiro Ivã de Araújo Oliveira Gerente de Sítios Históricos Milena Luisa Tavares Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Gerente do Arquivo Municipal, Fundução Gregório de Matt os Museus e Bibliotecas Lucimar Oliveira Silva C245 Gestor do Núcleo de Tecnologia da Informação A Capoeira em Salvador: registro de mestres e instituições / Alex Pochat, Franciane Simplício, Nágila Diacuí [Org]; Eric Ferreira de Castro ilustração André Flauzino. – Rio de Janeiro: MC&G, 2015. 78 p.: il. – (Coleção Capoeira Viva, 4) Coleção Capoeira Viva ISBN: 978-85-67589-37-4 1. Capoeira – Salvador, BA I.