5 a Cena Editorial
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Literatura Traduzida.Indd
Literatura traduzida e literatura nacional Literatura traduzida e literatura nacional org. Andréia Guerini Marie-Hélène C. Torres Walter Carlos Costa © 2008 Andréia Guerini, Marie-Hélène C. Torres, Walter Carlos Costa Produção editorial Debora Fleck Isadora Travassos Marília Garcia Valeska de Aguirre Editora-assistente Larissa Salomé Revisão Andréia Guerini Andréa Padrão Eduardo Carneiro Júlio Monteiro Walter Carlos da Costa Editoração eletrônica Tui Villaça CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ L755 Literatura traduzida e literatura nacional / organização Andréia Gue- rini, Marie-Hélène C. Torres, Walter Carlos Costa. Rio de Janeiro: 7Letras, 2008. 210p. Inclui bibliografi a ISBN 978-85-7577-515-8 1. Tradução e interpretação. 2. Literatura brasileira – Traduções. 3. Tradução e interpretação – Brasil. I. Guerini, Andréia, 1966-. II. Tor- res, Marie-Hélène Catherine. III. Costa, Walter Carlos. 08-3056. cdd: 418.02 cdu: 81’25 Viveiros de Castro Editora Ltda. (21) 2540-0076 R. Jardim Botânico 600 sl. 307 [email protected] Rio de Janeiro - RJ cep 22461-000 www.7letras.com.br SUMÁRIO Literatura traduzida e literatura nacional .................................9 Os organizadores Literatura brasileira traduzida Exportar tradução literária do Brasil: como é possível?........................15 Luiza Lobo Tradução da cultura: literatura brasileira traduzida em francês.............31 Marie-Hélène C. Torres O papel da patronagem na difusão da literatura brasileira: o programa de apoio à tradução da Biblioteca -
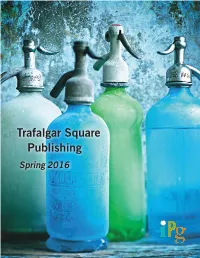
Trafalgar Square Publishing Spring 2016 Don’T Miss Contents
Trafalgar Square Publishing Spring 2016 Don’t Miss Contents Animals/Pets .....................................................................120, 122–124, 134–135 28 Planting Design Architecture .................................................................................... 4–7, 173–174 for Dry Gardens Art .......................................................8–9, 10, 12, 18, 25–26 132, 153, 278, 288 Autobiography/Biography ..............37–38, 41, 105–106, 108–113, 124, 162–169, 179–181, 183, 186, 191, 198, 214, 216, 218, 253, 258–259, 261, 263–264, 267, 289, 304 Body, Mind, Spirit ....................................................................................... 33–34 Business ................................................................................................... 254–256 Classics ....................................................................................43–45, 47–48, 292 Cooking ......................................................1, 11, 14–15, 222–227, 229–230–248 Crafts & Hobbies .............................................................................21–24, 26–27 85 The Looking Design ......................................................................................................... 19–20 Glass House Erotica .................................................................................................... 102–103 Essays .............................................................................................................. 292 Fiction ...............................................42, -

Flip 2: Sob a Máscara Do Fetichismo Da Mercadoria Sobre a Segunda Edição Da Festa Literária De Paraty
Sob a máscara do fetichismo da mercadoria Página 1 de 9 FLIP 2: SOB A MÁSCARA DO FETICHISMO DA MERCADORIA SOBRE A SEGUNDA EDIÇÃO DA FESTA LITERÁRIA DE PARATY Kênia Miranda[1] "O artista na época do capitalismo encontrou-se numa situação muito peculiar. O Rei Midas transformava tudo o que tocava em ouro: o capitalismo transformou tudo em mercadoria". (FISCHER, 1984, p.59) Introdução A 2ª Festa Literária de Paraty (FLIP) ocorreu entre os dias 7 e 11 de julho de 2004 no sul fluminense, numa nostálgica cidade escoadora das riquezas do café e do ouro, do período colonial. Mesmo com a decadência do ciclo do ouro e do café, a cidade de Paraty* conservou parcialmente sua arquitetura original conquistando o título de monumento histórico e nacional. A política de turismo dos setores público e privado de Paraty, que tem nessa atividade sua principal atividade econômica, é voltada para promoção de festivais os mais variados durante todo o ano. Porém, nenhum outro evento, teve ou tem a dimensão e a publicidade da Flip. O evento comercial-literário, planejado dentro dos moldes do tradicional festival literário e artístico de Hay-on-Wye, no País de Gales, contou, em sua programação oficial, com file://C:\Documents and Settings\Administrador\Meus documentos\Minhas Webs\NED... 4/9/2008 Sob a máscara do fetichismo da mercadoria Página 2 de 9 palestras de escritores brasileiros e estrangeiros, debates e atividades culturais como mostra de filmes, shows musicais e apresentações teatrais. E como não poderia deixar de ser, o centro histórico de Paraty foi tomado por tendas de editoras financiadoras da Festa que promoviam lançamentos, propagandas e vendas de livros. -

579 Border Crossing in Contemporary Brazilian Culture
Valim de Melo, Cimara. Border-Crossing in Contemporary Brazilian Culture: Global Perspectives from the Twenty- First Century Literary Scene. Border Crossing in Contemporary Brazilian Culture: Global Perspectives from the Twenty-First Century Literary Scene1 Cimara Valim de Melo Brasil or Brazil? The differences between Brazil seen from inside and Brazil seen from outside start with the spelling of its name. According to the Encyclopedia Britannica (2010, 487-89), Brazil is a country of South America which covers nearly half the continent’s total land area and has the largest population of any Latin-American state, made of several different intermixed ethnic groups and holding the image of miscegenation of races and cultures. Facing the variety of Brazilian arts among the contemporary Brazilian cultural history and the way it has been responding to the opening of the country to the globalisation phenomenon, we seek to investigate the process of the internationalisation of Brazilian literature in the twenty-first century, by analysing how it has broadened time-space horizons and expanded its own borders due the social and economic rise in the last decades. Thus, we start the analysis by discussing how Brazil has been affected by globalisation in the artistic field as well as how the country has been thought of and imagined by the contemporary world. Subsequently, we analyse some cases which show contemporary Brazilian literature in a broad range of perspectives but focusing on the novel as a genre. Firstly, we investigate the reception of Brazilian literature abroad by taking as a case the contemporary Brazilian novels and novelists seen from the 1 I would like to thank Prof. -

4 a Literatura Brasileira Contemporânea Em Inglês
4 A literatura brasileira contemporânea em inglês Este capítulo será dedicado a um levantamento de obras traduzidas para o inglês a partir de 1990 e a uma macroanálise da veiculação e da recepção de alguns desses livros nos polissistemas literários de língua inglesa. Serão observadas as opiniões de professores de literatura, da crítica especializada e da crítica jornalística, sempre que esses dados estiverem disponíveis. Ainda, a resposta do público leitor será levada em consideração, embora não tenha sido possível encontrar muitos dados sobre este, que é o pólo final absoluto do processo de tradução de uma obra. A partir dessa análise e do panorama da literatura brasileira contemporânea traçado no capítulo 3, será possível chegar a conclusões acerca das forças institucionais que atuam nos mercados receptores anglófonos sobre as representações da literatura e da cultura brasileira no polissistema de língua inglesa. Com base no papel dos elementos influentes nesse cenário, será possível debater, ainda neste capítulo, a importância da tradução na formação de identidades culturais, segundo o que postulou Lawrence Venuti (2002). A presente discussão se iniciará com a retomada de fatos importantes relativos ao perfil da literatura brasileira traduzida para o inglês, observados em décadas anteriores ao período a que se dedica esta pesquisa, de modo que seja possível lançarmos mão de elementos históricos nesta análise. 4.1 Três décadas cruciais Alguns estudos já demonstraram a posição periférica da literatura (e da cultura) brasileira nos polissistemas de língua inglesa. A partir do levantamento de Heloisa Barbosa (1994) e da pesquisa em outras fontes, como o guia Babelguides de obras brasileiras em tradução para o inglês, por exemplo, foi possível contar 166 obras de ficção, na maioria romances, traduzidas (ou retraduzidas) para o inglês ao longo de 94 anos, a partir do início do século XX até o ano de 1994, quando ela encerrou a pesquisa. -

Universidade Federal Rural Do Rio De Janeiro Instituto De Agronomia/Instituto Multidisciplinar Programa De Pós-Graduação Em Geografia (Ppggeo)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO DE AGRONOMIA/INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA (PPGGEO) A CIDADE HISTÓRICA NA PÓS-MODERNIDADE: A produção urbana para o consumo visual – olhares sobre Paraty e a Flip Jefferson de Oliveira Vinco “O divertimento se tornou o discurso hegemônico nas cidades históricas a partir do turismo, é a aura que envolve o mundo do consumo estetizado, consumo da estética histórica, no reino colonial, no perímetro histórico, em que o sol da cultura, da singularidade, da ilusiva autenticidade nunca se põe. Pelo contrário, reluz intensamente nas ‘originais’ fachadas pintadas de branco”. UFRRJ INSTITUTO DE AGRONOMIA/INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA/PPG-GEO DISSERTAÇÃO A Cidade Histórica na Pós-Modernidade: A produção urbana para o consumo visual – olhares sobre Paraty e a Flip. Jefferson de Oliveira Vinco 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO DE AGRONOMIA/INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA/PPG-GEO A Cidade Histórica na Pós-Modernidade: A produção urbana para o consumo visual – olhares sobre Paraty e a Flip. JEFFERSON DE OLIVEIRA VINCO Sob a orientação do Professor Maurílio Lima Botelho Dissertação submetida como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Geografia, no Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, área de concentração Espaço, Questões Ambientais e Formação em Geografia. Seropédica, RJ Setembro de 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO DE AGRONOMIA/INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA (PPGGEO) A CIDADE HISTÓRICA NA PÓS-MODERNIDADE: A produção urbana para o consumo visual – olhares sobre Paraty e a Flip Jefferson de Oliveira Vinco Dissertação submetida à banca examinadora no curso de Mestrado Acadêmico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Geografia. -

Religando Fronteiras
LEITURA ENTRE NÓS: redes, linguagens e mídias UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO José Carlos Carles de Souza Reitor Neusa Maria Henriques Rocha Vice-Reitora de Graduação Leonardo José Gil Barcellos Vice-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação Bernadete Maria Dalmolin Vice-Reitora de Extensão e Assuntos Comunitários Agenor Dias de Meira Junior Vice-Reitor Administrativo UPF Editora Cleci Teresinha Werner da Rosa Editora CONSELHO EDITORIAL Alvaro Della Bona Corpo Funcional: Carme Regina Schons Cinara Sabadin Dagneze Denize Grzybovski Revisora-chefe Elci Lotar Dickel Nathalia Sabino Ribas Giovani Corralo Revisora de textos João Carlos Tedesco Vanessa Becker Jurema Schons Revisora de textos Leonardo José Gil Barcellos Sirlete Regina da Silva Luciane Maria Colla Design Gráfico Paulo Henrique Simon Paulo Roberto Reichert Diagramador Rosimar Serena Siqueira Esquinsani Carlos Gabriel Scheleder Telisa Furlanetto Graeff Auxiliar Administrativo Tania M. K. Rösing Miguel Rettenmaier (Org.) LEITURA ENTRE NÓS: redes, linguagens e mídias EDITORA [email protected] EDITORA EDITORA www.upf.br/editora [email protected] [email protected] www.upf.br/editora www.upf.br/editora 2013 ppgEH Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano EDITORA EDITORA ppgEH ppgEH Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano Copyright © dos autores Cinara Sabadin Dagneze Nathalia Sabino Ribas Vanessa Becker Revisão de Texto e Revisão de Emendas Sirlete Regina da Silva Projeto Gráfico e Diagramação NexPP Produção da Capa Este livro no todo ou em parte, conforme determinação legal, não pode ser reproduzido por qualquer meio sem autorização expressa e por escrito do autor. A exatidão das informações e dos conceitos e opiniões emitidos, as imagens, tabelas, quadros e figuras são de exclu- siva responsabilidade dos autores. -

41 Candidojornal Da Biblioteca Pública Do Paraná André D Ucci O Brasil É Uma Festa
DEZEMBRO 2014 41 www.candido.bpp.pr.gov.br JORNAL DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ ucci CANDIDO D André O Brasil é uma festa Com mais de 200 festas literárias espalhadas pelo país, o cenário da literatura brasileira teve sua dinâmica alterada, com impacto na rotina dos escritores e na economia do livro Ensaio | Arlete Parrilha Sendra • Música e poesia | Ivan Santos • Em Busca de Curitiba | Marcio Renato dos Santos 2 CÂNDIDO | JORNAL DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ EDITORIAL EXPEDIENTE m termos financeiros, as feiras e CARTUM Arnaldo Branco festas literárias fazem hoje aquilo que as vendas de livros nunca fi- CANDIDO zeram à grande maioria dos escri- Cândido é uma publicação mensal E da Biblioteca Pública do Paraná tores brasileiros. Ou seja, garantem aos autores autonomia para serem escrito- res em tempo integral, sem exercer ou- tras funções paralelas à escrita. Para isso, precisam participar de bate-papos sobre suas obras e temas análogos à literatura. Esta edição do Cândido traz re- Governador do Estado do Paraná: Beto Richa portagens sobre esse novo panorama Secretário de Estado da Cultura: Paulino Viapiana da literatura brasileira contemporânea, Diretor da Biblioteca Pública do Paraná: Rogério Pereira que não mudou apenas a rotina do es- critor, mas a relação entre público e au- Presidente da Associação dos Amigos da BPP: Gerson Gross tor e, até, a economia do livro. A reportagem ouviu escritores, Coordenação Editorial: editores e curadores para tentar identi- ficar qual o papel desses eventos na cul- Rogério Pereira e Luiz Rebinski Junior tura brasileira hoje. Formam público? Ajudam a difundir a literatura em luga- res mais inóspitos? Tânia Rösing, ideali- Redação: zadora e coordenadora-geral da Jornada Marcio Renato dos Santos e Omar Godoy Nacional de Literatura de Passo Fundo, um dos eventos mais tradicionais do ca- lendário literário brasileiro, diz que, para BIBLIOTECA AFETIVA Estagiários: dinamizar os livros, é preciso preparar Lucas de Lavor e Thiago Lavado ivulgação ivulgação uma programação para os leitores en- D D contrarem autores. -

2021 Dis Mfgadelha.Pdf
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ CENTRO DE HUMANIDADES DEPARTAMENTO DE LITERATURA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS MARCIO FELIX GADELHA PORNOSOFIAS DE UMA FILOSOQUENGA: A PROSA ERÓTICA DE JULIANA FRANK FORTALEZA 2021 MARCIO FELIX GADELHA PORNOSOFIAS DE UMA FILOSOQUENGA: A PROSA ERÓTICA DE JULIANA FRANK Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Letras da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Literatura. Área de concentração: Literatura Comparada. Orientador: Prof. Dr. Claudicélio Rodrigues da Silva. FORTALEZA 2021 Dados Internacionais de Catalogação na Publicação Universidade Federal do Ceará Biblioteca Universitária Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a) G12p Gadelha, Marcio. Pornosofias de uma filosoquenga: : Aa prosa erótica de Juliana Frank / Marcio Gadelha. – 2021. 131342 f. f. : :il. il. color. color. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Humanidades, Programa de Pós- Graduação em Letras, Fortaleza, 2021. Orientação: Prof. Dr. Claudicélio Rodrigues da Silva. 1. Corpo. 2. Escrita de autoria feminina. 3. Juliana Frank. 4. Literatura brasileira contemporânea. I. Título. CDD 400 MARCIO FELIX GADELHA PORNOSOFIAS DE UMA FILOSOQUENGA: A PROSA ERÓTICA DE JULIANA FRANK Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Letras da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em letras. Área de concentração: Literatura comparada. Aprovada em: 06/07/2021. BANCA EXAMINADORA ________________________________________ Prof. Dr. Claudicélio Rodrigues da Silva (Orientador) Universidade Federal do Ceará (UFC) _________________________________________ Profa. Dra. Ana Márcia Alves Siqueira Universidade Federal do Ceará (UFC) _________________________________________ Prof. Dr. Douglas Carlos de Paula Moreira Universidade Estadual do Ceará (UECE) AGRADECIMENTOS A Deus, por me fortalecer sempre, me dando Luz e Força. -

Literatura Como Vocação: Escritores Brasileiros Contemporâneos No Pós- Redemocratização
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA Marcello Giovanni Pocai Stella Literatura como vocação: escritores brasileiros contemporâneos no pós- redemocratização Versão Corrigida São Paulo 2018 MARCELLO GIOVANNI POCAI STELLA Literatura como vocação: escritores brasileiros contemporâneos no pós- redemocratização Versão Corrigida Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Sociologia do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Sociologia. Orientador: Prof. Dr. Luiz Carlos Jackson São Paulo 2018 STELLA, Marcello Giovanni Pocai. Literatura como vocação: escritores brasileiros contemporâneos no pós-redemocratização. Dissertação (Mestrado em Sociologia) apresentada à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestre em Sociologia. Aprovado em: Banca Examinadora Prof. Dr. ______________________________ Instituição_________________________ Julgamento____________________________ Assinatura__________________________ Prof. Dr. ______________________________ Instituição_________________________ Julgamento____________________________ Assinatura__________________________ Prof. Dr. ______________________________ Instituição_________________________ Julgamento____________________________ Assinatura__________________________ Prof. Dr. ______________________________ -

A Representatividade Feminina Na Literatura Brasileira Contemporânea
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS ESCOLA DE COMUNICAÇÃO A REPRESENTATIVIDADE FEMININA NA LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA MARINA ROMANELLI Rio de Janeiro/RJ 2014 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS ESCOLA DE COMUNICAÇÃO A REPRESENTATIVIDADE FEMININA NA LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA Marina Romanelli Monografia de graduação apresentada à Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Comunicação Social, Habilitação em Produção Editorial. Orientadora: Profa. Dra. Cristiane Henriques Costa Rio de Janeiro/RJ 2014 ROMANELLI, Marina. A representatividade feminina na literatura brasileira contemporânea/ Marina Romanelli – Rio de Janeiro; UFRJ/ECO, 2014. 51 folhas. Monografia (graduação em Comunicação) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Comunicação, 2014. Orientação: Cristiane Henriques Costa 1. Literatura brasileira contemporânea. 2. Estudos de gênero. 3. Mercado editorial. I. COSTA, Cristiane Henriques II. ECO/UFRJ III. Produção Editorial IV. A representatividade feminina na literatura brasileira contemporânea A todas as mulheres que fora silenciadas, aquelas que lutaram para serem ouvidas, e as que gritam a plenos pulmões AGRADECIMENTO Agradeço a todos que continuaram comigo no meu momento mais difícil, me ajudaram e ajudam a me reerguer e me manter sobre meus próprios pés. Minha mãe, por se preocupar tanto, e se certificar sempre que estou bem. Minha tia Paola, por me oferecer ajuda quando eu mais precisava, por se oferecer a estar comigo em um dia decisivo para minha vida, no ponto de virada. Minhas ECOinas favoritas, Letícia, Janine, Fernanda, Natasha, por atravessarem essa fase universitária comigo, e acreditarem nesse trabalho mesmo quando eu mesma não acreditava mais e estava às vias de desistir. -

«Para Inglês Ver»: Traduções De Literatura Contemporânea Brasileira Na Época Dos Megaeventos
«Para inglês ver»: traduções de literatura contemporânea brasileira na época dos megaeventos Claire Williams St Peter’s College, University of Oxford Resumo: Desde 2007, quando se anunciou que Brasil seria sede da Copa do Mundo de Fu- tebol 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, o país foi foco de atenção do resto do mundo. Foi uma boa oportunidade para contrariar os estereótipos, e promover uma versão mais autên- tica da cultura brasileira. Efetivamente, no Reino Unido, foram publicadas várias antolo- gias de textos contemporâneos traduzidos para inglês; mais do que nunca. Neste artigo fa- zemos uma abordagem de cinco dessas antologias de uma perspectiva panorâmica e em termos quantitativos para considerar como é o Brasil (e a literatura brasileira) retratado para inglês ver e ler. Palavras chave: antologia; estereótipo; clichê; tradução; Brasil; Reino Unido. «Para Inglês Ver»: Translations of Contemporary Brazilian Literature in the Age of the Megaevents Abstract: Since 2007, when it was announced that Brazil would host the 2014 World Cup and the 2016 Olympic Games, the country has become the focus of international attention. This was an excellent opportunity to counter stereotypes and present a more authentic ver- sion of Brazilian culture. Indeed, several anthologies of contemporary texts translated into English were published over this period; more than ever before. This article provides a sur- vey and a quantitative reading of five such anthologies, in order to consider how Brazil (and its literature) is portrayed for a British audience. Keywords: anthology; stereotype; cliché; translation; Brazil; United Kingdom. Desde o outono de 2007, quando se anunciou que o Brasil seria sede da Copa do Mundo de Futebol em Junho e Julho de 2014, e, dois anos mais tarde, quando a cidade do Rio de Janeiro ganhou o concurso para ser anfitriã dos Jo- gos Olímpicos em Agosto de 2016, o país foi foco de muita atenção do resto do mundo.