Realização: GEPAM EXPEDIENTE
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
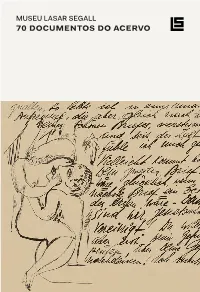
70 Documentos Do Acervo
DOBRA DOBRA MUSEU LASAR SEGALL MUSEU LASAR SEGALL Os documentos reunidos em vida por Lasar Segall ( ) formam o Arquivo Lasar Segall, uma importante coleção para pesquisa da história da arte brasileira e europeia. Esse acervo, composto por cerca de . itens, constitui-se, pelo seu ineditismo, natureza e dimensão, em uma das mais importantes fontes para a análise e compreensão da vida e da obra do artista, um dos principais nomes da arte moderna brasileira. _CAPA final_70 documentos_MLS.indd 1 06/02/20 11:05 DOBRA DOBRA _CAPA final_70documentos_MLS.indd 2 DOBRA DOBRA DOBRA DOBRA 06/02/20 11:05 MeMória e História MUSEU LASAR SEGALL 70 DOCUMENTOS DO ACERVO LASAR SEGALL MUSEUM 70 DOCUMENTS FROM THE ARCHIVES _FINAL_miolo novo_70 documentos_sem codigo com inglês.indd 1 06/02/20 11:04 _FINAL_miolo novo_70 documentos_sem codigo com inglês.indd 2 06/02/20 11:04 MUSEU LASAR SEGALL 70 DOCUMENTOS DO ACERVO LASAR SEGALL MUSEUM 70 DOCUMENTS FROM THE ARCHIVES _FINAL_miolo novo_70 documentos_sem codigo com inglês.indd 3 06/02/20 11:04 _FINAL_miolo novo_70 documentos_sem codigo com inglês.indd 4 06/02/20 11:04 7 ApresentAção Daniel Rincon caiRes 11 MeMóriA e históriA VeRa D’HoRta 31 CurAdoriA e Arquivos de Museus de Arte ana MagalHães 49 divisAs biográficas 63 diásporAs, derivAs, desloCAMentos 79 inquietAções estéticas 99 revolução ModernistA nA AleMAnhA 133 ModernisMos brAsileiros 169 intiMidAde 177 rAízes JudAicas 189 AnotAções téCnicas 197 biblioteCA pArtiCulAr 209 eMpreendiMentos iMobiliários 221 english version 287 Créditos _FINAL_miolo novo_70 documentos_sem codigo com inglês.indd 5 06/02/20 11:04 _FINAL_miolo novo_70 documentos_sem codigo com inglês.indd 6 06/02/20 11:04 Apresentação Daniel Rincon caiRes Em 1986 o Arquivo Lasar Segall inaugurava a sua jorna- da. -
Independencia-De-Brasil.Pdf
ROTEIRO TEMÁTICO TOUR TEMÁTICO: Independência do Brasil Independencia de Brasil Este material faz parte da série Roteiros Temáticos. Vivencie e ex- plore São Paulo em roteiros que oferecem outras treze perspec- tivas da cidade: Roteiro Afro, Arquitetura pelo Centro Histórico, Arte Urbana, O Café e a História da Cidade, Cidade Criativa, Ecor- rural, Futebol, Mirantes, Geek, Zona Leste, Polo de Ecoturismo de São Paulo, São Paulo e suas Faces e Fé e Espiritualidade. Este material es parte de la serie Tours Temáticos. Viva y explo- re São Paulo en tours que ofrecen otras trece perspectivas de la ciudad: Tour Afro, Arquitectura por el Centro Histórico, Arte Urbano, Café y la Historia de la Ciudad, Ciudad Creativa, Eco Rural, Fútbol, Miradores, Geek, Zona Este, Polo de Ecoturismo de São Paulo, São Paulo y sus Caras y Fe y Espiritualidad. polo de ecoturismo de São Paulo polo de ecoturismo de São Paulo roteiros temáticos tours temáticos Mapa Mapa 2ª Edição / 2a Edición Av. Cruzeiro do Sul do Cruzeiro Av. Av. Pred. Castelo Branco TERMINAL RODOVIÁRIO R. Joaquim Carlos Av. AntarticaPALMEIRAS- BARRA FUNDA Av. Santos Dumont BARRA FUNDA R. Araguaia R. Anhaia R. Júlio Conceição Av . F ra R. Barra Funda nc isc R. Prates o M a R. José Paulino tar Vd. Pacaembu az z o R. Vitorino Camilo R. Cel. Emídio Piedade PARQUE DA a ÁGUA BRANCA Av. Carlos de Campos im R. Cachoeira L TIRADENTES R. Mendes Júnior e Av. Barão de Limeira R. Alfredo Maia r R. Marcos Arruda d a R. Canindé P R. Catumbi . R PARQUE R. -

Visite a Cidade Utilizando O METRÔ E a CPTM
LINHAS REVISTA ELETRÔNICA DA SECRETARIA ESTADUAL DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS | ANO 1 | N º 6 | JUNHO DE 2016 Vem com a gente Visite a cidade utilizando o METRÔ e a CPTM O Memorial da América Latina, importante cartão postal de São Paulo, é um dos 47 locais acessíveis via Metrô/CPTM que esta edição de LINHAS traz para você Visite a Serra da Mantiqueira Estrada de Ferro Campos do Jordão Temporada de Inverno, 26 de maio até 14 de agosto de 2016 BONDE TURÍSTICO TREM TURÍSTICO DE PIRACUAMA Estação Emílio Ribas ao Portal de Campos Estação Pindamonhangaba à Estação Piracuama Segunda à quinta-feira, das 10h às 17h Domingos, às 10h e às 14h sexta-feira à domingo, das 10h às 18h R$ 11 - ida e volta R$ 14 - ida e volta TREM DE SUBÚRBIO Estação Pindamonhangaba à Estação Piracuama BONDE TURÍSTICO URBANO Segunda à sábado, em diversos horários, consulte Estação Emílio Ribas à Estação Abernéssia www.efcj.sp.gov.br Sábados, domingos e feriados, às 16h e às 17h R$ 3 - ida ou volta R$ 10 - ida e volta PASSEIOS TURÍSTICOS Teleférico - Parque do Capivari TREM DO MIRANTE Quarta, quinta e segunda feira, das 10h às 17h Sexta à domingo das 10h às 18h Estação Emílio Ribas à Estação Eugênio Lefèvre, com R$ 15 - ida e volta ao Morro do Elefante 30 minutos de pausa Domingo à quarta-feira, às 10h e às 14h Pedalinho - Parque do Capivari Sexta às 13h30 e sábado às 10h25 e às 14h25 Quarta, quinta e segunda feira, das 10h às 17h R$ 58 - ida e volta / R$ 45 - ida ou volta Sexta à domingo das 10h às 18h R$ 14 por 10 minutos TREM DE SERRA Centro de Memória Ferroviária -

Área Do Mapa / Map Area Legenda
R . R u i B a r b R. Dr. deTomás Lima R. Card. Leme o sa R. Vieira 1 2 3 4 Ravasco 5 6 R. Galvão Bueno R. Cnso. Ramalho MOOCAR. Marina Crespi R. Cons. Carrão R. Cnso. João Alfredo R. Orville Derby R. Sto. Antônio R. Guaratinguetá Dente Atrativos / Attractions 26 R. Barão de Iguape R. Cel. João Parque da Independência D6 R. Humaitá R. Rocha R. Teixeira Leite 27 2 SESC Ipiranga E6 R. Otto Alencar R. Cnso Furtado 22 Al. Rubião Júnior 1 28 R. Junqueira Freire Aquário de São Paulo E5 SESC Vila Mariana D1 13 2 R. Alexandre Levi 30 10 R. dos Aipes R. Taguá 2 29 Casa das Rosas B1 Teatro João Caetano F1 PRAÇA R. Cesário Ramalho 1 3 30 DOM 4 R. Espírita R. João Antônio Casa do Grito D6 Teatro Ruth Escobar A1 ORIONA R. Mns. Passaláqua de Oliveira4 31 R. Serra de Paracaina Casa Mestre Ananias A1 Templo Budista Busshinji A2 R. dos Ingleses Av. Pres. Wilson 20 R. Borges de Figueiredo Av. da Liberdade 31 5 A Casa Modernista F3 R. do Lavapés R. São Joaquim 19 6 Av. Brig. Luis AntonioR. Pedroso Catedral Ortodoxa C2 Comércio / Shopping LARGO DO SÃO JOAQUIM CAMBUCI R. dos Franceses dos R. 7 B2 Al. Ribeirão Preto Centro Cultural São Paulo R. Bueno de Andrade R. Diogo Vaz R. Barão de Jaguara R. Dr Eduardo R. Estéfano 8 1 R. Sta. Madalena CentroGonçalves de Memória do Corpo de Bombeiros F2 Acessórios e peças automotivas / Automotive Accessories R. Climaco Barbosa R. -

Área Do Mapa / Area Del Mapa Legenda / Simbología
R. Armando Martino R. Carlos B R. Lagoa Azul V . Corr o l R. Nelson u n t eia á A r i V o A . s R. Cel. Mar v R to d A . cílio F R. Dona a C R v ranc P . Gen. Edgard F P od. Bandeirantes . r o u d de á z PARQUE SÃO e er t A r v. v. Casa V e M A i C R. Alfredo Pujol a o i n DOMINGOS ag R. Our r c o de Paula o al ei h R. Dr César ç d ã ãe o R. Itapinima s R. Chic o Gr o m i S u osso R. L u q l eão XIII SANTANA u acó to Z R. M . Mora . Z . Miguel Conejo r R v A élia R. Estela B D . A SANTANA . J v R . C . PARQUE CIDADE Av. Ns. do Ó Z F a re . Inajar de Souza R. Chic . Angelina ire 1 DE TORONTO 2 3 v 4 5 de 6 7 c 8 v h A i A r er PIQUERI i o o N o P i i Av. Ns. do Ó l Penitenciária do c a ontes g i á R. Balsa r t Estado Carandiru . Casa V c s M v h a l A R. Maria Cândida i n e i 45 93 A r G7 A7 Jardim Botânico Serra da Cantareira b o a Atrativos / Lugares de Interés d . G v 46 94 A Av. Marginal Tietê o R. Carandaí PARQUE DA t VILA GUILHERME Jockey Club de São Paulo E3 Solar da Marquesa de Santos / Beco do Pinto / R. -

O Monumento À Independência – Registros De Arquitetura
O Monumento à Independência – Registros de arquitetura José Costa de Oliveira Filho 1. “Nascido em Turim, Itá- Arquiteto da COESF-USP e mestre em História Social lia, a 18 de janeiro de pela FFLCH-USP 1844, o engenheiro Bezzi formou-se na Universida- de de Turim. Participou da campanha de unificação da Itália, atingindo o pos- Graças ao cuidado do arquiteto Tommaso Gaudenzio Bezzi (1844 – to de tenente-coronel. 1 1915) em arquivar documentos e inúmeros artigos de jornais relacionados às Veio para a América do questões que envolviam diretamente sua pessoa e o Monumento à Independência Sul no final dos anos ses- senta, dirigindo-se primei- do Brasil, e também à sua neta Maria Helena que soube ao longo dos anos ro ao Uruguai e depois à conservá-los, foi possível realizarmos um resgate de fatos relevantes ao entendimento Argentina, onde exerceu do edifício-monumento. A imprensa, tanto a paulista quanto a carioca, por vezes a profissão de engenhei- ro e desenhou projetos de manteve contatos com Bezzi com o intuito de informar a sociedade das providências arquitetura. Chegando ao já tomadas e do que tratava o projeto em questão. As informações muitas vezes Brasil em 1875, continuou se repetiam nos vários periódicos. Deles destaca-se uma descrição do projeto, tais atividades. Casou-se com Francisca Nogueira publicada no Jornal do Commercio do Rio de Janeiro de 26 de novembro de da Gama Carneiro Bellens 1884. A precisão das informações publicadas leva a crer na possibilidade do Bezzi. O ambiente que fre- repórter ter reproduzido exatamente as palavras de Bezzi: qüentou no Brasil incluiu personalidades como o barão do Rio Branco e seu O edificio projectado mede 122m,50 de frente e é dividido em cinco corpos, que pai, o visconde do Rio constão dos pavilhões extremos, medindo cada um 21m,50, sobresahindo 2m dos Branco, Joaquim Nabuco, corpos reintrantes que tem de extensão cada um 27m,50. -

Universidade De São Paulo Faculdade De Educação
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E SAÚDE NO MUSEU: UMA ANÁLISE ENUNCIATIVO-DISCURSIVA DA EXPOSIÇÃO DO MUSEU DE MICROBIOLOGIA DO INSTITUTO BUTANTAN Carla Gruzman São Paulo 2012 CARLA GRUZMAN EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E SAÚDE NO MUSEU: UMA ANÁLISE ENUNCIATIVO-DISCURSIVA DA EXPOSIÇÃO DO MUSEU DE MICROBIOLOGIA DO INSTITUTO BUTANTAN VERSÃO CORRIGIDA Tese apresentada à Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo para a obtenção do título de doutora em Educação. Área de concentração: Ensino de Ciências e Matemática Orientadora: Profa. Dra. Martha Marandino São Paulo 2012 ii Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. Catalogação na Publicação Serviço de Biblioteca e Documentação Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 371.309 Gruzman, Carla G893e Educação, ciência e saúde no museu : uma análise enunciativo- discursiva da exposição do Museu de Microbiologia do Instituto Butantan / Carla Gruzman ; orientação Martha Marandino. São Paulo : s.n., 2012. 280 p. : il., tabs. fotos. Tese (Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Educação. Área de Concentração : Ensino de Ciências e Matemática) – Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo) . 1. Museus - Educação 2. Educação não formal 3. Ciência - Exposições 4. Análise do discurso 5. Museus de ciências e tecnologia I. Marandino, Martha, orient. iii CARLA GRUZMAN Educação, Ciência e Saúde no Museu: uma análise enunciativo-discursiva da exposição do Museu de Microbiologia do Instituto Butantan. Tese apresentada à Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo para a obtenção do título de doutora em Educação. -

Crianças, Museus E Formação De Público Em São Paulo
CRIANÇAS, MUSEUS E FORMAÇÃO DE PÚBLICO EM SÃO PAULO PAULA HILST SELLI CRIANÇAS, MUSEUS E FORMAÇÃO DE PÚBLICO EM SÃO PAULO CONSELHO EDITORIAL ACADÊMICO Responsável pela publicação desta obra Rita Luciana B. Bredariolli Agnaldo Valente G. da Silva Omar Khouri PAULA HILST SELLI CRIANÇAS, MUSEUS E FORMAÇÃO DE PÚBLICO EM SÃO PAULO © 2013 Editora Unesp Cultura Acadêmica Praça da Sé, 108 01001-900 – São Paulo – SP Tel.: (0xx11) 3242-7171 Fax: (0xx11) 3242-7172 www.culturaacademica.com.br [email protected] CIP – BRASIL. Catalogação na Fonte Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ __________________________________________________________________________ S468c Selli, Paula Hilst Crianças, museus e formação de público em São Paulo [recurso eletrônico]/Paula Hilst Selli. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013. recurso digital Formato: ePDF Requisitos do sistema: Adobe Acrobat Reader Modo de acesso: World Wide Web Inclui bibliografia ISBN 978-85-7983-483-7 (recurso eletrônico) 1. Museus - Aspectos sociais. – 2. Museus - Aspectos educacionais. 3. Museologia. 4. Livros eletrônicos. I. Título. 14-08268 CDD: 069 CDU: 069 __________________________________________________________________________ Este livro é publicado pelo Programa de Publicações Digitais da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) Editora afiliada: Às crianças, que todos os dias trazem aos museus novas formas de olhar. SUMÁRIO Introdução 9 1 Uma história sobre o acesso: contextualização 21 2 O que as crianças dizem 51 3 Acesso e formação de público: outras reflexões 153 Considerações finais 235 Referências 241 Anexos 257 Figura 1 – Desenho de S06. INTRODUÇÃO Este livro nasce de uma pesquisa de mestrado que desenvolvi no Instituto de Artes da Unesp, sob orientação da profa. -

Julio Cesar Talhari
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL JULIO CESAR TALHARI Cultura e sociabilidade no museu de arte: etnografia dos visitantes da Pinacoteca do Estado v. 1 São Paulo 2014 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL Cultura e sociabilidade no museu de arte: etnografia dos visitantes da Pinacoteca do Estado Julio Cesar Talhari Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo para a obtenção do título de Mestre em Antropologia Social. Orientador: Prof. Dr. Heitor Frúgoli Jr. v. 1 São Paulo 2014 2 Julio Cesar Talhari Cultura e sociabilidade no museu de arte: etnografia dos visitantes da Pinacoteca do Estado Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo para a obtenção do título de Mestre em Antropologia Social. Orientador: Prof. Dr. Heitor Frúgoli Jr. Aprovado em: __________________________________________________________ Banca examinadora Prof. Dr.: ______________________________________________________________ Instituição: _____________________________ Assinatura: ______________________ Profª. Drª.: _____________________________________________________________ -

Secretaria De Estado Da Saúde Instituto Butantan Programa De Aprimoramento Profissional
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE INSTITUTO BUTANTAN PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL Thelma Ferreira Dias Thomaz Palmeira Dimensão museológica e o contexto expográfico do Museu Biológico do Instituto Butantan: análise da presença dos lagartos Iguana iguana (Sáuria, Iguanidae). São Paulo 2011 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE INSTITUTO BUTANTAN PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL Thelma Ferreira Dias Thomaz Palmeira Dimensão museológica e o contexto expográfico do Museu Biológico do Instituto Butantan: análise da presença dos lagartos Iguana iguana (Sáuria, Iguanidae). Monografia apresentada ao Programa de Aprimoramento Profissional / SES, elaborada no Museu Biológico do Instituto Butantan, como requisito parcial exigido para a obtenção do título de Aprimoranda Profissional. Área: Museologia, Comunicação, Educação em Saúde e História da Ciência. Orientador: Giuseppe Puorto São Paulo 2011 AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. PALMEIRA, T. F. D. T. Dimensão museológica e o contexto expográfico do Museu Biológico do Instituto Butantan: análise da presença dos lagartos Iguana iguana (Sáuria, Iguanidae)./ Thelma Ferreira Dias Thomaz Palmeira. – São Paulo, 2011. 78 p. Monografia apresentada ao Programa de Aprimoramento Profissional / SES, elaborada no Museu Biológico do Instituto Butantan, como requisito parcial exigido para a obtenção do título de Aprimoranda Profissional. Área: Museologia, Comunicação, Educação em Saúde e História da Ciência. Orientador: Giuseppe Puorto. 1. Museologia. 2. Expografia. 3. Funções Museais. 4. Squamatas. 5. Iguana iguana. À minha mãe. Mesmo nas palavras contidas Que as leis físicas insistem em nos separar (Através do tempo e espaço) Encontrarei nos sonhos mais belos O carinho fraterno sem igual.. -

Proposta De Roteiro: a Usp Conhecendo a Usp Junho 2018
PROPOSTA DE ROTEIRO: A USP CONHECENDO A USP JUNHO 2018 1 Bom dia! Bem vindas e bem vindos à Universidade de São Paulo! Meu nome é __________, sou estudante do curso ____________ da (faculdade) __________ da USP e hoje sou o (a) monitor (a) de vocês neste roteiro. Neste novo roteiro “A USP conhecendo a USP” temos a proposta de integrar a Universidade e seus diversos campi, por isso todos os interessados da comunidade USP podem participar da atividade, que acontecerá sempre aos segundos sábados de cada mês, a partir do segundo semestre de 2018. E, a proposta inicial, é que a cada mês vamos recepcionar visitantes de diferentes campi. Vale observar de início que, este é o principal campus da USP por estar na capital; por abrigar a reitoria; e por concentrar o maior número de unidades de ensino — sendo 29, no total. Porém a Cidade Universitária não é o maior campus em extensão territorial; este está localizado em Pirassununga (onde se encontra FZEA, Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos), no interior do Estado de São Paulo. A atividade de hoje será realizada pela manhã aqui na Cidade Universitária, na qual apresentaremos as faculdades, institutos, escolas e demais órgãos presentes no campus, além da história da USP e da Cidade Universitária. Em seguida, vamos nos dirigir ao Centro de São Paulo. Teremos uma pausa para o almoço e depois retornaremos as atividades com duas paradas: a primeira será no CEUMA (Centro de Estudos Universitários Maria Antônia) e, antes de encerrar o roteiro, visitaremos também o MAC (Museu de Arte Contemporânea). -

GTTP: RESEARCH AWARD 2017 BUSINESS & LEISURE Making São
GTTP: RESEARCH AWARD 2017 Bleisure Travel BUSINESS & LEISURE Making São Paulo public transport more attractive Beatriz Pastor da Silva and Vitória Carvalho Troitiño Advisor teacher: José Augusto Rezende de Souza São Paulo, SP – 2017 Index 1. Acknowledgements............................................................................3 1.1 General acknowledgements..........................................................3 1.2 Special acknowledgements...........................................................3 2. Introduction.........................................................................................3 3. Expanding our knowledge about the thematic of the research......5 3.1 Tourism..........................................................................................5 3.2 Brazil..............................................................................................6 3.3 São Paulo......................................................................................7 3.3.1 The history of São Paulo.......................................................7 3.3.2 Tourism in the metropolis……...............................................8 4. Methodology........................................................................................9 4.1 Research object…..........................................................................9 4.2 Research method and data collection............................................9 4.2.1 Tourist attractions............................................................10 5. Results……........................................................................................23