Revista-Brasileira-50.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Os Vestígios Do Nobel
Opiniões Número: Depoimentos ornalornal Novos Lançamentos 229 dede Mês: Novembro Entrevista JJ Ano: 2017 LetrasLetras Literatura Infantil Preço: R$ 5,00 OsOs VestígiosVestígios dodo NobelNobel O escritor nipo-britânico Kazuo Ishiguro, de 62 anos, é o Prêmio Nobel de Literatura de 2017. A escolha foi anunciada em Estocolmo, na Suécia, pela Academia Sueca. Nascido em Nagasaki, no Japão, em 1954, Ishiguro vive na Inglaterra desde os cinco anos de idade. (Por Manoela Ferrari – págs. 10 e 11) ornalde 2 JLetras Opinião JL Editorial JL Arnaldo Niskier Não se pode entender muito a razão pela qual o Brasil jamais deu acervo JL “Os sonhos seguram o mundo” um Prêmio Nobel. Mesmo o da Paz andou perto de um brasileiro, quan- do se falava em D. Hélder Câmara ou o professor Josué de Castro. Em matéria de literatura, a Academia Brasileira de Letras, quando instada a Quando eu disse à escritora Nélida citar um nome, enviou para a Academia Sueca o de Nélida Piñon, que, Piñon, autora do famoso A república dos convenhamos, é uma bela indicação. Mas sabe-se que temos alguns sonhos, que estava de viagem a Portugal, obstáculos, o principal dos quais é a língua portuguesa. Os julgadores ela, de forma veemente, recomendou: “Não não conhecem o nosso idioma e, portanto, têm dificuldades para tomar deixe de visitar a Fundação José Saramago. conhecimento do que se passa no íntimo da nossa literatura. Mas vamos Há muito o que aprender com as obras do continuar insistindo, pois o país merece esse tipo de homenagem. Se foi único escritor em língua portuguesa que ganhou o Prêmio Nobel de possível dar o Prêmio a José Saramago, por que não se pode chegar a um Literatura.” titular brasileiro? Lembramos que, durante alguns anos, a nossa indi- De fato, a acadêmica brasileira tinha razão. -

Brazilian Images of the United States, 1861-1898: a Working Version of Modernity?
Brazilian images of the United States, 1861-1898: A working version of modernity? Natalia Bas University College London PhD thesis I, Natalia Bas, confirm that the work presented in this thesis is my own. Where information has been derived from other sources, I confirm that this has been indicated in the thesis. Abstract For most of the nineteenth-century, the Brazilian liberal elites found in the ‘modernity’ of the European Enlightenment all that they considered best at the time. Britain and France, in particular, provided them with the paradigms of a modern civilisation. This thesis, however, challenges and complements this view by demonstrating that as early as the 1860s the United States began to emerge as a new model of civilisation in the Brazilian debate about modernisation. The general picture portrayed by the historiography of nineteenth-century Brazil is still today inclined to overlook the meaningful place that U.S. society had from as early as the 1860s in the Brazilian imagination regarding the concept of a modern society. This thesis shows how the images of the United States were a pivotal source of political and cultural inspiration for the political and intellectual elites of the second half of the nineteenth century concerned with the modernisation of Brazil. Drawing primarily on parliamentary debates, newspaper articles, diplomatic correspondence, books, student journals and textual and pictorial advertisements in newspapers, this dissertation analyses four different dimensions of the Brazilian representations of the United States. They are: the abolition of slavery, political and civil freedoms, democratic access to scientific and applied education, and democratic access to goods of consumption. -

Pesquisa Para O SUS: Mais Qualidade Na Saúde
Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro Ano 2 - nº 5 | maio - junho - julho de 2005 Foto: Regivaldo Freitas Pesquisa para o SUS: mais qualidade na saúde O primeiro edital lançado pela FAPERJ Foram avaliadas propostas dentro dos em parceria com o Ministério da Saúde – seguintes temas: pesquisa em avaliação e Pesquisa para o SUS: Gestão Comparti- incorporação tecnológica nas áreas estra- lhada em Saúde – representa um potencial tégicas da saúde; análise das condições de impacto de qualidade no sistema de saúde saúde da população do Estado do Rio de fluminense. Trata-se de iniciativa inédita do Janeiro; avaliação e monitoramento dos sis- governo do estado que busca aproximar e temas municipais de saúde; pesquisa em promover a cooperação entre pesquisado- dengue e leishmaniose. As áreas foram de- res da área básica e profissionais da área da finidas com base nas prioridades em saúde saúde. Os 46 projetos contemplados já re- do Governo do Estado do Rio de Janeiro e ceberam os termos de outorga, incluindo uma na Agenda Nacional de Prioridades de Pes- rede de pesquisa em diagnóstico molecular, quisa em Saúde, visando fortalecer a ges- 57ª Reunião da SPBC: o centro Dragão do Mar será palco de eventos em Fortaleza. com ênfase nas doenças cardiovasculares, tão do SUS e a melhoria das condições de Pelo 8º ano, a FAPERJ participa do encontro, que este ano terá a cultura como tema. Pág.5 infecciosas e parasitárias. vida da população brasileira. Pág. 3 Foto: Arquivo/Sítio Roberto Burle Marx Difusão Científica Internacional -

Revista Brasileira 102 Internet.Pdf
Revista Brasileira FASE IX • JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO 2020 • ANO III • N.° 102 ACADEMIA BRASILEIRA REVISTA BRASILEIRA DE LETRAS 2020 D IRETORIA D IRETOR Presidente: Marco Lucchesi Cicero Sandroni Secretário-Geral: Merval Pereira C ONSELHO E D ITORIAL Primeiro-Secretário: Antônio Torres Arnaldo Niskier Segundo-Secretário: Edmar Bacha Merval Pereira Tesoureiro: José Murilo de Carvalho João Almino C O M ISSÃO D E P UBLI C AÇÕES M E M BROS E FETIVOS Alfredo Bosi Affonso Arinos de Mello Franco, Antonio Carlos Secchin Alberto da Costa e Silva, Alberto Evaldo Cabral de Mello Venancio Filho, Alfredo Bosi, P RO D UÇÃO E D ITORIAL Ana Maria Machado, Antonio Carlos Secchin, Antonio Cicero, Antônio Torres, Monique Cordeiro Figueiredo Mendes Arnaldo Niskier, Arno Wehling, Carlos R EVISÃO Diegues, Candido Mendes de Almeida, Vania Maria da Cunha Martins Santos Carlos Nejar, Celso Lafer, Cicero Sandroni, P ROJETO G RÁFI C O Cleonice Serôa da Motta Berardinelli, Victor Burton Domicio Proença Filho, Edmar Lisboa Bacha, E D ITORAÇÃO E LETRÔNI C A Evaldo Cabral de Mello, Evanildo Cavalcante Estúdio Castellani Bechara, Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Carneiro, Geraldo Holanda ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS Cavalcanti, Ignácio de Loyola Brandão, João Av. Presidente Wilson, 203 – 4.o andar Almino, Joaquim Falcão, José Murilo de Rio de Janeiro – RJ – CEP 20030-021 Carvalho, José Sarney, Lygia Fagundes Telles, Telefones: Geral: (0xx21) 3974-2500 Marco Lucchesi, Marco Maciel, Marcos Setor de Publicações: (0xx21) 3974-2525 Vinicios Vilaça, Merval Pereira, Murilo Melo Fax: (0xx21) 2220-6695 Filho, Nélida Piñon, Paulo Coelho, Rosiska E-mail: [email protected] Darcy de Oliveira, Sergio Paulo Rouanet, site: http://www.academia.org.br Tarcísio Padilha, Zuenir Ventura. -

Escrivaninha Do Poeta Olavo Bilac, Conservada Na Biblioteca Da Academia Brasileira De Letras
Escrivaninha do poeta Olavo Bilac, conservada na Biblioteca da Academia Brasileira de Letras. Guardados da Memória A morte de Eça de Queirós Machado de Assis 23 de agosto de 1900. Machado de Assis, que recusava os Meu caro H. Chaves. – Que hei de eu dizer que valha esta ca- direitos autorais, lamidade? Para os romancistas é como se perdêssemos o melhor legados ou da família, o mais esbelto e o mais válido. E tal família não se supostamente legados – quem compõe só dos que entraram com ele na vida do espírito, mas trata da questão também das relíquias da outra geração e, finalmente, da flor da é Josué Montello nova. Tal que começou pela estranheza acabou pela admiração. – por Eça de Queirós, Os mesmos que ele haverá ferido, quando exercia a crítica direta admirou-o. e quotidiana, perdoaram-lhe o mal da dor pelo mel da língua, Quando lhe pelas novas graças que lhe deu, pelas tradições velhas que con- chegou a notícia de seu servou, e mais a força que as uniu umas e outras, como só as une falecimento, a grande arte. A arte existia, a língua existia, nem podíamos os escreveu esta dois povos, sem elas, guardar o patrimônio de Vieira e de Ca- página sobre o grande mões; mas cada passo do século renova o anterior e a cada gera- romancista. ção cabem os seus profetas. (N. da Redação) 307 Machado de Assis A antiguidade consolava-se dos que morriam cedo considerando que era a sorte daqueles a quem os deuses amavam. Quando a morte encontra um Goethe ou um Voltaire, parece que esses grandes homens, na idade extrema a que chegaram, precisam de entrar na eternidade e no infinito, sem nada mais dever à terra que os ouviu e admirou. -
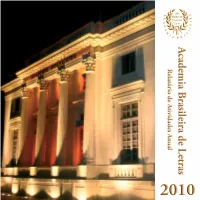
Relatorio 2010.Pdf
ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL 2010 Academia Brasileira de Letras Diretoria 2010 Presidente Marcos Vinicios Vilaça Secretária-Geral Ana Maria Machado Primeiro-Secretário Domício Proença Filho Segundo-Secretário Luiz Paulo Horta Tesoureiro Murilo Melo Filho APRESENTAÇÃO Em 2010, a Academia Brasileira de Letras comemorou o centenário de nascimento de quatro acadêmicos: Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Carlos Chagas Filho, Miguel Reale e Rachel de Queiroz, insuflando vitalidade que se espraiou nas diversas atividades desta Casa: conferências, colóquios, mesas-redondas, seminários, exposições, concertos, shows, leituras dramatizadas, peças teatrais, filmes, concursos literários, premiações, publicações e merendas acadêmicas. Imbuída da pulsação do presente, a Academia não se olvida do passado, cultuando-o, não como tempo estéril, mas como fonte de sabedoria potencialmente atualizável. Atestam essa reverência as homenagens ao centenário de morte de Joaquim Nabuco, que, além de fundador desta instituição, desenvolveu sólida carreira na política, na diplomacia e nas letras, enobrecendo o Brasil aos olhos nacionais e estrangeiros. Também se prestaram condolências aos saudosos Confrades José Mindlin e José Saramago, para os quais, ao contrário do homônimo personagem drummondiano, a Academia nunca deixará a festa acabar. Se o José brasileiro ainda vive na sua magnânima biblioteca, o português renasce na sua vultosa obra. Ao primeiro sucedeu na Cadeira 31 o Embaixador Geraldo Holanda Cavalcanti, recebido pelo Acadêmico Eduardo Portella; ao segundo, o historiador inglês Leslie Bethell, eleito para a Cadeira 16 de nossos sócios correspondentes. Lamentamos também a morte do Acadêmico Padre Fernando Bastos de Ávila, falecido em 6 de novembro. Ainda no processo sucessório, tomou posse a Professora Cleonice Berardinelli, na Cadeira 8, antes ocupada pelo Acadêmico Antonio Olinto, sendo recebida pelo Acadêmico e ex-aluno Affonso Arinos de Mello Franco. -

Redalyc.A Morada Da Língua Portuguesa
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Sistema de Información Científica Niskier, Arnaldo A morada da língua portuguesa Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação, vol. 22, núm. 85, octubre-diciembre, 2014, pp. 1115-1130 Fundação Cesgranrio Rio de Janeiro, Brasil Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=399534056011 Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação, ISSN (Versão impressa): 0104-4036 [email protected] Fundação Cesgranrio Brasil Como citar este artigo Número completo Mais informações do artigo Site da revista www.redalyc.org Projeto acadêmico não lucrativo, desenvolvido pela iniciativa Acesso Aberto A morada da língua portuguesa 1115 PÁGINA ABERTA A morada da língua portuguesa "Livros são papéis pintados com tinta." - Fernando Pessoa Arnaldo Niskier* Resumo Temos raízes latinas muito sólidas, o que não foi suficiente para que o Acordo Ortográfico de Unificação da Língua Portuguesa, assinado em 1990, alcançasse a unanimidade desejável. Em Lisboa há um movimento sincronizado para colocar em dúvida as razões lexicográficas das pequenas mudanças propostas. A escritora Lygia Fagundes Telles, falando na Academia Brasileira de Letras, pediu que liderássemos uma cruzada favorável à língua portuguesa. Devemos melhorar o atual índice de leitura (2,4 livros por habitante) e ampliar significativamente o número de bibliotecas públicas em todo o País. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, é muito sóbria em relação aos cuidados com a nossa língua. De nada adianta ensinar a ler e a escrever sem a garantia da permanência dos alunos nas escolas, lugar de "leitura crítica" e interpretativa do que lhe chega por intermédio da imagem e do som. -

Centenário De Celso Cunha Centenário De
Opiniões Número: Depoimentos ornalornal Novos Lançamentos 224 dede Mês: Junho Entrevista JJ Ano: 2017 LetrasLetras Literatura Infantil Preço: R$ 5,00 Centenário de Celso Cunha Celso Cunha faria cem anos em 10 de maio de 2017. Partiu aos 72 anos, mas continua entre nós, no afeto de seus familiares e amigos, na memória de alunos e colegas, na admiração de todos aque- les que se interessam pelos estudos da Língua Portuguesa. (Por Manoela Ferrari, Cilene da Cunha e Evanildo Bechara – págs. 10 e 11) Inovação: agora, o JL em versão digital. Acesse www.folhadirigida.com.br/edicoes-digitais/jornal-de-letras ornalde 2 JLetras JL Editorial JL Opinião Arnaldo Niskier Em recente reunião, no Rio, o Ministro Mendonça Filho recebeu acervo JL A perda de um mestre o título de “Educador do Ano”. Para muitos, talvez haja estranheza, mas as razões são bastante objetivas e foram expressas pelo professor Eduardo Mattos Portella era baiano, Carlos Alberto Serpa de Oliveira, presidente da Academia Brasileira mas passou a maior parte de sua existência, de Educação: “Ele teve uma atuação decisiva para que houvesse efeti- de 84 anos, no Rio de Janeiro, onde construiu vamente uma reforma no ensino médio brasileiro.” Há muito que se uma sólida carreira universitária, especial- o comenta a necessidade de alterar os fundamentos da educação média mente na UFRJ. Era o 2 Decano da casa de Machado de Assis, quando faleceu no dia 2 do nosso país. Embora o MEC não tenha tomado uma decisão de efeito de maio. imediato, o fato é que teremos uma reforma – e se dará um novo sentido Portella teve uma significativa carreira de homem público, primei- ao ensino profissional no Brasil. -
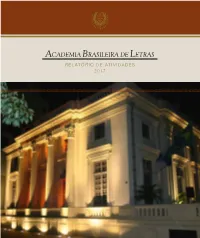
Geraldo Carneiro Cadeira: 10 Cadeira: 24 Eleição: 11.4.2013 Eleição: 27.10.2016 Posse: 14.6.2013 Posse: 31.3.2017
ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017 ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 2017 6 Diretoria 7 Apresentação 8 Acadêmicos 12 Relatório de Atividades 21 Ciclos de Conferências 41 Seminários Brasil, brasis 50 Eventos Especiais 52 Ação Social 53 Artes Cênicas 54 Música 62 Visitas Guiadas 63 Prêmios 66 Bibliotecas 68 Lexicologia e Lexicografia 69 Publicações 70 Arquivo 71 Portal 72 Posses 80 Atividades no Plano Internacional 86 Diretoria da ABL 2016 | 2017 88 Nominata ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS Diretoria 2017 Presidente Domicio Proença Filho Secretária-Geral Nélida Piñon Primeira-Secretária Ana Maria Machado Segundo-Secretário Merval Pereira Tesoureiro Marco Lucchesi APRESENTAÇÃO Em 2017, superlativaram-se os reflexos da crise eco- CEPELP-ABL, idealização do presidente, em fase de nômico-financeira vivida pelo país. Mesmo em face de implementação. tal circunstância, a Diretoria, mantidas e ampliadas as O outro espaço de atuação intensificada foi a pre- medidas emergenciais adotadas desde o ano anterior, sença internacional da Academia. Oito acadêmicas e assegurou a continuidade do desenvolvimento do Pla- acadêmicos representaram a Casa, ao longo do ano, no de Ação que se propôs. em missões individuais em vários países e que seguem Tiveram sequência, em plenitude, os tradicionais explicitadas neste Relatório. A propósito, a convite da Ciclos de Conferências e o Seminário Brasil, brasis, Missão Permanente na ONU, o presidente coordenou intensificada a reflexão sobre a Cultura brasileira, num a organização da mesa-redonda a realizar-se na sede convite para pensar o Brasil. Reverenciou-se a memó- da Organização, em Nova Iorque, com a participação ria, com relevo nas comemorações dos 120 anos da dos presidentes da Academia das Ciências de Lisboa, Casa e nas homenagens aos centenários de acadêmi- da Academia Angolana de Letras e da Academia Ca- cos falecidos. -

As Figuras De Linguagem Na Gramática Secundária De Said Ali E Na Moderna Gramática Portuguesa De Evanildo Bechara – Um Estudo Descritivo-Analítico
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC/SP Leila Cristina Mendes AS FIGURAS DE LINGUAGEM NA GRAMÁTICA SECUNDÁRIA DE SAID ALI E NA MODERNA GRAMÁTICA PORTUGUESA DE EVANILDO BECHARA – UM ESTUDO DESCRITIVO-ANALÍTICO Mestrado em Língua Portuguesa SÃO PAULO 2010 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC/SP Leila Cristina Mendes AS FIGURAS DE LINGUAGEM NA GRAMÁTICA SECUNDÁRI, DE SAID ALI E NA MODERNA GRAMÁTICA PORTUGUESA DE EVANILDO BECHARA – UM ESTUDO DESCRITIVO-ANALÍTICO Mestrado em Língua Portuguesa Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Mestre em Língua Portuguesa, sob a orientação da Professora Doutora Leonor Lopes Fávero. SÃO PAULO 2010 BANCA EXAMINADORA MENDES, Leila Cristina. 2010. As Figuras de Linguagem na Gramática Secundária de Said Ali e na Moderna Gramática Portuguesa de Evanildo Bechara – um estudo descritivo-analítico. Dissertação (Mestrado em Língua Portuguesa). São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo / Programa de Pós- Graduação em Língua Portuguesa. RESUMO Esta dissertação situa-se na linha de pesquisa História e Descrição da Língua Portuguesa do Programa de Estudos Pós Graduados em Língua Portuguesa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tem por objeto de estudo as figuras de linguagem presentes na Gramática Secundária da Língua Portuguesa de Manuel Said Ali e na Moderna Gramática Portuguesa de Evanildo Bechara. O objetivo principal que norteia esta pesquisa é descrever e analisar como as obras Gramática Secundária de Said Ali e a Moderna Gramática Portuguesa de Bechara abordam as figuras de linguagem. Por estar alicerçada nos pressupostos teóricos da História das Ideias Linguísticas, esta investigação considera os aspectos histórico, político, social, econômico, cultural e educacional em que as gramáticas foram construídas. -

Traducao Literatura
Literatura brasileira traduzida para o japonês Livro (em Autor Título (original) Título Tradutor Editora Livro Ano português) 1 Adonias Filho O Rei Ou Kazuko Hirokawa Shinsekaisha Latin American Novel Coleção dos 1977 Burajiru Bungaku Contos Brasileiros Tanpenshu 2 Adonias Filho As Velhas Yonin no rooba Mitsuko Kawai Shinsekaisha Latin American Novel As Velhas 1978 Burajiru Bungaku Tanpenshu Yonin no rooba 3 Afonso Schmidt O Santo Seija Kikuo Furuno Oka Shobo Burajiru Porutogaru Coletânea da 1978 Bungakusen I Literatura Luso- Brasileira I 4 Agostinho Olavo O Anjo Tenshi Ayako Hashimoto Teatro Burajiru Gikyoku Sen Antologia do 1977 Teatro Brasileiro 5 Alfredo d'Escragnolle Inocência Inosenshia Kazuteru Kobayashi Chubu Nihon Inosenshia Inocência 1980 Taunay Kyoiku Bunka Kai 6 Almeida Fischer O Mastro Takeuma Kazuko Hirokawa Shinsekaisha Latin American Novel Coleção dos 1977 Burajiru Bungaku Contos Brasileiros Tanpenshu 7 Álvaro Alves de Faria Severino Seberiino Kazuko Hirokawa Shinsekaisha Latin American Novel Coleção dos 1983 Sanpauro Bungaku Contos de São Tanpenshu Paulo Page 1 Literatura brasileira traduzida para o japonês 8 Anibal M. Machado A Morte da Porta-estandarte Sanba no shinfonii Kazuko Hirokawa Shinsekaisha Latin American Novel Coleção dos 1977 Burajiru Bungaku Contos Brasileiros Tanpenshu 9 Anna Maria Martins Decisão Jeibi Kazuko Hirokawa Shinsekaisha Latin American Novel Coleção dos 1983 Sanpauro Bungaku Contos de São Tanpenshu Paulo 10 Antonio de Alcântara Apólogo Brasileiro sem Veu Tosatsujô no kaeri Kazuko Hirokawa Shinsekaisha -

Revista Brasileira
Revista Brasileira Fase VII Outubro-Novembro-Dezembro 2001 Ano VIII No 29 Esta a glória que fica, eleva, honra e consola. Machado de Assis ACADEMIA BRASILEIRA REVISTA BRASILEIRA DE LETRAS 2001 Diretoria: Diretor: Tarcísio Padilha – presidente João de Scantimburgo Alberto da Costa e Silva – secretário-geral Lygia Fagundes Telles – primeira-secretária Conselho Editorial: Carlos Heitor Cony – segundo-secretário Miguel Reale, Carlos Nejar, Ivan Junqueira – tesoureiro Arnaldo Niskier, Oscar Dias Corrêa Membros efetivos: Produção editorial e Revisão Affonso Arinos de Mello Franco, Nair Dametto Alberto da Costa e Silva, Alberto Venancio Filho, Antonio Olinto, Ariano Suassuna, Projeto gráfico Arnaldo Niskier, Candido Mendes de Victor Burton Almeida, Carlos Heitor Cony, Carlos Nejar, Celso Furtado, Eduardo Portella, Evandro Lins e Silva, Editoração eletrônica Evanildo Cavalcante Bechara, Estúdio Castellani Evaristo de Moraes Filho, Pe. Fernando Bastos de Ávila, Geraldo França de Lima, Ivan Junqueira, ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS o Ivo Pitanguy, João de Scantimburgo, Av. Presidente Wilson, 203 – 4 andar João Ubaldo Ribeiro, José Sarney, Josué Rio de Janeiro – RJ – CEP 20030-021 Montello, Lêdo Ivo, Dom Lucas Moreira Telefones: Geral: (0xx21) 2524-8230 Neves, Lygia Fagundes Telles, Marcos Fax: (0xx21) 220.6695 Almir Madeira, Marcos Vinicios Vilaça, E-mail: [email protected] Miguel Reale, Murilo Melo Filho, Nélida site: http://www.academia.org.br Piñon, Oscar Dias Corrêa, Rachel de Queiroz, Raymundo Faoro, As colaborações são solicitadas. Roberto Marinho, Sábato Magaldi, Sergio Corrêa da Costa, Sergio Paulo Rouanet, Tarcísio Padilha. Sumário Celebração – Centenário de Murilo Mendes EDITORIAL . 5 JOSUÉ MONTELLO Pretexto para louvar Murilo Mendes . 7 MASSAUD MOISÉS Compreensão de Murilo Mendes .