Paulonascimentoverano.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

HERITAGE UNDER SIEGE in BRAZIL the Bolsonaro Government Announced the Auction Sale of the Palácio Capanema in Rio, a Modern
HERITAGE UNDER SIEGE IN BRAZIL the Bolsonaro Government announced the auction sale of the Palácio Capanema in Rio, a modern architecture icon that was formerly the Ministry of Education building FIRST NAME AND FAMILY NAME / COUNTRY TITLE, ORGANIZATION / CITY HUBERT-JAN HENKET, NL Honorary President of DOCOMOMO international ANA TOSTÕES, PORTUGAL Chair, DOCOMOMO International RENATO DA GAMA-ROSA COSTA, BRASIL Chair, DOCOMOMO Brasil LOUISE NOELLE GRAS, MEXICO Chair, DOCOMOMO Mexico HORACIO TORRENT, CHILE Chair, DOCOMOMO Chile THEODORE PRUDON, USA Chair, DOCOMOMO US LIZ WAYTKUS, USA Executive Director, DOCOMOMO US, New York IVONNE MARIA MARCIAL VEGA, PUERTO RICO Chair, DOCOMOMO Puerto Rico JÖRG HASPEL, GERMANY Chair, DOCOMOMO Germany PETR VORLIK / CZECH REPUBLIC Chair, DOCOMOMO Czech Republic PHILIP BOYLE / UK Chair, DOCOMOMO UK OLA ODUKU/ GHANA Chair, DOCOMOMO Ghana SUSANA LANDROVE, SPAIN Director, Fundación DOCOMOMO Ibérico, Barcelona IVONNE MARIA MARCIAL VEGA, PUERTO RICO Chair, DOCOMOMO Puerto Rico CAROLINA QUIROGA, ARGENTINA Chair, DOCOMOMO Argentina RUI LEAO / MACAU Chair, DOCOMOMO Macau UTA POTTGIESSER / GERMANY Vice-Chair, DOCOMOMO Germany / Berlin - Chair elect, DOCOMOMO International / Delft ANTOINE PICON, FRANCE Chairman, Fondation Le Corbusier PHYLLIS LAMBERT. CANADA Founding Director Imerita. Canadian Centre for Architecture. Montreal MARIA ELISA COSTA, BRASIL Presidente, CASA DE LUCIO COSTA/ Ex Presidente, IPHAN/ Rio de Janeiro JULIETA SOBRAL Diretora Executiva, CASA DE LUCIO COSTA, Rio de Janeiro ANA LUCIA NIEMEYER/ BRAZIL -

1 Instituições Culturais
R.cient./FAP, Curitiba, v.4, n.1 p.1-19, jan./jun. 2009 1 INSTITUIÇÕES CULTURAIS: GÊNERO, NARRATIVAS E MEMÓRIAS Adriana Vaz 1 RESUMO: Neste artigo, são discutidas as várias funções atribuídas ao museu ao longo da sua trajetória como instituição de conhecimento, cultura e lazer. Dentre as considerações teóricas pertinentes à Sociologia da Arte, discute-se sua abrangência tendo como objeto de estudo as instituições no campo da arte. Empiricamente, o foco é a pesquisa de gênero, ou seja, a transmissão da produção feminina nas artes visuais comparando três espaços de legitimação: o Museu Oscar Niemeyer (MON), as pastas [arte br] produzidas pelo Instituto Arte na Escola pólo UNICENTRO/PR e o Livro Didático de Arte adotado pelo Estado do Paraná para o Ensino Médio. PALAVRAS-CHAVE : sociologia da arte; produção feminina; público; museu. ABSTRACT: The different functions assigned to museums along their history as institutions of knowledge, culture and leisure are discussed in this article. Among the theoretical considerations relevant to the Sociology of Art, the scope of the museum is discussed, having as an object of study the institutions in the field of art. Empirically, the focus is on gender research, that is, the transmission of works produced by women in the visual arts as three legitimating spaces are compared: the Oscar Niemeyer Museum (ONM), the materials [art br] produced by the Institute Art in School UNICENTRO/PR pole and the Art Textbook published by the state of Paraná for middle school. KEYWORDS : sociology of art; production by women; audience; museum. INTRODUÇÃO A pesquisa contempla as áreas de artes visuais, teoria da recepção e sociologia da arte, sendo assim, a relevância é tanto teórica quanto prática, visto que cabe ao sociólogo elucidar o processo de criação do status do artista e sua obra, ou seja, não a produção em si mesma, mas como determinado objeto e /ou produto ascende ao cânone de arte. -

Guia SP Design 2020
2020 11 Avenida Paulista. Foto de Miguel Costa Junior. 172 “Queremos o design útil e necessário, belo, amigo do homem e do planeta.” Maria Helena Estrada PATROCÍNIO APOIO REALIZAÇÃO TOK&STOK A Tok&Stok nasceu em 1978 com o propósito de unir uma loja de móveis, design diferenciado, bons preços e entrega rápida.O “Tok” vem do design inovador dos produtos e do charmedas lojas. O “Stok” está presente no atendimento agilizado ao cliente, disponibilizando a retirada imediata como opção de entrega para a maioria de seus produtos. A marca Tok&Stok é uma referência no mercado e vende estilo de vida e inspiração, sendo que em seu portfólio estão trabalhos de designers consagrados no Brasil e no mundo. Com lojas amplas e elegantes, a empresa inovou ao criar ambientes decorados com os produtos de linha em todas as unidades, atraindo consumidores que buscam ideias para casa, gostam de interagir com o espaço e de sentir os produtos de perto. Entre os seus atrativos, destaca-se a grande variedade de sortimento de móveis e objetos decorativos, com mais de 11 mil itens em sua linha de produtos. A Tok&Stok está presente em todo o país com 59 lojas, sendo 11delas na cidade de São Paulo. IED O Istituto Europeo di Design é uma rede internacional de inteligências criativas, unindo educação, pesquisa e ação em design, moda e comunicação. Fundado na Itália, em 1966, o IED se apresenta como um centro de propostas inovadoras, com um modelo educacional pragmático e culturalmente rico, apoiado na síntese do pensamento de seu fundador Francesco Morelli: “saber e saber fazer”. -

O QUE SE VÊ NO CERRADO Por Agnaldo Farias
O QUE SE VÊ NO CERRADO por Agnaldo Farias Se é fato que um artista muda, que fique claro que ele muda em função de sua obra, por imposições dela, por caminhos que ela só concede ao ser construída, o que se faz frequentando materiais e instru- mentos, e é por eles que ela vai se abrindo em alternativas que o artista sequer imaginava de antemão, até porque, nesses casos, nunca se sabe exatamente o que se quer. Parafraseando Paul Klee, “o artista sabe tudo, mas só quando acaba”. Assim será mais acertado afirmar que o artista não muda por si só mas, sim, na construção de sua obra. Formulação que serve para dissipar de uma vez por todas esse grande mal en- tendido que consiste em supor que de um lado estamos nós e de outro o mundo e, mais do que isso, que pre- valecemos sobre ele. Convém não esquecer que o mundo, ponto de meu apoio em sentido amplo, é o que me move. Movo-me nele e por causa dele. E é por seu intermédio, no contato com a matéria variada, dando-me conta de suas idiossincrasias, aprendendo sua maneira de ser, que eu me faço. Como argumenta Joseph Brodsky, a biografia de um poeta “está em suas vogais e sibilantes, em sua métrica, em suas rimas e metáforas”( 1 ), raciocínio que, em se tratando de um músico, deve ser pensado na maneira com que ele lida com os timbres, alturas e durações, prevendo sua florescência nos instrumentos musicais, em seu controle do silêncio e em sua capacidade de articulá-lo com o som; no pintor traduz-se numa história pessoal que se monta já a partir da escolha do tamanho do papel ou da tela, do campo – não necessariamente branco -, retesado ou não em bastidores de madeira, de pé, fixado sobre o planos vertical da parede ou aberto sobre o chão como uma piscina aparentemente seca, inenfática somente para aqueles que não sabem ver, e que ele ousa desafiar armado de cores que podem vir em pó ou misturadas ao óleo, solvente, pincel, lápis, mão, sabe-se lá do que mais, dado que virtualmente infinitos os meios que se pode fazer uso com a intenção de fazer com que algo medre ali. -

Temporada 2014 32 Assinaturas 144
MINISTÉRIO DA CULTURA, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E SECRETARIA DA CULTURA APRESENTAM 2014 TEMPORADA ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO TEMPORADA 2014 32 ASSINATURAS 144 Capa_Assinatura_4.0.indd 1 25/10/13 11:40 Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo prepara uma temporada inesquecível com grande satisfação, e plena certeza da importância em dar continuidade ao tra- para celebrar, em 2014, seus 60 anos de existência. balho desta entidade, que me dirijo ao público da Orquestra Sinfônica do Estado A É uma oportunidade especial para desfrutar da beleza e da técnica desta que é Éde São Paulo, pela primeira vez, na condição de presidente do seu Conselho a melhor orquestra sinfônica do Brasil e, por sua excelência, reconhecida internacional- Administrativo. mente como uma das melhores do mundo. Não é missão fácil suceder o ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso, que, Num testemunho da força e do acerto do modelo de gestão implantado pela Fundação Osesp, ao longo dos últimos oito anos desempenhou esta função com muito empenho e competência. a orquestra vê fortalecida sua vocação de promover transformações culturais e sociais profundas. Uma coisa é certa: daremos continuidade ao amparo, criação e fomento de novas Têm destaque, em sua programação, os concertos a preço popular, os concertos ma- ideias que ampliem a visibilidade da instituição e fortaleçam seu vínculo com a socie- tinais gratuitos e as apresentações ao ar livre. E é motivo de grande orgulho o Osesp dade. Seguiremos com o propósito de excelência e disseminação da cultura, que per- Itinerante e os programas educativos da Fundação. -

Lisboa Africana”
LUZIA GOMES FERREIRA A POÉTICA DA EXISTÊNCIA NAS MARGENS: PERCURSOS DE UMA MUSEÓLOGA-POETA PELOS CIRCUITOS ARTÍSTICOS DA “LISBOA AFRICANA” Orientador: Professor Doutor Marcelo Nascimento Bernardo da Cunha Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração Lisboa 2018 LUZIA GOMES FERREIRA A POÉTICA DA EXISTÊNCIA NAS MARGENS: PERCURSOS DE UMA MUSEÓLOGA-POETA PELOS CIRCUITOS ARTÍSTICOS DA “LISBOA AFRICANA” (versão provisória para defesa pública) Tese apresentada para a obtenção do Grau de Doutora em Museologia no Curso de Doutoramento em Museologia, conferido pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Orientador: Professor Doutor Marcelo Nascimento Bernardo da Cunha. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração Departamento de Museologia Lisboa 2018 Luzia Gomes Ferreira. A poética da existência nas margens: percursos de uma museóloga-poeta pelos circuitos artísticos da Lisboa Africana. 2 Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração Departamento de Museologia Luzia Gomes Ferreira. A poética da existência nas margens: percursos de uma museóloga-poeta pelos circuitos artísticos da Lisboa Africana. a Não-tEse metodologias… epistemologias… fontes… campos… dados… análises… produção… escritas… contratos… intelectualidades… títulos… diplomas… desconhecimentos em margens atlânticas… outro dia me peguei pensando: onde está a minha tese? qual corpo corporificado habita essa tese? se alguém já disse antes de mim por que eu preciso repetir? eu quero criar uma não-tese em desuso desejo validar as minhas vivências atlânticas… escrever conforme os pressupostos de uma vida lazer segundo a desformatação do saber de acordo com o cotidiano-vivido observado da minha janela aberta em dia de verão… (luZgomeS) Um dia ainda vou me redimir por inteiro do pecado do intelectualismo viu, se Deus quiser. -
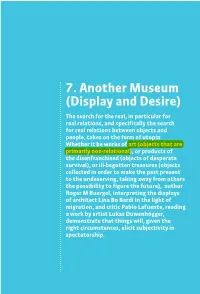
7. Another Museum (Display and Desire)
7. Another Museum (Display and Desire) The search for the real, in particular for real relations, and specifically the search for real relations between objects and people, takes on the form of utopia. Whether it be works of art (objects that are primarily non-relational), or products of the disenfranchised (objects of desperate survival), or ill-begotten treasures (objects collected in order to make the past present to the undeserving, taking away from others the possibility to figure the future), author Roger M Buergel, interpreting the displays of architect Lina Bo Bardi in the light of migration, and critic Pablo Lafuente, reading a work by artist Lukas Duwenhögger, demonstrate that things will, given the right circumstances, elicit subjectivity in spectatorship. agency, ambivalence, analysis: approaching the museum with migration in mind — 177 The Migration of a Few Things We Call − But Don’t Need to Call − Artworks → roger m buergel → i In 1946, 32-year-old Italian architect Lina Bo Bardi migrated to Brazil. She was accompanying her husband, Pietro Maria Bardi, who was a self- taught intellectual, gallerist and impresario of Italy’s architectural avant garde during Mussolini’s reign. Bardi had been entrusted by Assis de Chateaubriand, a Brazilian media tycoon and politician, with creating an art institution of international standing in São Paulo. Te São Paulo Art Museum (MASP) had yet to fnd an appropriate building to house its magnifcent collection of sculptures and paintings by artists ranging from Raphael to Manet. Te recent acquisitions were chosen by Bardi himself on an extended shopping spree funded by Assis Chateaubriand, who had taken out a loan from Chase Manhattan Bank in an impoverished, chaotic post-war Europe. -

Assessoria De Imprensa Do Gabinete
RESENHA DE NOTÍCIAS CULTURAIS Edição Nº 75 [ 9/2/2012 a 15/2/2012 ] Sumário CINEMA E TV...............................................................................................................4 O Globo - Das senzalas ao filão ‘favela movie’ / Entrevista / João Carlos Rodrigues.....................4 Estado de Minas – Ela fala da gente ..............................................................................................4 O Globo - Na parede da memória...................................................................................................6 Zero Hora – Morte e vida sertaneja.................................................................................................9 Deutsche Welle - “Olhe para mim de novo” mostra jornada pouco usual pelo sertão.....................9 Folha de S. Paulo – "Alô, Alô, Terezinha!" deixa Abelardo Barbosa de fora.................................10 O Globo - Brasileiro ‘Xingu’ tem primeira sessão concorrida........................................................11 O Globo - Uma equação para rodar três longas em três semanas...............................................11 Correio Braziliense - Senna vence Bafta.......................................................................................13 Estado de Minas – O povo que ri .................................................................................................13 Folha de S. Paulo – Aïnouz começa a rodar 'filme de macho'.......................................................16 O Globo - O conforto do desafio....................................................................................................17 -

Leilão De Arte
JUCESP Nº 336 LEILÃO DE ARTE DIAS 18 E 19 DE MARÇO (TERÇA E QUARTA-FEIRA) ÀS 21:00 HORAS ATENÇÃO PARA OS ENDEREÇOS PRIMEIRA NOITE - LOTES 1 A 138 DIA 18 - LEOPOLLDO JARDINS RUA PRUDENTE CORREIA, 432 - JARDIM EUROPA (ESQUINA COM A AV. FARIA LIMA, EM FRENTE AO SHOPPING IGUATEMI) SEGUNDA NOITE - LOTES 139 A 265 DIA 19 - JAMES LISBOA LEILOEIRO OFICIAL RUA DR. MELO ALVES, 397 - JARDINS No dia do pregão as obras serão apresentadas somente por projeção, a apreciação física das mesmas poderá ser feita somente durante a exposição. Apoio: Textos: Fernando AQ Mota LEILÃO DE ARTE ÍNDICE Adolphe D’ Hastrel ........................................ 226 Estevan De Souza ........................................ 188 Nuno Ramos .................................................. 153 DIAS 18 E 19 DE MARÇO Adriano Lemos .............................................. 265 Fábio Miguez ........................................... 36, 162 Omar Rayo ......................................................... 1 (TERÇA E QUARTA-FEIRA) Alberto Balestro ........................................... 257 Fayga Ostrower ............................................ 245 Orlando Teruz ............................... 130, 194, 195 Alberto Lume ................................................ 260 Fernando Lemos .............................................. 31 OsGemeos ........................................................ 42 Aldemir Martins ...... 62, 117, 119, 132, 133, 221 Fernando Odriozola ............................ 142, 208 Otto Stupakoff ............................................. -

Ideias De Brasil Nas Representações De Um Crítico E De Artistas E Arquitetos Italianos Depois Da Segunda Guerra Mundial Anais Do Museu Paulista, Vol
Anais do Museu Paulista ISSN: 0101-4714 [email protected] Universidade de São Paulo Brasil Coelho Sanches Corato, Aline Além do “silêncio de um oceano”. Ideias de Brasil nas representações de um crítico e de artistas e arquitetos italianos depois da Segunda Guerra Mundial Anais do Museu Paulista, vol. 24, núm. 2, mayo-agosto, 2016, pp. 187-215 Universidade de São Paulo São Paulo, Brasil Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27348477007 Como citar este artigo Número completo Sistema de Informação Científica Mais artigos Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal Home da revista no Redalyc Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto http://dx.doi.org/10.1590/1982-02672016v24n0206 Além do “silêncio de um oceano”. Ideias de Brasil nas representações de um crítico e de artistas e arquitetos italianos depois da Segunda Guerra Mundial1 Aline Coelho Sanches Corato2 1. Este artigo é uma síntese do primeiro capítulo da mi- nha tese de doutorado de- RESUMO: Este artigo investiga as ideias de Brasil formuladas em uma seleção de cartas, ar- fendida em março de 2012. O trabalho foi desenvolvido tigos, fotografias, desenhos, pinturas e mostras, entre 1947 e 1963 pelos arquitetos Lina Bo com bolsa do Politecnico di Bardi e Giancarlo Palanti, pelos artistas Roberto Sambonet e Bramante Buffoni, e pelo crítico Milano, sob orientação do prof. Daniele Vitale (Politec- de arte Pietro Maria Bardi – italianos imigrados no país após a Segunda Guerra Mundial. O nico di Milano), co-orientação novo país é visto como o lugar onde parece possível a realização das promessas da arte e da do prof. -

MAM Leva Obras De Seu Acervo Para As Ruas Da Cidade De São Paulo Em Painéis Urbanos E Projeções
MAM leva obras de seu acervo para as ruas da cidade de São Paulo em painéis urbanos e projeções Ação propõe expandir as fronteiras do Museu para além do Parque Ibirapuera, para toda a cidade, e busca atingir públicos diversos. Obras de artistas emblemáticos da arte brasileira, de Tarsila do Amaral a Regina Silveira, serão espalhadas pela capital paulista Incentivar e difundir a arte moderna e contemporânea brasileira, e torná-la acessível ao maior número possível de pessoas. Este é um dos pilares que regem o Museu de Arte Moderna de São Paulo e é também o cerne da ação inédita que a instituição promove nas ruas da cidade. O MAM expande seu espaço físico e, até 31 de agosto, apresenta obras de seu acervo em painéis de pontos de ônibus e projeções de escala monumental em edifícios do centro de São Paulo. A ação MAM na Cidade reforça a missão do Museu em democratizar o acesso à arte e surge, também, como resposta às novas dinâmicas sociais impostas pela pandemia. “A democratização à arte faz parte da essência do MAM, e é uma missão que desenvolvemos por meio de programas expositivos e iniciativas diversas, desde iniciativas pioneiras do Educativo que dialogam com o público diverso dentro e fora do Parque Ibirapuera, até ações digitais que ampliam o acesso ao acervo, trazem mostras online e conteúdo cultural. Com o MAM na Cidade, queremos promover uma nova forma de experienciar o Museu. É um presente que oferecemos à São Paulo”, diz Mariana Guarini Berenguer, presidente do MAM São Paulo. Ao longo de duas semanas, MAM na Cidade apresentará imagens de obras de 16 artistas brasileiros espalhadas pela capital paulista em 140 painéis em pontos de ônibus. -

Diagramação Mestrado Sergio.Indd
SÉRGIO MIGUEL FRANCO ICONOGRAFIAS DA METRÓPOLE: GRAFITEIROS E PIXADORES REPRESENTANDO O CONTEMPORÂNEO 1 Dissertação apresentada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestre em Arquitetura e Urbanismo ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: PROJETO, ESPAÇO E CULTURA ORIENTADORA: PROFª. DRª. VERA MARIA PALLAMIN JUNHO DE 2009 AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. E-MAIL: [email protected] Franco, Sérgio Miguel F825i Iconografias da metrópole: grafiteiros e pixadores representando o contemporâneo / Sérgio Miguel Franco. --São Paulo, 2009. 2 175 p. : il. Dissertação (Mestrado - Área de Concentração: Projeto Espaço e Cultura) - FAUUSP. Orientadora: Vera Maria Pallamin 1.Graffiti 2.Arte contemporânea 3.Mercado de arte 4.Arte na paisagem urbana I.Título CDU 7.036 3 IN MEMORIAN A Walter Benedito Miguel, que em sua conduta de humildade pungente me ofertou o aprendizado sobre a sociabilidade do homem simples. AGRADECIMENTOS Ofereço esta dissertação à Satiko Aramaghi, que na coordenação do projeto pedagógico do CEFAM de Jales, estabeleceu um pro- grama de cunho republicano que mobilizou em mim a disposição crítica sem intermédio do clichê afetivo. Não poderia dizer que somos amigos, muito menos que influenciou na minha pesquisa, mas me ofereceu um espelho próspero quando possuía 15 anos de idade, me abrindo para uma perspectiva de pertencimento ao mundo não baseada restritamente à esfera privada. Sem ela e os princípios internalizados durante a minha adolescência, permaneceria nos grotões do Estado de São Paulo, numa região em que vigora o provincianismo arcaico.