Dissertacao Tales Giovani Armiliato
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Copyright by Cécile Hélène Christiane Rey 2010
Copyright by Cécile Hélène Christiane Rey 2010 The Dissertation Committee for Cécile Hélène Christiane Rey certifies that this is the approved version of the following dissertation: Planning language practices and representations of identity within the Gallo community in Brittany: A case of language maintenance Committee: _________________________________ Jean-Pierre Montreuil, Supervisor _________________________________ Cinzia Russi _________________________________ Carl Blyth _________________________________ Hans Boas _________________________________ Anthony Woodbury Planning language practices and representations of identity within the Gallo community in Brittany: A case of language maintenance by Cécile Hélène Christiane Rey, B.A.; M.A. Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy The University of Texas at Austin December, 2010 Acknowledgements I would like to thank my parents and my family for their patience and support, their belief in me, and their love. I would like to thank my supervisor Jean-Pierre Montreuil for his advice, his inspiration, and constant support. Thank you to my committee members Cinzia Russi, Carl Blyth, Hans Boas and Anthony Woodbury for their guidance in this project and their understanding. Special thanks to Christian Lefeuvre who let me stay with him during the summer 2009 in Langan and helped me realize this project. For their help and support, I would like to thank Rosalie Grot, Pierre Gardan, Christine Trochu, Shaun Nolan, Bruno Chemin, Chantal Hermann, the associations Bertaèyn Galeizz, Chubri, l’Association des Enseignants de Gallo, A-Demórr, and Gallo Tonic Liffré. For financial support, I would like to thank the Graduate School of the University of Texas at Austin for the David Bruton, Jr. -

Exploring Occitan and Francoprovençal in Rhône-Alpes, France Michel Bert, Costa James
What counts as a linguistic border, for whom, and with what implications? Exploring Occitan and Francoprovençal in Rhône-Alpes, France Michel Bert, Costa James To cite this version: Michel Bert, Costa James. What counts as a linguistic border, for whom, and with what implications? Exploring Occitan and Francoprovençal in Rhône-Alpes, France. Dominic Watt; Carmen Llamas. Language, Borders and Identity, Edinburgh University Press, 2014, Language, Borders and Identity, 0748669779. halshs-01413325 HAL Id: halshs-01413325 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01413325 Submitted on 9 Dec 2016 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. What counts as a linguistic border, for whom, and with what implications? Exploring Occitan and Francoprovençal in Rhône-Alpes, France Michel Bert (DDL, Université Lumière/Lyon2) [email protected] James Costa (ICAR, Institut français de l’éducation/ENS de Lyon) [email protected] 1. Introduction Debates on the limits of the numerous Romance varieties spoken in what was once the western part of the Roman Empire have been rife for over a century (e.g. Bergounioux, 1989), and generally arose in the context of heated discussions over the constitution and legitimation of Nation-states. -

Project A.B.C. Bronx Academic Bilingual Career Program, 1982-1983. O.E.E. Evaluation Report. 'INSTITUTION New York City Board of Education, Brooklyn, N.Y
DOCUMENT RESUME ED 250 431 UD 023 896 AUTHOR DiMartino, Vincent James; Schulman, Robert TITLE Project A.B.C. Bronx Academic Bilingual Career Program, 1982-1983. O.E.E. Evaluation Report. 'INSTITUTION New York City Board of Education, Brooklyn, N.Y. Office of Educational Evaluation. PUB DATE Mar 84 1 GRANT GOO-8104559 NOTE 70p.; Published by the O.E.E. Bilingual Education Evaluation Unit. For a related document, see ED 234 123. PUB TYPE Reports - Evaluative/Feasibility (142) EDRS PRICE MF01/PC03 Plus Postage. DESCRIPTORS Achievement Gains; Asian Americans; *Bilingual Education Programs; Career Development; *Career Education; Curriculum Development; English (Second Language); High Schools; Hispanic Americans; *Immigrants; Italian Americans; Limited English Speaking; Native Language Instruction; *Program Effectiveness; Pro/gram Evaluation; Staff Development; *Transitional PrograMs; Vietnamese People IDENTIFIERS New York (New York); *Project ABC NY ABSTRACT Ibis multi-site prqgram, in its final year of a two-,,ar funding cycle, provided special resources and supportive ser% Is to approximately 200 recently arrived students of limited, English proficiency in grades 9-12 at three Bronx (New York) high schools. The project served Vietnamese (Chinese ethnics), Italians, and Hispanics. Services provided by each school, as well as student placement policy, differed among sites. However, all project students were incorporated into each school's regular bilingual program and received instruction in English as a Second Language and native language skills and, where available, bilingual content area instruction. Mainstreaming was done gradually and on an individual basis. The project's stated goal was to "let students acquire practical skills and understand the ways in which bilingualism could work for them." Pre-occupational training was to be offered in students' native languages, but this project component was not implemented. -

Measuring Linguistic Distance in Galician Varieties
languages Article From Regional Dialects to the Standard: Measuring Linguistic Distance in Galician Varieties Xulio Sousa Instituto da Lingua Galega, Universidade de Santiago de Compostela, 15782 Santiago de Compostela, Galicia, Spain; [email protected] Received: 12 December 2019; Accepted: 8 January 2020; Published: 13 January 2020 Abstract: The analysis of the linguistic distance between dialect varieties and the standard variety typically focuses on establishing the influence exerted by the standard norm on the dialects. In languages whose standard form was established and implemented well after the beginning of the last century, however, such as Galician, it is still possible to perform studies from other perspectives. Unlike other languages, standard Galician was not based on a single dialect but aspired instead to be supradialectal in nature. In the present study, the tools and methods of quantitative dialectology are brought to bear in the task of establishing the extent to which dialect varieties of Galician resemble or differ from the standard variety. Moreover, the results of the analysis underline the importance of the different dialects in the evaluation of the supradialectal aim, as established by the makers of the standard variety. Keywords: galician language; dialects; standard; typology; linguistic distance; dialectometry; language planning; language standardization 1. Introduction The measurement of linguistics differences is an old topic of linguistic research that has been given new life in recent decades by the advance of data-intensive computing systems in linguistic research. The two main topics of interest in this type of study are the measurement of the linguistic distance between language systems (languages of different families, languages of the same family, social varieties, regional varieties, etc.) and the analysis of linguistic differences within language systems, especially in computational linguistics (word-sense induction, word-sense disambiguation, etc.). -

The Intergenerational Transmission of Catalan in Alghero Chessa, Enrico
Another case of language death? The intergenerational transmission of Catalan in Alghero Chessa, Enrico For additional information about this publication click this link. http://qmro.qmul.ac.uk/jspui/handle/123456789/2502 Information about this research object was correct at the time of download; we occasionally make corrections to records, please therefore check the published record when citing. For more information contact [email protected] Another case of language death? The intergenerational transmission of Catalan in Alghero Enrico Chessa Thesis submitted for the qualification of Doctor of Philosophy (PhD) Queen Mary, University of London 2011 1 The work presented in this thesis is the candidate’s own. 2 for Fregenet 3 Table of Contents Abstract .................................................................................................................................... 8 Acknowledgements .................................................................................................................. 9 Abbreviations ......................................................................................................................... 11 List of Figures ........................................................................................................................ 12 List of Tables ......................................................................................................................... 15 Chapter 1: Introduction ......................................................................................................... -
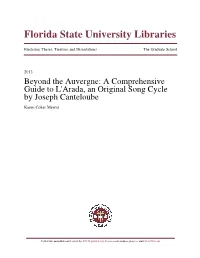
Beyond the Auvergne: a Comprehensive Guide to L'arada, an Original Song Cycle by Joseph Canteloube Karen Coker Merritt
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2013 Beyond the Auvergne: A Comprehensive Guide to L'Arada, an Original Song Cycle by Joseph Canteloube Karen Coker Merritt Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF MUSIC BEYOND THE AUVERGNE: A COMPREHENSIVE GUIDE TO L'ARADA, AN ORIGINAL SONG CYCLE BY JOSEPH CANTELOUBE By KAREN COKER MERRITT A Treatise submitted to the College of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Music Degree Awarded: Fall Semester, 2013 Karen Coker Merritt defended this treatise on November 12, 2013. The members of the supervisory committee were: Douglas Fisher Professor Directing Treatise Matthew Shaftel University Representative Larry Gerber Committee Member Valerie Trujillo Committee Member The Graduate School has verified and approved the above-named committee members, and certifies that the treatise has been approved in accordance with university requirements. ii To my parents Warren Coker and Beverly Sink, who gave me the gift of music. iii ACKNOWLEDGMENTS The completion of this treatise would not have been possible without considerable assistance from several sources. First, I would like to acknowledge my treatise director Douglas Fisher, whose enthusiasm for the works of Joseph Canteloube helped guide me towards this topic. His expertise in editing has been invaluable throughout the writing process, and his general knowledge of all things musical has awed me from the moment I first stepped into his Opera Literature course at FSU. Secondly, for bringing the themes of L'Arada to life, my deepest thanks are also extended to Eric Jenkins, an extraordinary pianist and collaborative artist. -

Language Distinctiveness*
RAI – data on language distinctiveness RAI data Language distinctiveness* Country profiles *This document provides data production information for the RAI-Rokkan dataset. Last edited on October 7, 2020 Compiled by Gary Marks with research assistance by Noah Dasanaike Citation: Liesbet Hooghe and Gary Marks (2016). Community, Scale and Regional Governance: A Postfunctionalist Theory of Governance, Vol. II. Oxford: OUP. Sarah Shair-Rosenfield, Arjan H. Schakel, Sara Niedzwiecki, Gary Marks, Liesbet Hooghe, Sandra Chapman-Osterkatz (2021). “Language difference and Regional Authority.” Regional and Federal Studies, Vol. 31. DOI: 10.1080/13597566.2020.1831476 Introduction ....................................................................................................................6 Albania ............................................................................................................................7 Argentina ...................................................................................................................... 10 Australia ....................................................................................................................... 12 Austria .......................................................................................................................... 14 Bahamas ....................................................................................................................... 16 Bangladesh .................................................................................................................. -

Universidade Federal Da Fronteira Sul Campus Chapecó Programa De Pós-Graduação Em História Curso De Mestrado Em História
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL CAMPUS CHAPECÓ PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA CURSO DE MESTRADO EM HISTÓRIA GRAZIELA VITÓRIA DONIN PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL ÍTALO-BRASILEIRO NA COLÔNIA ERECHIM - RS. CHAPECÓ 2019 GRAZIELA VITÓRIA DONIN PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL ÍTALO-BRASILEIRO NA COLÔNIA ERECHIM - RS. Dissertação apresentada ao programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS como requisito para obtenção do título de Mestre em História sob a orientação da Profª. Drª. Isabel Rosa Gritti. CHAPECÓ 2019 GRAZIELA VITÓRIA DONIN UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL Av. Fernando Machado, 108 E Centro, Chapecó, SC - Brasil Caixa Postal 181 CEP 89802-112 AGRADECIMENTOS Sou grata, primeiramente, a minha família, meu pai Pedro, minha mãe Aldinei, exemplo de mulher forte, meus irmãos Cleber, Evandro e Edivam, cunhadas e sobrinhos que sempre me apoiaram e estiveram ao meu lado, contribuindo na minha formação humana, dando suporte emocional e financeiro nesta minha jornada acadêmica. Agradeço aos colegas da turma 2017 do Mestrado em História – UFFS. Essa caminhada se tornou mais doce e leve na companhia de vocês, pessoas maravilhosas, mentes brilhantes, amigos queridos e cheios de luz. Agradeço ao corpo docente do curso pelas horas de aprendizado, amizade e reflexões que nos proporcionaram. Agradeço a minha orientadora, Profª. Drª. Isabel Rosa Gritti, por não ter me deixado desistir. Pelas sábias orientações e pela sua dedicação, profissionalismo e comprometimento. Agradeço a equipe do Arquivo Histórico Municipal Juarez Miguel Illa Font. Agradeço pela colaboração dos funcionários das respectivas secretarias de cultura dos municípios de São Valentim, Severiano de Almeida, Jacutinga e Aratiba. -

A Comparison of Two Minority Language Communities in France1 Jonathan Robert Ference Swarthmore College Department of Linguistics
1 Sell ase ur gudenn dit : A comparison of two minority language communities in France1 Jonathan Robert Ference Swarthmore College Department of Linguistics 0.0 Abstract Since 1970, cultural changes in France have allowed for a softening of the country’s formerly destructive language policy, though this is happening at a time when both Breton and the langues d’oc have shifted from dominant monolingualism in the regional languages through bilingualism to French monolingualism in just three generations. Despite similarities in usage and attitude patterns, the language maintenance efforts for Breton and Oc have occurred in very different forms. Brief profiles of Oc, Breton, and the language policy situation in France are given before moving into a discussion of the characteristics the two language communities have in common. Each language community and its attributes are then discussed, with particular attention being drawn to the different characters of the revitalization movements. These situations are then discussed in terms of recognized linguistics theory, including the work of Fishman, Dorian, Gal and others. Finally, the prospects for the future of Breton and Oc are evaluated in the context of the hope placed on schooling as the new site of language transmission, with examples like that of Gaelic in Ireland serving as comparison points. Though it relies on the work of Breton linguists like Timm and Broudic and Occitan/Oc linguists like La Font, Blanchet and Dompmartin, this paper is unique in that it compares these two French regional languages in a comparative and contrastive discussion of their linguistic situation and language maintenance efforts. -

The Gascon Énonciatif System: Past, Present, and Future a Study of Language Contact, Change, Endangerment, and Maintenance
The Gascon Énonciatif System: Past, Present, and Future A study of language contact, change, endangerment, and maintenance by Nicole Elise Marcus A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Linguistics in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Gary Holland, Chair Professor Leanne Hinton Professor Johanna Nichols Fall 2010 The Gascon Énonciatif System: Past, Present, and Future A study of language contact, change, endangerment, and maintenance © 2010 by Nicole Elise Marcus Abstract The Gascon Énonciatif System: Past, Present, and Future A study of language contact, change, endangerment, and maintenance by Nicole Elise Marcus Doctor of Philosophy in Linguistics University of California, Berkeley Professor Gary Holland, Chair The énonciatif system is a defining linguistic feature of Gascon, an endangered Romance language spoken primarily in southwestern France, separating it not only from its neighboring Occitan languages, but from the entire Romance language family. This study examines this preverbal particle system from a diachronic and synchronic perspective to shed light on issues of language contact, change, endangerment, and maintenance. The diachronic source of this system has important implications regarding its current and future status. My research indicates that this system is an ancient feature of the language, deriving from contact between the original inhabitants of Gascony, who spoke Basque or an ancestral form of the language, and the Romans who conquered the region in 56 B.C. Since this system initially arose via language contact and Gascon is a minority language threatened by French, can language contact also be the same mechanism to cause its demise? To answer this question, I conducted fieldwork in the Gascon region during 2008-2009 to examine how this system is currently used and taught. -

The Diversity of Languages in the Alpine-Adriatic Region I Linguistic Minorities and Enclaves in Northern Italy1
Herta Maurer-Lausegger, Diversity of languages The diversity of languages in the Alpine-Adriatic region I Linguistic minorities and enclaves in northern Italy1 HERTA MAURER-LAUSEGGER Institute of Slavic Studies, University of Klagenfurt, Austria Der im vorliegenden Beitrag präsentierte multinationale Sprachraum des Alpen-Adria Gebiets stellt zweifelsohne eines der interessantesten und vielfältigsten Kulturräume Europas dar. Durch die jahrhundertelange Symbiose slawischer, germanischer und romanischer Kultur und die bewegte historische Vergangenheit hat sich in diesen Gebieten und Regionen sukzessive eine komplexe Verflechtung von Sprachen, Varietäten, Dialekten und Mundarten entwickelt, die in vielfältigster Weise und in unterschiedlichem Ausmass aufeinander wirken. Die soziolinguistische Situation in diesen multiethnischen Gebieten ist komplex und weist regionsspezifische Besonderheiten auf, die sich in unterschiedlichster Weise manifestieren. - Einige mundartliche Existenzformen des Alpen-Adria-Gebiets sind bereits verschwunden, viele sind vom Aussterben bedroht. Der Bewahrung der am Alpenhauptkamm Norditaliens angesiedelten vielfältigen Mundarten, Dialekte und Varietäten, aber auch der Pflege der kulturellen Identität ethnischer Minderheiten wird zurzeit überall verstärkt Beachtung geschenkt. Ob und in welcher Form hier die Sprachen-, Dialekt- und Varietätenvielfalt bewahrt werden kann, wird wohl von den jeweiligen sprachpolitischen, sozioökonomischen, ethnopsychologischen, rechtli- chen u. a. Faktoren abhängig sein. Die Sprachenvielfalt -
2017 Revisiting the Calssification of Gallo-Italic
Revisiting the classification of Gallo-Italic ANGOR UNIVERSITY Tamburelli, Marco; Brasca, Lissander Digital Scholarship in the Humanities DOI: 10.1093/llc/fqx041 PRIFYSGOL BANGOR / B Published: 01/06/2018 Peer reviewed version Cyswllt i'r cyhoeddiad / Link to publication Dyfyniad o'r fersiwn a gyhoeddwyd / Citation for published version (APA): Tamburelli, M., & Brasca, L. (2018). Revisiting the classification of Gallo-Italic: a dialectometric approach. Digital Scholarship in the Humanities, 33(2), 442-455. https://doi.org/10.1093/llc/fqx041 Hawliau Cyffredinol / General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. 24. Sep. 2021 Revisiting the classification of Gallo-Italic: a dialectometric approach. Marco Tamburelli (Bangor University) Lissander Brasca (Bangor University) Abstract While Gallo-Italic varieties clearly belong to the Romance language family, their subgrouping as either Gallo-Romance or Italo-Romance has been the source of disagreement in the classificatory literature.