Estudos Sobre Macau E Outros Orientes
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Macaenses Em Trânsito: O Império Em Fragmentos (São Paulo, Rio De Janeiro, Lisboa, Macau)”
MAÍRA SIMÔES CLAUDINO DOS SANTOS “Macaenses em trânsito: o Império em fragmentos (São Paulo, Rio de Janeiro, Lisboa, Macau)” Dissertação de Mestrado apresentada ao Departamento de Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas sob a orientação do Prof. Dr. Omar Ribeiro Thomaz. Este exemplar corresponde à redação final da Dissertação defendida e aprovada pela Comissão Julgadora em BANCA EXAMINADORA Banca: Prof. Dr. Omar Ribeiro Thomaz (Orientador) – DA/IFCH-UNICAMP Prof. Dr. John Manuel Monteiro – (Membro) DA/IFCH-UNICAMP Dra. Marta Denise da Rosa Jardim – (Membro) CEBRAP Profa. Dra. Heloisa Buarque de Almeida – Suplente - PAGU-UNICAMP Prof. Dr. Osmundo Santos de Araújo Pinho – Suplente – DA/IFCH-UNICAMP Campinas /2006 FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA DO IFCH - UNICAMP Santos, Maíra Simões Claudino dos Sa59m Macaenses em trânsito : o Império em fragmentos (São Paulo, Rio de Janeiro, Lisboa, Macau) / Maíra Simões Claudino dos Santos. - - Campinas, SP : [s. n.], 2006. Orientador: Omar Ribeiro Thomaz . Dissertação (mestrado ) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. 1. Identidade etnica. 2. Macau - Condições sociais. 3. Migração. 4. Macau (China) - Civilização - Influências portuguesas. I. Thomaz, Omar Ribeiro. II. Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. III. Título. (sfm/ifch) Título em inglês: Macanese in transit : the empire in fragments (São Paulo, Rio de Janeiro, Lisbon, Macau) Palavras – chave em -

BOC Self Banking Service Suspension Schedule
BOC Self Banking Service Suspension Schedule Machine Service Service Location Number Suspend date Recovery date 9011 Bank of China Limited Macau Branch 2018/3/23 2018/3/25 9012 Bank of China Limited Macau Branch 2018/3/23 2018/3/25 9013 Bank of China Limited Macau Branch 2018/3/23 2018/3/25 Bank of China Macau Branch University of Macau 9321 Sub-Branch 2018/3/23 2018/3/25 Bank of China Macau Branch University of Science 9331 and Technology 2018/3/23 2018/3/25 9405 Studio City Macau 2018/3/23 2018/3/25 9518 Portas Do Cerco 2018/3/23 2018/3/25 9521 Portas Do Cerco 2018/3/23 2018/3/25 9543 City of Dreams 2018/3/23 2018/3/25 9544 City of Dreams 2018/3/23 2018/3/25 9548 City of Dreams 2018/3/23 2018/3/25 9550 City of Dreams 2018/3/23 2018/3/25 9559 University Hospital 2018/3/23 2018/3/25 9561 CHCSJ 2018/3/23 2018/3/25 9574 Kiang Wu Hospital 2018/3/23 2018/3/25 9582 MGM MACAU 2018/3/23 2018/3/25 9600 Macau International Airport 2018/3/23 2018/3/25 9609 Sands Cotai Central 2018/3/23 2018/3/25 9614 Sands Cotai Central 2018/3/23 2018/3/25 9620 Sands Cotai Central 2018/3/23 2018/3/25 9622 Sands Cotai Central 2018/3/23 2018/3/25 9623 Sands Cotai Central 2018/3/23 2018/3/25 9624 Sands Cotai Central 2018/3/23 2018/3/25 9626 Sands Cotai Central 2018/3/23 2018/3/25 9644 Macau International Airport 2018/3/23 2018/3/25 9645 Macau International Airport 2018/3/23 2018/3/25 9646 Portas Do Cerco 2018/3/23 2018/3/25 9647 Posto Fronteirico de Cotai 2018/3/23 2018/3/25 9648 Terminal Maritimo de Macau 2018/3/23 2018/3/25 9649 Temporary Ferry Terminal, Estrada -

Wartime Macau
Wartime Macau Under the Japanese Shadow Edited by Geoff rey C. Gunn Hong Kong University Press Th e University of Hong Kong Pokfulam Road Hong Kong www.hkupress.org © 2016 Hong Kong University Press ISBN 978-9 88-8390-51-9 (Hardback) All rights reserved. No portion of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any infor- mation storage or retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. British Library Cataloguing-in-Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Printed and bound by Paramount Printing Co., Ltd. in Hong Kong, China Contents List of Illustrations vii Acknowledgements viii Abbreviations ix Introduction 1 Geoff rey C. Gunn Chapter 1 Wartime Macau in the Wider Diplomatic Sphere 25 Geoff rey C. Gunn Chapter 2 Macau 1937–45: Living on the Edge: Economic Management over Military Defences 55 João F. O. Botas Chapter 3 Hunger amidst Plenty: Rice Supply and Livelihood in Wartime Macau 72 Geoff rey C. Gunn Chapter 4 Th e Macanese at War: Survival and Identity among Portuguese Eurasians during World War II 94 Roy Eric Xavier Chapter 5 Nossa Gente (Our People): Th e Portuguese Refugee Community in Wartime Macau 116 Stuart Braga Chapter 6 Th e British Army Aid Group (BAAG) and the Anti-Japanese Resistance Movement in Macau 141 Geoff rey C. Gunn vi Contents Epilogue 166 Geoff rey C. Gunn Conclusion 178 Geoff rey C. -
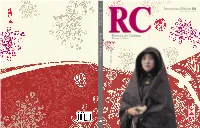
We Must Remember That, in the Beginning, The
Assine a EDITOR é uma revista de Cultura e, domínio do Espírito, é Livre. Avassalada Publisher ao encontro universal das culturas, servente da identidade cultural de Revista de Cultura Subscribe to INSTITUTO CULTURAL Macau, agente de mais íntima relação entre o Oriente e o Ocidente, do Governo da Região Administrativa particularmente entre a China e Portugal. RC propõe-se publicar todos Review of Culture Especial de Macau os textos interessantes aos objectivos confessados, pelo puro critério da CONSELHO DE DIRECÇÃO qualidade. Assim, as opiniões e as doutrinas, expressas ou professas nos textos Editorial Board assinados, ou implícitas nas imagens de autoria, são da responsabilidade Leung Hio Ming, Chan Peng Fai, dos seus autores, e nem na parte, nem no todo, podem confundir-se com a Wong Man Fai, Luís Ferreira orientação da RC. A Direcção da revista reserva-se o direito de não publicar, [email protected] nem devolver, textos não solicitados. EDITOR EXECUTIVO é uma revista simultaneamente publicada nas versões Chinesa e Executive Editor Internacional (em Português e Inglês). Buscando o diálogo e o encontro Sofia Salgado francos de Culturas, RC tem na limpidez a vocação e na transparência [email protected] o seu processo. COORDENADOR Co-ordinator Luís Ferreira is a cultural magazine published in two versions — Chinese and [email protected] International (Portuguese/English)—whose purpose is to reflect the uni- que identity of Macao. The magazine also seeks to promote freedom of CONCEPÇÃO GRÁFICA expression and through the articles published we hope to stimulate ideas Graphic Design and discussion of topics related to Western/Eastern cultural interchange, Grace Lei Iek Iong especially between China and Portugal. -

Public Security Police Force
Public Security Police Force fsm.gov.mo/psp/eng/EDoN.html Services > Immigration > Entry and Exit of Non-residents Entry and Exit of Non-residents I General Principle II Immigration Control III Transfer and Transit IV Border Checkpoints V Documents for Entry to and Departure from Macao VI Entry Requirements VII "Visa" and "Entry Permit" Exemption VIII Limit of Stay Granted upon Arrival IX Entry Refusal X Penalty for Overstaying XI Departure of Non-residents with Loss of Document I General Principle Non-residents of the Macao Special Administrative Region are required to possess a valid passport and "entry permit" or "visa" for entry to Macao, except for people prescribed by certain law, administrative regulation or international law document. II Immigration Control The Immigration Department of the Macao Special Administrative Region keeps a record of the entry and departure of non-local residents on computer, as well as on their passport, travel document or other appropriate document, indicating the limit of stay granted in accordance with Administrative Regulation No.5/2003. III Transfer and Transit 1/10 The transfer or transit of visitors who has no record made at any border and is not issued any "entry permit" at the Macao International Airport, at any immigration checkpoint, or during escort from one immigration checkpoint to another by the authorities is not considered as entry to the Macao Special Administrative Region. Back to top IV Border Checkpoints Contacts Means of Address: Tel: Fax: Office Hours Different Border Checkpoints -

Revista De Cultura Revista De Cultura Review of Culture INSTITUTO CULTURAL Do Governo Da R.A.E
33 International Edition 33 Edição Internacional 33 Janeiro/January 2010 International Edition Edição Internacional Revista de Cultura Revista de Cultura Review of Culture INSTITUTO CULTURAL do Governo da R.A.E. de Macau CULTURAL INSTITUTO Review of Culture IC EDITOR é uma revista de Cultura e, domínio do Espírito, é Livre. Avassalada Publisher ao encontro universal das culturas, servente da identidade cultural de INSTITUTO CULTURAL Macau, agente de mais íntima relação entre o Oriente e o Ocidente, do Governo da Região Administrativa particularmente entre a China e Portugal. RC propõe-se publicar todos Especial de Macau os textos interessantes aos objectivos confessados, pelo puro critério da CONSELHO DE DIRECÇÃO qualidade. Assim, as opiniões e as doutrinas, expressas ou professas nos textos Editorial Board assinados, ou implícitas nas imagens de autoria, são da responsabilidade Ung Vai Meng, Chan Chak Seng, dos seus autores, e nem na parte, nem no todo, podem confundir-se com a Marie MacLeod, Luís Ferreira, orientação da RC. A Direcção da revista reserva-se o direito de não publicar, Wong Io Fong e Paulo Coutinho nem devolver, textos não solicitados. [email protected] é uma revista trimestral, simultaneamente publicada nas versões COORDENADOR Chinesa e Internacional (em Português e Inglês). Buscando o diálogo Co-ordinator e o encontro francos de Culturas, RC tem na limpidez a vocação e na Luís Ferreira [email protected] transparência o seu processo. Edição Internacional / International Edition is a cultural magazine published quarterly in two versions — Chinese EDITOR EXECUTIVO and International (Portuguese/English)—whose purpose is to refl ect the Executive Editor unique identity of Macao. -

IAOD Do Deputado Ho Ion Sang Em 17/02/2016 Face Ao Rápido
(Tradução) IAOD do Deputado Ho Ion Sang em 17/02/2016 Face ao rápido desenvolvimento socioeconómico dos últimos anos, as exigências da sociedade tendem a aumentar no respeitante à fiscalização do dinheiro público, com vista ao seu bom aproveitamento. Assim, o âmbito da auditoria foi alargado e os respectivos trabalhos foram reforçados. Os problemas detectados durante a auditoria são cada vez mais e notórios, e a atenção dos diversos sectores desperta sempre que são divulgados os relatórios do Comissariado de Auditoria. Mas não podemos esquecer que “depois da auditoria os problemas mantêm-se”, portanto, continua por resolver o fenómeno das “várias auditorias e das reincidências”, o que prejudica a fé pública no Governo. A fiscalização através da auditoria visa promover uma melhor governação. A “Declaração de Pequim”, aprovada em 2013 num congresso internacional que reuniu entidades auditoras, aponta claramente que o objectivo e a missão dos órgãos de auditoria dos actuais governos é promover a boa governação do país. Segundo as leis de Macau, o Comissariado de Auditoria tem de fiscalizar a gestão do erário público e de outros recursos públicos, e fazer com que os “sujeitos da auditoria” governem de forma mais transparente, eficiente e eficaz, em prol da boa gestão dos interesses dos cidadãos da RAEM. Que se saiba, os relatórios de auditoria divulgados pelo Comissariado da Auditoria, desde o seu estabelecimento, apontam para problemas com a aplicação e gestão do dinheiro e recursos públicos e para erros que se repetem. Os problemas mais evidentes são as falhas nas obras públicas e a aplicação ineficaz e ilegal do erário público. -

20180119-HAN-LILI-Tese-Versao Final Definitiva
UNIVERSIDADE DE LISBOA FACULDADE DE LETRAS Luís Gonzaga Gomes, Filho da Terra: divulgador e tradutor de imagens da China e de Macau Han Lili Orientadora: Prof. Doutora Alexandra Assis Rosa Tese especialmente elaborada para obtenção do grau de Doutor no ramo de Linguística, na especialidade de Linguística Aplicada 2018 UNIVERSIDADE DE LISBOA FACULDADE DE LETRAS Luís Gonzaga Gomes, Filho da Terra: divulgador e tradutor de imagens da China e de Macau Han Lili Orientadora: Prof. Doutora Alexandra Assis Rosa Tese especialmente elaborada para obtenção do grau de Doutor no ramo de Linguística, na especialidade de Linguística Aplicada Júri: Presidente: Doutor Paulo Jorge Farmhouse Simões Alberto, Professor Catedrático e Diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa Vogais: • Doutor Jing Ming Yao, Professor Catedrático da Faculty of Arts and Humanities, University of Macau; • Doutor Carlos Manuel Bernardo Ascenso André, Professor Associado com Agregação da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra; • Doutor Carlos Manuel Piteira, Professor Auxiliar do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa; • Doutora Alexandra Assis Rosa Queiroz de Barros, Professora Auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, orientadora; • Doutor Everton Vasconcelos Machado, Investigador Auxiliar do Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 2018 2 RESUMO Em meados do século XX, Macau entra num período culturalmente florescente. O conhecimento da língua e da cultura chinesas é apreciado. São muitas as traduções para o português, publicadas em diversos jornais, revistas e livros em Macau, pela elite macaense. A editora Colecção Notícias de Macau publica vinte e três volumes de escritos e tradução, a maioria dos quais é sobre a China e Macau, de autoria de Luís Gonzaga Gomes (1907-1976) – filho da terra. -

Festa Na Rua, Confusão Nas Fronteiras
Programa da TDM D. José Lai diz que renúncia vai divulgar gastronomia do Papa Bento XVI macaense e seus segredos foi um acto de coragem pág 6 última 澳 門 0anos ao serviço 論 3de Macau 壇 日 報 DIRECTOR JOSÉ ROCHA DINIS | DIRECTOR EDITORIAL EXECUTIVO SÉRGIO TERRA | Nº 4210 | QUINTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2013 10 PATACAS FOTO WONG SANG FOTO Festa na rua, confusão nas fronteiras págs 7 a CENTRAIS Cada vez menos jovens Melco Crown prevê início Testes de Pyongyang da RAEM dão entrada da 3ª fase do City of Dreams deixam a China no Instituto de Menores pág 3 até ao final do ano pág 5 “fortemente insatisfeita” última EUA e UE vão negociar Ásia deve “empurrar” maior zona de comércio livre economia mundial O Presidente norte-americano anunciou que os Estados Unidos e A economia mundial vai recuperar a sua vitalidade nos próximos a Europa vão iniciar conversações sobre o que será a maior zona meses devido ao ressurgimento da Ásia, indica um inquérito de comércio livre a nível mundial. “Iremos lançar negociações efectuado a especialistas pelo Instituto Económico Alemão Ifo. sobre um Comércio Transatlântico abrangente e uma Parceria O instituto justifica a evolução do indicador do clima económico de Investimento com a União Europeia - porque o comércio, que mundial devido às avaliações “significativamente mais positivas” é livre e justo através do Atlântico, suporta milhões de empregos sobre as perspectivas do clima económico mundial nos próximos norte-americanos bem remunerados”, disse Barack Obama no seu seis meses. No entanto, o ritmo de recuperação da economia discurso sobre o Estado da União. -

Special List 375: Fiction
special list 375 1 RICHARD C.RAMER Special List 375 Fiction 2 RICHARDrichard c. C.RAMER ramer Old and Rare Books 225 east 70th street . suite 12f . new york, n.y. 10021-5217 Email [email protected] . Website www.livroraro.com Telephones (212) 737 0222 and 737 0223 Fax (212) 288 4169 June 1, 2020 Special List 375 Fiction Items marked with an asterisk (*) will be shipped from Lisbon. SATISFACTION GUARANTEED: All items are understood to be on approval, and may be returned within a reasonable time for any reason whatsoever. VISITORS BY APPOINTMENT special list 375 3 Special List 375 Fiction With the Author’s Signed Presentation Inscription 1. ABELHO, [Joaquim] Azinhal. Arraianos. Histórias de contrabandistas & malteses. [Lisbon]: [Edição do Autor at Tipografia Ideal], 1955. 8°, original illustrated wrappers (minor wear). Light browning. In good to very good condition. Author’s signed two-line presentation inscription on the half-title to Henrique Avelar. 208 pp., (2 ll.). $75.00 FIRST and ONLY EDITION of one of the most important works by [Joaquim] Azinhal Abelho (Nossa Senhora da Orada, Borba, 1916-Lisbon, 1979). Abelho also wrote plays, some in the manner of Gil Vicente and others in the post-Romantic mode. For the Teatro d’Arte de Lisboa, which he founded in 1955 with Orlando Vitorino, he and Vitorino translated plays by Graham Greene, Lorca and Chekhov. ❊ On Abelho, see Dicionário cronológico de autores portugueses IV, 446-7; this is listed as one of his major works. See also João Bigotte Chorão in Biblos, I, 10. NUC: DLC, NN, CLU, MH. -

PORTUGAL E MACAU QUE CHÃO HÁ.Pdf
Portugal e Macau Que Chão Há? David Filipe Loureiro Branco Dissertação de Mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais Janeiro de 2019 Dissertação apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Ciência Política e Relações Internacionais, realizada sob a orientação científica do Professor Doutor Manuel Filipe Canaveira À minha Sasá II PORTUGAL E MACAU: QUE CHÃO HÁ? DAVID FILIPE LOUREIRO BRANCO RESUMO Esta dissertação analisa a possibilidade de aproximar Macau às prioridades estratégicas portuguesas por razão da preservação da sua herança, da substância da ideologia sínica e da ascensão chinesa no Sistema Internacional. Macau, porque teve Portugal no contexto, é mais livre do que outras regiões da China por via da sua excepcionalidade administrativa e tem uma língua, embora residual, e uma cultura que são activamente valorizadas pelo Estado chinês. Tal é evidente pela criação do Fórum Macau logo em 2003 e ainda pela inclusão de directrizes para tal aproximação no XIII Plano Quinquenal (de 2016). A diplomacia aspirante universalista portuguesa – hoje, por força das circunstâncias, com um espírito mais delicado do que a sua visão tradicionalmente irreal – inclui, antes de o ser, também os países lusófonos, embora atrás da Europa e do Atlântico. Se a China pretende, na continuação de uma estratégia de reunificação nacional e de diálogo e acção internacional, usar Macau para a lusofonia, a lusofonia, com um argumento para se discutir, tem de o debater. Neste trabalho é examinada a história de Macau, o panorama actual da Região Administrativa Especial e as estratégias de Portugal e da China. PALAVRAS-CHAVE: Macau, Portugal, China, Estratégia, Política Externa, Lusofonia, União Europeia (UE), Fórum Macau. -

A Case Study of Macau, China
© 2002 WIT Press, Ashurst Lodge, Southampton, SO40 7AA, UK. All rights reserved. Web: www.witpress.com Email [email protected] Paper from: The Sustainable City II, CA Brebbia, JF Martin-Duque & LC Wadhwa (Editors). ISBN 1-85312-917-8 Urban regeneration and the sustainability of colonial built heritage: a case study of Macau, China L Chaplain School of Language and Translation, Macau Polytechnic Institute, China Abstract This paper presents a case study of late twentieth century urban regeneration in the former Portuguese colonial territory of Macau – now designated as a Special Administrative Region of China (Macau SAR). Regeneration in this context is defined and discussed here under the headings: regeneration through reclamation; regeneration through infi-astructure investment; regeneration through preserva- tion. The new Macau SAR Government continues to differentiate Macau fi-om its neighbors by promoting the legacy of a tourist-historic city with a unique archi- tectural fhsion of both West and East as an integral feature of the destination’s marketing strategy. However, regeneration of urban space through reclamation has led to a proliferation of high rise buildings with arguable architectural merit which diminish the appeal of the overwhelmed heritage properties and sites. Future plans for the development of the territory are outlined, including major projects designed to enhance the tourism product through purpose-built leisure and entertainment facilities. 1 Introduction The urban regeneration of the City of Macau can be attributed to significant developments which occurred in the last century of its four hundred years of exis- tence as a Portuguese occupied territory located in China’s southern province of Guangdong – formerly known as Canton.