Cultura Material Ikpeng
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Some Principles of the Use of Macro-Areas Language Dynamics &A
Online Appendix for Harald Hammarstr¨om& Mark Donohue (2014) Some Principles of the Use of Macro-Areas Language Dynamics & Change Harald Hammarstr¨om& Mark Donohue The following document lists the languages of the world and their as- signment to the macro-areas described in the main body of the paper as well as the WALS macro-area for languages featured in the WALS 2005 edi- tion. 7160 languages are included, which represent all languages for which we had coordinates available1. Every language is given with its ISO-639-3 code (if it has one) for proper identification. The mapping between WALS languages and ISO-codes was done by using the mapping downloadable from the 2011 online WALS edition2 (because a number of errors in the mapping were corrected for the 2011 edition). 38 WALS languages are not given an ISO-code in the 2011 mapping, 36 of these have been assigned their appropri- ate iso-code based on the sources the WALS lists for the respective language. This was not possible for Tasmanian (WALS-code: tsm) because the WALS mixes data from very different Tasmanian languages and for Kualan (WALS- code: kua) because no source is given. 17 WALS-languages were assigned ISO-codes which have subsequently been retired { these have been assigned their appropriate updated ISO-code. In many cases, a WALS-language is mapped to several ISO-codes. As this has no bearing for the assignment to macro-areas, multiple mappings have been retained. 1There are another couple of hundred languages which are attested but for which our database currently lacks coordinates. -

Mitos E Outras Narrativas Kamayura
Mitos e outras narrativas Kamayura Pedro Agostinho SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros AGOSTINHO, P. Mitos e outras narrativas Kamayura [online]. 2nd ed. Salvador: EDUFBA, 2009, 210p. ISBN 978-85-232-1203-2. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license. Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 4.0. Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons Reconocimento 4.0. MITOS E OUTRAS NARRATIVAS KAMAYURÁ UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Reitor Naomar Monteiro de Almeida-Filho Vice-Reitor Francisco José Gomes Mesquita EDITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Diretora Flávia Goullart Mota Garcia Rosa Conselho Editorial Titulares Ângelo Szaniecki Perret Serpa Caiuby Alves da Costa Charbel Ninõ El-Hani Dante Eustachio Lucchesi Ramacciotti José Teixeira Cavalcante Filho Maria do Carmo Soares Freitas Suplentes Alberto Brum Novaes Antônio Fernando Guerreiro de Freitas Armindo Jorge de Carvalho Bião Evelina de Carvalho Sá Hoisel Cleise Furtado Mendes Maria Vidal de Negreiros Camargo PEDRO AGOSTINHO MITOS E OUTRAS NARRATIVAS KAMAYURÁ 2a edição EDUFBA Salvador, 2009 ©2009, By Pedro Agostinho Direitos de edição cedidos à Editora da Universidade Federal da Bahia - EDUFBA Feito o depósito legal. Revisão Rosa Virgínia Mattos e Silva Editoração Eletrônica e Capa Rodrigo Oyarzábal Schlabitz Sistema de Bibliotecas - UFBA Agostinho, Pedro. Mitos e outras narrativas Kamayura / Pedro Agostinho. - 2a edição - Salvador: EDUFBA, 2009. 210 p. ISBN: 978-85-232-0590-4 1. -

Peoples in the Brazilian Amazonia Indian Lands
Brazilian Demographic Censuses and the “Indians”: difficulties in identifying and counting. Marta Maria Azevedo Researcher for the Instituto Socioambiental – ISA; and visiting researcher of the Núcleo de Estudos em População – NEPO / of the University of Campinas – UNICAMP PEOPLES IN THE BRAZILIAN AMAZONIA INDIAN LANDS source: Programa Brasil Socioambiental - ISA At the present moment there are in Brazil 184 native language- UF* POVO POP.** ANO*** LÍNG./TRON.**** OUTROS NOMES***** Case studies made by anthropologists register the vital events of a RO Aikanã 175 1995 Aikanã Aikaná, Massaká, Tubarão RO Ajuru 38 1990 Tupari speaking peoples and around 30 who identify themselves as “Indians”, RO Akunsu 7 1998 ? Akunt'su certain population during a large time period, which allows us to make RO Amondawa 80 2000 Tupi-Gurarani RO Arara 184 2000 Ramarama Karo even though they are Portuguese speaking. Two-hundred and sixteen RO Arikapu 2 1999 Jaboti Aricapu a few analyses about their populational dynamics. Such is the case, for RO Arikem ? ? Arikem Ariken peoples live in ‘Indian Territories’, either demarcated or in the RO Aruá 6 1997 Tupi-Mondé instance, of the work about the Araweté, made by Eduardo Viveiros de RO Cassupá ? ? Português RO/MT Cinta Larga 643 1993 Tupi-Mondé Matétamãe process of demarcation, and also in urban areas in the different RO Columbiara ? ? ? Corumbiara Castro. In his book (Araweté: o povo do Ipixuna – CEDI, 1992) there is an RO Gavião 436 2000 Tupi-Mondé Digüt RO Jaboti 67 1990 Jaboti regions of Brazil. The lands of some 30 groups extend across national RO Kanoe 84 1997 Kanoe Canoe appendix with the populational data registered by others, since the first RO Karipuna 20 2000 Tupi-Gurarani Caripuna RO Karitiana 360 2000 Arikem Caritiana burder, for ex.: 8,500 Ticuna live in Peru and Colombia while 32,000 RO Kwazá 25 1998 Língua isolada Coaiá, Koaiá contact with this people in 1976. -

Prosodic Distinctions Between the Varieties of the Upper Xingu Carib Language: Results of an Acoustic Analysis
AMERINDIA n°35, 2011 Prosodic distinctions between the varieties of the Upper Xingu Carib language: results of an acoustic analysis Glauber Romling da SILVA & Bruna FRANCHETTO UFRJ, CNPq 1. Introduction: the Upper-Xingu Carib language and its varieties The Carib subsystem of Upper Xingu consists of four local groups: the Kuikuro (four villages, with a fifth one being formed), the Matipu and Nahukwá (who live together in three villages), and the Kalapalo (two villages). All these groups speak a language which belongs to one of the two meridional branches of the Carib family (Meira & Franchetto 2005), and which nowadays presents two main varieties: one spoken by the Kuikuro and the younger Matipu generations, and the other spoken by the Kalapalo and the Nahukwá. Franchetto (2001) states that “we could establish a common origin of the Upper-Xingu Carib from which the first big division would have unfolded (Kalapalo/Nahukwá vs. Kuikuro/Matipu).” These two varieties distinguish themselves by lexical as well as rhythmic differences. According to Franchetto (2001: 133), “in the Carib subsystem of the Culuene river, the interplay between socio-political identities of the local groups (ótomo) is based on distinct rhythmic and prosodic structures”. Speakers express themselves metaphorically when talking about their linguistic identities. From a Kuikuro point of view (or 42 AMERINDIA n°35, 2011 from whom is judging the other) we get the assumption of speaking ‘straight’ (titage) as opposed to speaking as the Kalapalo/Nahukwá do, which is ‘in curves, bouncy, wavy’ (tühenkgegiko) or ‘backwards’ (inhukilü) (Franchetto 1986; Fausto, Franchetto & Heckenberger 2008). In any case, the idea of ‘straightness’ as a way of speaking reveals a value judgment with regard to what it is not. -

CLIMATE CHANGE and INDIGENOUS PERCEPTIONS INDIGENOUS PERCEPTIONS OPAN - 2018 / 2 ND EDITION Produced by Sponsorship
CLIMATE CHANGE AND CLIMATE CHANGE AND INDIGENOUS PERCEPTIONS INDIGENOUS PERCEPTIONS 2 OPAN - 2018 / OPAN ND EDITION Produced by Sponsorship 2ND EDITION OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA – OPAN Production and editing Artema Lima Andreia Fanzeres Lívia Alcântara Revision Andreia Fanzeres CLIMATE Artema Lima Ivar Luiz Vendruscolo Busatto CHANGE AND OPAN Executive Coordination INDIGENOUS Ivar Luiz Vendruscolo Busatto Vinicius Benites Alves PERCEPTIONS Mato Grosso Program/ Project Berço das Águas Artema Lima Production: Tarcísio dos Santos ARTEMA LIMA Edemar Treuherz ANDREIA FANZERES Liliane Xavier LÍVIA ALCÂNTARA Lívia Alcântara Translation Translation Melissa Harkin and Nayana Fernandez MELISSA HARKIN Frontpage photo Adriano Gambarini/OPAN Layout Marina Lutfi / cacumbu ISBN: 978-85-67133-14-0 ND OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA 2 EDITION Av. Ipiranga, 97 Bairro Goiabeiras, Cuiabá - MT Brasil CEP: 78032-035 OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA – OPAN Telefone: 55 (65) 3322-2980 / FAX: 55 (65) 3322-4161 Mato Grosso. Brasil. 2018 www. amazonianativa.org.br 9 PRESENTATION 13 IT’S TIME TO LISTEN TO INDIGENOUS PEOPLES TARCÍSIO DA SILVA SANTOS JÚNIOR AND LUCIANA REBELLATO 20 ANOTHER NAME FOR CLIMATE CHANGE AILTON KRENAK 24 CLIMATE CHANGE, INDIGENOUS PEOPLES, EDUCATIONS AND DEEP ECOLOGY SEVERIÁ IDIORIÊ 30 CLIMATE CHANGE FOR MUNDURUKU PEOPLE FROM JUARA MARCELO MANHUARI MUNDURUKU 36 WE MUST PRESERVE NATURE TO KEEP EXISTING TIPUICI MANOKI 40 RÓ NA WAHÖIMANAZÁ - TO LIVE IN CERRADO CAIMI WAIASSÉ XAVANTE 46 CLIMATE CHANGE FOR MANOKI PEOPLE MANOEL KANUNXI 52 MEHINAKO PEOPLE AND CLIMATE CHANGE MAYAWARI MEHINAKO 58 CLIMATE CHANGE FOR KAYABI-KAWAIWETÉ PEOPLE PIKURUK CAVALCANTE KAYABI 62 WAURÁ OF XINGU AND CLIMATE CHANGE PIRATÁ WAURÁ 66 THE JURUENA RIVER: THE ROAD OF THE FOREST PEOPLES PAULO HENRIQUE MARTINHO SKIRIPI 70 THE RIKBAKTSA PEOPLE AND CLIMATE CHANGE JUAREZ PAIMY Photo: Adriano Gambarini/OPAN PRESENTATION OPERATION AMAZÔNIA NATIVA (OPAN), with its almost five decades work- ing in the field of Indigenismo, has contributed in a relevant way to the pro- motion and guarantee of indigenous rights in Brazil. -

Waurá E Mehináku: Um Breve Estudo Comparativo
Waurá e Mehináku: um breve estudo comparativo (Waura and Mehinaku: a brief comparative study) Angel Corbera Mori1 1Departamento de Linguística-Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) [email protected] Abstract: Mehinaku, Waura and Yawalapiti are the only languages of the Arawak linguistic family still spoken in the indigenous park of Xingu, State of Mato Grosso. The first observations and linguistic registries of these three languages were presented by Karl von den Steinen (1940 [1886]) in his classical book Between the aborigines of Central Brazil. In this work, Steinen says that the Arawak people of the Xingu divide themselves in two sub-groups: nu and aruak. “Nu is the predominant prefix in these tribes, it is the characteristic pronominal prefix of the first person; […] Mehinaku, Kustenau, Waura and Yaulapiti are Nu-Aruak” (p. 197). Steinen also stated that the Mehinaku and Waura formed a single ethnological unit and that they spoke the same language. Considering these primary observations, I present in this article a brief comparative study between Waura and Mehinaku languages. Keywords: Arawak family; Mehinaku-Waura languages; Alto Xinguan languages; phonetic and lexical comparison. Resumo: Mehináku, Waurá e Yawalapíti são as três línguas arawák que ainda são faladas no Parque Indígena do Xingu, Estado do Mato Grosso. As primeiras observações e registros linguísticos dessas línguas foram feitas por Karl von den Steinen (1940[1886]) em sua obra Entre os aborígenes do Brasil Central. Nesse trabalho, Steinen considera que as sociedades arawák do Xingu compreendem dois subgrupos: os Nu e os Aruak. “Nu é o prefixo dominante dessas tribus, é o prefixo característico pronominal da primeira pessoa; [...] os Mehinaku, Kustenau, Waura e Yaulapiti são Nu-Aruak” (p. -

Origem Da Pintura Do Lutador Matipu
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO UNEMAT CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEP. RENÊ BARBOUR LICENCIATURA INTERCULTURAL INDÍGENA MAIKE MATIPU ORIGEM DA PINTURA DO LUTADOR MATIPU Barra do Bugres 2016 MAIKE MATIPU ORIGEM DA PINTURA DO LUTADOR MATIPU Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade do Estado de Mato Grosso- UNEMAT, Campus Universitário Dep. Est. Renê Barbour, como requisito parcial para obtenção do título de graduado em Línguas, Artes e Literatura. Orientador: Prof.ª Drª. Mônica Cidele da Cruz Barra do Bugres 2016 FICHA CATALOGRÁFICA MAIKE MATIPU ORIGEM DA PINTURA DO LUTADOR MATIPU Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Banca Avaliadora do Curso de Licenciatura Intercultural – UNEMAT, Campus Universitário Dep. Renê Barbour como requisito para obtenção do título de Licenciado em Línguas, Artes e Literatura. Barra do Bugres, 28 de abril de 2016. BANCA EXAMINADORA _______________________________________________ Prof.ª Drª. Mônica Cidele da Cruz Professora Orientadora _______________________________________________ Prof. Esp. Aigi Nafukuá Professor Avaliador _______________________________________________ Prof. Me. Isaías Munis Batista Professor Avaliador Barra do Bugres 2016 DEDICATÓRIA Dedico este trabalho para minha esposa Soko Kujahi Agika Kuikuro, aos meus filhos, às famílias e filhos da comunidade. Através do conhecimento do meu povo Matipu, consegui realizar o trabalho e fortalecer a cultura para futuras gerações. AGRADECIMENTOS Agradeço aos dois anciões narradores da história do passado. Principalmente agradeço ao meu pai Yamatuá Matipu, reconhecido como grande flautista e cantor. Agradeço, ainda, Manufá Matipu, que me auxiliou durante a pesquisa sobre o conhecimento dos antepassados. Agradeço a toda minha família que fez o trabalho comigo, e também agradeço muita minha esposa Soko Kujahi Agika Kuikuro, meus filhos Amatuá Matheus Matipu, Kaintehi Marquinho Matipu, Tahugaki Parisi Matipu e Ariati Maiate Rebeca Matipu. -
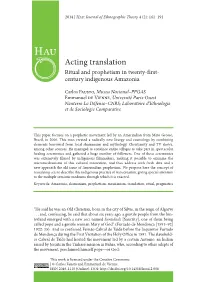
Acting Translation Ritual and Prophetism in Twenty-First- Century Indigenous Amazonia
2014 | Hau: Journal of Ethnographic Theory 4 (2): 161–191 Acting translation Ritual and prophetism in twenty-first- century indigenous Amazonia Carlos Fausto, Museu Nacional–PPGAS Emmanuel de Vienne, Université Paris-Ouest Nanterre La Défense–CNRS; Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative This paper focuses on a prophetic movement led by an Amerindian from Mato Grosso, Brazil, in 2006. This man created a radically new liturgy and cosmology by combining elements borrowed from local shamanism and mythology, Christianity and TV shows, among other sources. He managed to convince entire villages to take part in spectacular healing ceremonies and gathered a huge number of followers. One of these ceremonies was extensively filmed by indigenous filmmakers, making it possible to examine the micromechanisms of this cultural innovation, and thus address with fresh data and a new approach the old issue of Amerindian prophetism. We propose here the concept of translating acts to describe this indigenous practice of transcreation, giving special attention to the multiple semiotic mediums through which it is enacted. Keywords: Amazonia, shamanism, prophetism, messianism, translation, ritual, pragmatics “He said he was an Old Christian, born in the city of Silvis, in the reign of Algarve . and, confessing, he said that about six years ago, a gentile people from the hin- terland emerged with a new sect named Santidade [Sanctity], one of them being called pope and a gentile woman Mary of God” (Furtado de Mendonça [1591–92] 1922: 35). And so confessed Fernão Cabral de Taíde before the Inquisitor Furtado de Mendonça during the First Visitation of the Holy Office in 1591. -

Aweti (Brazil) - Language Contexts
Language Documentation and Description ISSN 1740-6234 ___________________________________________ This article appears in: Language Documentation and Description, vol 19. Editor: Peter K. Austin Aweti (Brazil) - Language Contexts SEBASTIAN DRUDE Cite this article: Drude, Sebastian. 2020. Aweti (Brazil) - Language Contexts. Language Documentation and Description 19, 45-65. Link to this article: http://www.elpublishing.org/PID/208 This electronic version first published: December 2020 __________________________________________________ This article is published under a Creative Commons License CC-BY-NC (Attribution-NonCommercial). The licence permits users to use, reproduce, disseminate or display the article provided that the author is attributed as the original creator and that the reuse is restricted to non-commercial purposes i.e. research or educational use. See http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ______________________________________________________ EL Publishing For more EL Publishing articles and services: Website: http://www.elpublishing.org Submissions: http://www.elpublishing.org/submissions Awetí (Brazil) – Language Contexts Sebastian Drude Museu Paraense Emílio Goeldi Language Name: Awetí Dialects: None Classification: Tupian, Mawetí-Guaraní branch ISO 639-3 Code: awe Glottolog Code: awet1244 Population: approximately 225 Location: 12°20' S, 53°22' W Upper Xingu, Mato Grosso, Brazil Vitality rating: Endangered / Vigorous (EGIDS 6a) Summary After a catastrophic reduction to only 23 individuals in 1953, today about 225 Awetí (in Awetí: Awytyza) live in now 5 villages the Xingu park in Brazil, where 10 ethnic groups speaking 6 languages live together for centuries. The Awetí speak a Tupian language closely related to the Tupí-Guaraní branch; many also know Kamayurá and increasingly Portuguese, as contact with the Bra-zilian society is growing more intense. -
Interpretation Through Incorporation Among Peruvian Urarina
Harry Walker On logophagy and truth: interpretation through incorporation among Peruvian Urarina Article (Accepted version) (Refereed) Original citation: Walker, Harry (2018) On logophagy and truth: interpretation through incorporation among Peruvian Urarina. Language and Communication. ISSN 0271-5309 (In Press) DOI: 10.1016/j.langcom.2018.03.003 © 2018 Elsevier Ltd. This version available at: http://eprints.lse.ac.uk/87531/ Available in LSE Research Online: April 2018 LSE has developed LSE Research Online so that users may access research output of the School. Copyright © and Moral Rights for the papers on this site are retained by the individual authors and/or other copyright owners. Users may download and/or print one copy of any article(s) in LSE Research Online to facilitate their private study or for non-commercial research. You may not engage in further distribution of the material or use it for any profit-making activities or any commercial gain. You may freely distribute the URL (http://eprints.lse.ac.uk) of the LSE Research Online website. This document is the author’s final accepted version of the journal article. There may be differences between this version and the published version. You are advised to consult the publisher’s version if you wish to cite from it. On logophagy and truth: Interpretation through incorporation among Peruvian Urarina Dr Harry Walker Department of Anthropology London School of Economics and Political Science [email protected] Abstract This paper develops an Amazonian critique of Western theories of interpretation as grounded in correspondence between a proposition and a state of affairs, and of truth as correspondence between mind and reality. -
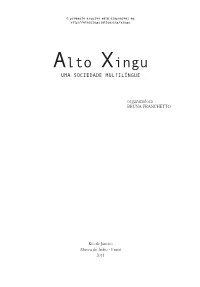
Aweti in Relation with Kamayurá: the Two Tupian Languages of the Upper
O presente arquivo está disponível em http://etnolinguistica.org/xingu Alto Xingu UMA SOCIEDADE MULTILÍNGUE organizadora Bruna Franchetto Rio de Janeiro Museu do Índio - Funai 2011 COORDENAÇÃO EDITORIAL , EDIÇÃO E DIAGRAMAÇÃO André Aranha REVISÃO Bruna Franchetto CAPA Yan Molinos IMAGEM DA CAPA Desenho tradicional kuikuro Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil) Alto Xingu : uma sociedade multilíngue / organizadora Bruna Franchetto. -- Rio de Janeiro : Museu do Indio - FUNAI, 2011. Vários autores. ISBN 978-85-85986-34-6 1. Etnologia 2. Povos indígenas - Alto Xingu 3. Sociolinguística I. Franchetto, Bruna. 11-02880 CDD-306.44 Índices para catálogo sistemático: 1. Línguas alto-xinguanas : Sociolinguística 306.44 EDIÇÃO DIGITAL DISPON Í VEL EM www.ppgasmuseu.etc.br/publicacoes/altoxingu.html MUSEU DO ÍNDIO - FUNAI PROGRAMA DE PÓS -GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL DO MUSEU NACIONAL UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO SEBAST I AN DRUDE AWETI IN ReLATION WITH KAMAYURÁ THE TWO TUP I AN LANGUAGES OF THE UPPER X I NGU S EBAST I AN DRUDE Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/Main Museu Paraense Emílio Goeldi INTRODUCT I ON The Aweti and the Kamayurá are the two peoples speaking Tupian languages within the Upper Xingu system in focus in this volume. This article explores the relationship between the two groups and their languages at various levels, as far as space and our current kno- wledge allow. The global aim is to answer a question that frequently surfaces: how closely related are these two languages? This question has several answers depending on the kind and level of ‘relationship’ between the two languages one wishes to examine. -

Count/Mass Distinction in Kuikuro: on Individuation and Counting
FRANCHETTO, Bruna; SANTOS, Mara; LIMA, Suzi. Count/Mass distinction in Kuikuro: on individuation and counting. Revista Lin- guíStica / Revista do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Volume 9, número 1, junho de 2013. ISSN 1808-835X 1. [http://www.letras.ufrj.br/poslinguistica/revistalinguistica] COUNT/MASS DISTINCTION IN KUIKURO: ON INDIVIDUATION AND COUNTING por Bruna Franchetto (UFRJ/CNPq), Mara Santos (Museu Nacional/UFRJ) e Suzi Lima (UMass)1 ABSTRACT This paper analyses the processes of individuation and counting in Kuikuro (Southern Carib, Brazil). Kuikuro is a number-neutral language characterized by the absence of numeral classifiers. The central aspect we discuss in this paper is the fact that individuation is a context-dependent operation (cf. Rothstein (2010), Lima (2012)). KEY WORDS: Kuikuro, count/mass distinction, individuation, numerals, counting. INTRODUCTION Linguists and philosophers have extensively discussed how languages encode the distinction between so-called ‘count nouns’ (e.g. dog) and so-called ‘mass nouns’ (e.g. blood) (see Quine 1960, Burge 1972, 1975, Pelletier 1975, 2009, 2012, Bunt 1979, 1985, Link 1983, Gillon 1992, Krifka 1995, Chierchia 1998a, 1998b, 2010, Nicolas 2002, Borer 2005, Schwarzschild 2006, Rothstein 2010, Bale and Barner 2009, among many others). Across many languages, these classes of nouns have distinct morphological and syntactic properties. The exact properties that distinguish ‘mass’ from ‘count’ nouns can vary from language to language. Chierchia (1998a, 1998b, 2010) has established three different categories of languages: number- marking languages, classifier languages and number-neutral languages. In the so-called number- marking languages, only count nouns can be pluralized: 1a.