A Nova “Marcha Para O Oeste” – O Exemplo De Catalão
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

“São Vários Os Problemas No Transporte Coletivo De Aracaju”
JORNAL CINFORMONLINE EDIÇÃO 176 | ANO 4 | 22/2/2021 A NOVA ERA DA NOTÍCIA POLÍTICA VEREADORA DE ARACAJU VEREADORA ÂNGELA MELO ACESSE P.29 “SÃO VÁRIOS OS PROBLEMAS NO TRANSPORTE COLETIVO DE ARACAJU” ARTISTAS DO INTERIOR SERGIPANO driblam a pandemia com criatividade Com a escassez de apresentações, a A estratégia foi fundamental para sobreviver. ACESSE P.97 A NOVA ERA DA NOTÍCIAS IMPORTANTE Para ler e navegar melhor no seu jornal CINFORMONLINE digital, instale a versão gratuita do Adobe Acrobat Reader, acessando o Play store ou Apple store do seu celular, table ou computador. TOQUE NOS ÍCONES ABAIXO E FAÇA O DOWNLOAD Receba o seu jornal CinformOline digital GRÁTIS toda semana através do WhatsApp, às segundas-feiras CLIQUE AQUI E CADASTRE-SE ANO 4 - ED. 176 - 22/2/2021 – 2 A NOVA ERA DA NOTÍCIA ÍNDICE ÍNDICEt CADERNO 1 TOQUE E ACESSE OPINIÃO 7 EDITORIAL A grande conquista do deputado Daniel Silveira CINFORMANDO – 11 Omissão: Rodoviários, taxistas e motoristas de aplicativo devem ser mais respeitados POLÍTICA 29 Ângela Melo: “Aracaju é uma cidade profundamente desigual” ANO 4 - ED. 176 - 22/2/2021 – 3 47 Covid-19: Zezinho Sobral cobra aos municípios celeridade na vacinação dos idosos GERAL 51 Senac realiza seminário de boas práticas para serviços de alimentação 56 Inscrições para o Catalisa ICT terminam no dia 21 OFICINA DE ADVOCACIA 60 Acordo de não persecuçao civil na ação de improbidade e a evolução conciliatória do processo brasileiro - I PROPAGANDA E NEGÓCIOS 66 Você não é o seu público-alvo CAFÉ COM HISTÓRIA 75 Entenda o AI-5 CANTINHO DA CRÔNICA 81 A vida em Entr’acte ESPÇO REFLEXÃO 85 A essência da vida não é ter, é ser ANO 4 - ED. -

Universidade Federal De Uberlândia Instituto De Economia Programa De Pós-Graduação Em Economia Inara Rosa De Amorim NEGOCIA
Universidade Federal de Uberlândia Instituto de Economia Programa de Pós-Graduação em Economia Inara Rosa de Amorim NEGOCIAÇÕES COLETIVAS NA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA GOIANA Uberlândia – Minas Gerais 2011 ii INARA ROSA DE AMORIM NEGOCIAÇÕES COLETIVAS NA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA GOIANA Dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação em Economia do Instituto de Economia da Universidade Federal de Uberlândia, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Economia. Área de concentração: Desenvolvimento Econômico Orientadora: Profª. Drª. Rosana Aparecida Ribeiro Uberlândia – Minas Gerais 2011 iii Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Sistema de Bibliotecas da UFU, MG, Brasil. A524n Amorim, Inara Rosa de, 1985- 2011 Negociações coletivas na indústria automotiva goiana / Inara Rosa de Amorim. - 2011. 148 f. : il.. Orientadora: Rosana Aparecida Ribeiro. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Uberlândia, Pro- grama de Pós-Graduação em Economia. Inclui bibliografia. 1. Economia-Teses. 2. Indústria automobilística. - Teses. 3. Negociação coletiva do trabalho – Teses. 4.Relações trabalhistas – Teses I. Ribeiro, Rosana Aparecida. II. Universidade Federal de Uberlândia. Programa de Pós-Graduação em Economia. III. Título. CDU: 330 iv Inara Rosa de Amorim Título: Negociações Coletivas na Indústria Automotiva Goiana Dissertação de Mestrado aprovada em 11/07/2011 Banca Examinadora: Profª. Drª. Rosana Aparecida Ribeiro ( IE – UFU ) Orientadora Profª. Drª. Marisa dos Reis Azevedo Botelho ( IE – UFU ) Membro Prof. Dr. Carlos -

Shifting Into High Gear
ANNUAL REPORT 2011 Year ended March 31, 2011 Shifting into High Gear Mitsubishi Motors Corporate Philosophy “We are committed to providing the utmost driving pleasure and safety for our valued customers and our community. On these commitments we will never compromise. This is the Mitsubishi Motors way.” Customer-centric approach Mitsubishi Motors will give the highest priority to satisfying its customers, and by doing so, become a company that enjoys the trust and confidence of the community at large. To this end, Mitsubishi Motors will strive its utmost to tackle environmental issues, to raise the level of passenger and road safety and to address other issues of concern to car owners and the general public. A clear direction for the development and manufacturing of Mitsubishi Motors vehicles The cars that Mitsubishi Motors will manufacture will embody two major concepts: driving pleasure and safety. Mitsubishi Motors will manufacture cars that deliver superior driving performance and superior levels of safety and durability, and as such, those who use them will enjoy peace of mind. Going the extra mile Mitsubishi Motors will pay close attention to even the smallest details in the belief that this approach will lead customers to discover new value in their cars, giving them a richer and more rewarding driving experience. Importance of continuity Mitsubishi Motors will continue to manufacture distinctive cars with the passion and conviction to overcome all challenges. Forward-looking Statements This annual report contains forward-looking statements about Mitsubishi Motors Corporation’s plans, strategies, beliefs and performance. These forward-looking statements are based on current expectations, estimates, forecasts and projections about the industries in which Mitsubishi Motors Corporation operates, as well as management’s beliefs and assumptions. -
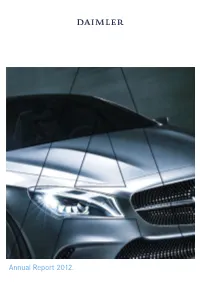
Daimler Annual Report 2012
Financial Calendar 2013 Key Figures Annual Press Conference Daimler Group February 7, 2013 2012 2011 2010 12/11 Analysts’ and Investors’ Conference Call Amounts in millions of euros % change February 7, 2013 Revenue 114,297 106,540 97,761 +71 Western Europe 39,377 39,387 38,478 -0 Presentation of the Annual Report 2012 thereof Germany 19,722 19,753 19,281 -0 February 25, 2013 NAFTA 31,914 26,026 23,582 +23 thereof United States 27,233 22,222 20,216 +23 Annual Meeting Asia 25,126 22,643 19,659 +11 April 10, 2013 thereof China 10,782 11,093 9,094 -3 10:00 a.m. CEST | 4:00 a.m. EST Other markets 17,880 18,484 16,042 -3 Messe Berlin Employees (December 31) 275,087 271,370 260,100 +1 Investment in property, plant and equipment 4,827 4,158 3,653 +16 Interim Report Q1 2013 Research and development expenditure 5,644 5,634 4,849 +0 April 24, 2013 thereof capitalized 1,465 1,460 1,373 +0 Free cash flow of the industrial business 1,452 989 5,432 +47 Interim Report Q2 2013 EBIT 8,615 8,755 7,274 -2 July 24, 2013 Value added 4,185 3,726 2,773 +12 Net profit 6,495 6,029 4,674 +8 Earnings per share (in €) 5.71 5.32 4.28 +7 Interim Report Q3 2013 Total dividend 2,349 2,346 1,971 +0 October 24, 2013 Dividend per share (in €) 2.20 2.20 1.85 0 1 Adjusted for the effects of currency translation, increase in revenue of 4%. -

Annual Report 2013 CONTENTS NISSAN MOTOR COMPANY Annual Report 2013 01
AnnuAl RepoRt 2013 ContentS NISSAN MOTOR COMPANY ANNuAl RePORT 2013 01 contents ContentS This annual report presents the results of Nissan Motor Company's business activities for fiscal 2012. It is also provides an opportunity for investors to deepen their understanding of the Nissan management Viewing this Report team. President and CEO Carlos Ghosn and other executives share their vision of Nissan's philosophy and the direction the company is heading today. this annual report is an interactive pDf. You can use the navigation tabs and buttons to access the information you need. l Section Tabs contents corporate face time management messages 02 vIsION 17 Ev TOPICs click the tabs to jump to the top page of each section. 03 MIssION 18 FIsCAL 2012 sALEs PERFORMANCE 04 kEy FIGuREs 20 FIsCAL 2013 sALEs OuTLOOk l Navigation Buttons l Link Buttons 05 Technology 21 NEW TECHNOLOGIEs IN FIsCAL 2013 go back one page Jump to linked page 06 FINANCIAL HIGHLIGHTs 22 AWARDs RECEIvED IN FIsCAL 2012 return to previously viewed page Jump to information on the web 23 FIsCAL 2012 FINANCIAL REvIEW 27 FINANCIAL sTATEMENTs go forward one page 09 MEssAGE FROM THE CEO 12 MEssAGE FROM THE COO 14 MEssAGE FROM THE CFO 30 EXECuTIvEs 31 CORPORATE GOvERNANCE ■ Financial Data ■ For further information, please contact: to obtain more detailed financial information, nissan motor co., Ltd. investor relations Department please visit our ir website. 1-1, takashima 1-chome, nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 16 ABOuT THE MID-TERM PLAN website 220-8686, Japan tel: 81 (0)45-523-5520 ■ this annual report contains forward-looking statements on fax: 81 (0)45-523-5770 nissan’s plans and targets, and related operating investment, e-mail: [email protected] product planning and production targets. -

Global Partnerships-Nov 2013.Qxp
Guide to global automaker partnerships BMW AG Owned by: Joint venture: •PT Gaya Motor, Indonesia •Other shareholders - 53.3% •BMW Brilliance Automotive Co., China •VDL NedCar, Netherlands (2014) Full ownership: •Quandt family - 46.7% •SGL Automotive Carbon Fibers, Germany & U.S. Technical/parts alliances: •DriveNow, Germany •BMW Motorrad •PSA - gasoline engines - France & Germany •Mini Contract assembly: •Daimler AG - joint purchasing of parts - •Rolls-Royce Motor Cars Ltd. •Magna Steyr, Austria Germany •Avtotor, Russia •Inocom, Malaysia •Toyota - diesels, battery research - •BAMC, Egypt •DAFRA, Brazil Germany & Japan CHRYSLER GROUP Owned by: Joint venture: Technical/parts alliances: •Fiat North America LLC - 58.5% •Arab American Vehicles Co., Egypt •Fiat - vehicles, engines, transmissions & •UAW Retiree Medical Benefits other components - North America, Contract assembly: Trust - 41.5% Europe, Brazil & China •Fiat, North America & Europe •ZF Friedrichshafen - transmissions, •Volkswagen, Canada torque converters, axles - U.S., Germany & Mexico CHINA FAW GROUP Owns: Joint venture: Technical/parts alliances: CORP. •FAW Car Co. - 13.3% •Volkswagen, China •Toyota - engines - China Owned by: •Toyota, China •GM, China •Chinese central government - 100% DAIMLER AG Owns: Joint venture: Technical/parts alliances: •Deutsche Accumotive GmbH - 90% •Euro Advanced Carbon Fiber Composites •Renault-Nissan - small cars, LCVs, Full ownership: •Mitsubishi Fuso - 89.3% GmbH, Germany powertrains - France, Japan & U.S. •car2go •BAIC Motor - 12% •Kamaz - 11% •Beijing Benz Automotive Co., China •BMW AG - joint purchasing of parts - •Daimler Buses •Tesla Motors - 4.3% •Fujian Benz Automotive (FBAC), China Germany •Daimler Financial Services •Renault - 3.1%; Nissan - 3.1% •Fuso Kamaz Trucks, Russia •AFCC - fuel cell technology - Canada •Daimler Trucks Owned by: •Engine Holding GmbH (Togum), Germany •Deutsche Accumotive GmbH - lithium ion •Li-Tec Battery GmbH, Germany •Detroit Diesel •Other shareholders - 83.6% batteries - Germany •EvoBus •Kuwait Investments Auth. -
Financial Information As of March 31, 2018
Financial Information as of March 31, 2018 (The English translation of the “Yukashoken-Houkokusho” for the year ended March 31, 2018) Nissan Motor Co., Ltd. Table of Contents Page Cover .......................................................................................................................................................................... 1 Part I Information on the Company .......................................................................................................... 2 1. Overview of the Company ......................................................................................................................... 2 1. Key financial data and trends ........................................................................................................................ 2 2. History .......................................................................................................................................................... 4 3. Description of business ................................................................................................................................. 6 4. Information on subsidiaries and affiliates ..................................................................................................... 7 5. Employees................................................................................................................................................... 13 2. Business Overview ..................................................................................................................................... -

THE MOTOR INDUSTRY of JAPAN 2019 Published July 2019 Japan Automobile Manufacturers Association, Inc
THE MOTOR INDUSTRY OF JAPAN 2019 Published July 2019 Japan Automobile Manufacturers Association, Inc. Jidosha Kaikan, 1-30 Shiba Daimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-0012 Japan For inquiries about this booklet, write or telephone: Public Relations Office, JAMA Tel: +81 (3) 5405-6119 http://www.jama.or.jp/ ©JAMA. All rights reserved. Printed with vegetable oil ink. THE MOTOR INDUSTRY OF JAPAN 2019 Attention to the Environment Climate Change ........................................................................................................................ 30 Contents Vehicle Fuel Efficiency .............................................................................................................. 31 Next-Generation Vehicles and CO2 Reductions at Manufacturers’ Facilities ........................ 32 Hazardous Substances .............................................................................................................. 33 Recycling ................................................................................................................................... 34 Page Emissions ................................................................................................................................... 36 Measuring Motor Vehicle Fuel Consumption and Emissions ................................................. 37 Automobile Manufacturing: A Core Industry Taxes Automotive Shipments in Value Terms ................................................................................... 2 Automotive Trade .................................................................................................................... -

Global Partnership Map-Nov 2012.Qxp
Guide to global automaker partnerships BMW AG Owned by: Joint venture: •PT Gaya Motor, Indonesia •Other shareholders - 53.3% •BMW Brilliance Automotive Co., China •VDL NedCar, Netherlands (2014) Full ownership: •Quandt family - 46.7% •SGL Automotive Carbon Fibers - Germany & U.S. Technical/parts alliances: •Mini •DriveNow, Germany •PSA - gasoline engines - France & Germany •Rolls-Royce Motor Cars Ltd. Contract assembly: •Daimler AG - joint purchasing of parts - •BMW Motorrad •Magna Steyr, Austria Germany •Husqvarna Motorcycles •Avtotor, Russia •Toyota - diesels, battery research - •BAMC, Egypt Germany & Japan (2014) CHRYSLER GROUP Owned by: Joint venture: Technical/parts alliances: •Fiat North America LLC - 58.5% •Arab American Vehicles Co., Egypt •Fiat - vehicles, engines, transmissions & •UAW Retiree Medical Benefits Contract assembly: other components - North America, Trust - 41.5% •Fiat, North America Europe, Brazil & China •Hyundai Motors, South Korea & India •ZF Friedrichshafen - transmissions, •Soueast Motor, China torque converters, axles - U.S.A., •Volkswagen, Canada Germany and Mexico DAIMLER AG Owns: Joint venture: Technical/parts alliances: •Mitsubishi Fuso - 89% •Beijing Benz Automotive Co. (BBAC), China •Renault-Nissan - small cars, LCVs, Full ownership: •Renault - 3.1%; Nissan - 3.1% •Fujian Daimler Automotive (FBAC), China powertrains - France, Japan & U.S. •Mercedes-Benz Cars (includes Smart) •Kamaz - 11% •Beijing Foton Daimler Automotive Co. •BMW AG - joint purchasing of parts - •Daimler Trucks •EADS - 15% (BFDA), China -

Fact 2019.Pdf
"FACTS & FIGURES" is published every year to help your under- standing to the Company's activities during the past fiscal years. All of us at Mitsubishi Motors hope that this publication will give all readers an even better understanding of the company and its products. October 2019 Public Relations Department MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC is on the World Wide Web at the following URL https://www.mitsubishi-motors.com/en/company/ Vision & Mission ■ Vision Create vibrant society by realizing the potential of mobility ■ Mission 1. Provide new experiences for our customers with creative products and service excellence. 2. Make positive contributions to the sustainable development of our society. 3. Act sincerely as a trusted company. 4. Enhance stakeholder value by leveraging the Alliance. While, as a member of the Mitsubishi Group, we carefully follow the Group’s “The Three Corporate Principles,”* we have also established our “Vision Mission” to define our fundamental purposes and directions. We will go forward all our corporate activities that live up to this “Vision Mission.” * Maintaining our “Corporate Responsibility to Society,” practicing “Integrity and Fairness” and promoting “Global Understanding Through Business” Contents Company Overview / Investor Information 2 Principal Management Indices 3 Subsidiaries and Affiliates 4 Production and Sales Volume Ranking by Country / 6 Region Sales Volume Ranking by Model Net Sales, Production and Sales Volume by Business Segmentation Information by Business Segmentation Japan 8 North America -

UNO Template
21 August 2014 Asia Pacific/Japan Equity Research Automobile Manufacturers (Auto (Japan)) / OVERWEIGHT Mitsubishi Motors (7211 / 7211 JP) Rating OUTPERFORM* INITIATION Price (20 Aug 14, ¥) 1,140 Target price (¥) 1,500¹ Chg to TP (%) 31.6 Market cap. (¥ bn) 1,121.37 (US$ 10.87) Entering new growth stage Enterprise value (¥ bn) 801.37 Number of shares (mn) 983.66 ■ Action: We initiate coverage of Mitsubishi Motors (MMC) with an Free float (%) 58.6 OUTPERFORM rating and a ¥1,500 target price (potential return 31.6%). MMC 52 -week price range 1,280 - 1,000 has rejuvenated its operations despite difficulties in Japan and overseas, *Stock ratings are relative to the coverage universe in each including a major management crisis, the 2011 earthquake, flooding in Thailand, analyst's or each team's respective sector. ¹Target price is for 12 months. and sharp yen appreciation. In FY3/14 the company posted record profits, bought back all preferred shares, and reinstated its dividend; we believe it is now Research Analysts transitioning to a new growth stage as outlined in its medium-term business plan Masahiro Akita (New Stage 2016). 81 3 4550 7361 [email protected] ■ Pursuing clearer brand identity: MMC seeks to establish a clearer identity for the brand during its anticipated growth phase by concentrating management resources in areas offering high growth and added value. We forecast sustained profit growth owing to: (1) expansion in emerging markets, (2) increased sales of pickup trucks, SUVs, and crossovers, (3) an expanded presence in such environmentally friendly vehicles as plug-in hybrids (PHEVs) and EVs, (4) increased potential for the "Global Small Vehicle" Mirage, and (5) the pursuit of profit opportunities and effective use of resources via cooperation with partners. -

Paving the Way for Growth Mitsubishi Motors Corporate Philosophy
annual report 2008 Year ended March 31, 2008 paving the way for growth Mitsubishi Motors Corporate Philosophy “we are committed to providing the utmost driving pleasure and safety for our valued customers and our community. on these commitments we will never compromise. this is the mitsubishi motors way.” Customer-centric approach Contents Mitsubishi Motors will give the highest priority to satisfying its customers, and by doing so, become a company that enjoys the trust and confidence of the commu- Consolidated Financial Summary ............................. 01 nity at large. To this end, Mitsubishi Motors will strive its utmost to tackle environ- Special Feature I: Environmental Technology ............ 02 mental issues, to raise the level of passenger and road safety and to address other To Our Shareholders and Stakeholders ...................... 06 issues of concern to car owners and the general public. Interview With the Executive Vice President ......... 12 Management ......................................................... 13 A clear direction for the development and manufacturing of Mitsubishi Special Feature II: Focus Markets ............................ 14 Motors vehicles Russia and Ukraine ............................................. 15 The Middle East ................................................. 17 The cars that Mitsubishi Motors will manufacture will embody two major concepts: Brazil ............................................................... 19 driving pleasure and safety. Mitsubishi Motors will manufacture cars