Dissertação Felippe Machado.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Organized Crime and the Russian State Challenges to U.S.-Russian Cooperation
Organized Crime and the Russian State Challenges to U.S.-Russian Cooperation J. MICHAEL WALLER "They write I'm the mafia's godfather. It was Vladimir Ilich Lenin who was the real organizer of the mafia and who set up the criminal state." -Otari Kvantrishvili, Moscow organized crime leader.l "Criminals Nave already conquered the heights of the state-with the chief of the KGB as head of a mafia group." -Former KGB Maj. Gen. Oleg Kalugin.2 Introduction As the United States and Russia launch a Great Crusade against organized crime, questions emerge not only about the nature of joint cooperation, but about the nature of organized crime itself. In addition to narcotics trafficking, financial fraud and racketecring, Russian organized crime poses an even greater danger: the theft and t:rafficking of weapons of mass destruction. To date, most of the discussion of organized crime based in Russia and other former Soviet republics has emphasized the need to combat conven- tional-style gangsters and high-tech terrorists. These forms of criminals are a pressing danger in and of themselves, but the problem is far more profound. Organized crime-and the rarnpant corruption that helps it flourish-presents a threat not only to the security of reforms in Russia, but to the United States as well. The need for cooperation is real. The question is, Who is there in Russia that the United States can find as an effective partner? "Superpower of Crime" One of the greatest mistakes the West can make in working with former Soviet republics to fight organized crime is to fall into the trap of mirror- imaging. -

Morris Childs Papers
http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf896nb2v4 No online items Register of the Morris Childs papers Finding aid prepared by Lora Soroka and David Jacobs Hoover Institution Archives 434 Galvez Mall Stanford University Stanford, CA, 94305-6010 (650) 723-3563 [email protected] © 1999 Register of the Morris Childs 98069 1 papers Title: Morris Childs papers Date (inclusive): 1924-1995 Collection Number: 98069 Contributing Institution: Hoover Institution Archives Language of Material: English and Russian Physical Description: 2 manuscript boxes, 35 microfilm reels(4.3 linear feet) Abstract: Correspondence, reports, notes, speeches and writings, and interview transcripts relating to Federal Bureau of Investigation surveillance of the Communist Party, and the relationship between the Communist Party of the United States and the Soviet communist party and government. Includes some papers of John Barron used as research material for his book Operation Solo: The FBI's Man in the Kremlin (Washington, D.C., 1996). Hard-copy material also available on microfilm (2 reels). Physical Location: Hoover Institution Archives Creator: Childs, Morris, 1902-1991. Contributor: Barron, John, 1930-2005. Location of Original Materials J. Edgar Hoover Foundation (in part). Access Collection is open for research. The Hoover Institution Archives only allows access to copies of audiovisual items, computer media, and digital files. To listen to sound recordings or to view videos, films, or digital files during your visit, please contact the Archives at least two working days before your arrival. We will then advise you of the accessibility of the material you wish to see or hear. Please note that not all material is immediately accessible. -

Foreign Visitors and the Post-Stalin Soviet State
University of Pennsylvania ScholarlyCommons Publicly Accessible Penn Dissertations 2016 Porous Empire: Foreign Visitors And The Post-Stalin Soviet State Alex Hazanov Hazanov University of Pennsylvania, [email protected] Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/edissertations Part of the History Commons Recommended Citation Hazanov, Alex Hazanov, "Porous Empire: Foreign Visitors And The Post-Stalin Soviet State" (2016). Publicly Accessible Penn Dissertations. 2330. https://repository.upenn.edu/edissertations/2330 This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/edissertations/2330 For more information, please contact [email protected]. Porous Empire: Foreign Visitors And The Post-Stalin Soviet State Abstract “Porous Empire” is a study of the relationship between Soviet institutions, Soviet society and the millions of foreigners who visited the USSR between the mid-1950s and the mid-1980s. “Porous Empire” traces how Soviet economic, propaganda, and state security institutions, all shaped during the isolationist Stalin period, struggled to accommodate their practices to millions of visitors with material expectations and assumed legal rights radically unlike those of Soviet citizens. While much recent Soviet historiography focuses on the ways in which the post-Stalin opening to the outside world led to the erosion of official Soviet ideology, I argue that ideological attitudes inherited from the Stalin era structured institutional responses to a growing foreign presence in Soviet life. Therefore, while Soviet institutions had to accommodate their economic practices to the growing numbers of tourists and other visitors inside the Soviet borders and were forced to concede the existence of contact zones between foreigners and Soviet citizens that loosened some of the absolute sovereignty claims of the Soviet party-statem, they remained loyal to visions of Soviet economic independence, committed to fighting the cultural Cold War, and profoundly suspicious of the outside world. -
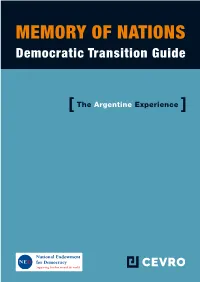
Democratic Transition Guide
MEMORY OF NATIONS Democratic Transition Guide [ The Argentine Experience ] DISMANTLING THE STATE SECURITY APPARATUS SERGIO GABRIEL EISSA INTRODUCTION the tradition of using the military in tasks of “internal security.” For example, during the imposition of the political and economic In Argentina, there were six (6) coups d’état between 1930 and model of Buenos Aires on the rest of the provinces (1820–1862); 1976. However, the use of violence to resolve political conflicts the struggle against the native peoples (1878–1919); in the re- in the country can be traced back to the years after the War of pression of social protests such as the Tragic Week (1919) and Independence (1810–1824). Indeed, the constitutive process the Rebel Patagonia (1920–1921); and the protests of radicals, of a “violent normality”1 has its roots in a way of doing politics anarchists, socialists and trade unionists between 1890–1955. legitimized by the social and political actors, military and civil, The practices listed in the preceding paragraph were fuelled during the process of building the National State. by the incorporation of the French and American counterin- The use of violence to modify a correlation of political forces surgency doctrines in the context of Argentina’s accession to continued beyond the approval of the National Constitution in the Western bloc during the Cold War (1947–1991).5 In fact, in 1853. In the following years, Bartolomé Mitre carried out “the first that country this doctrine was first reflected in the “Plan Con- coup d’état” against the government of President Santiago Derqui intes” (1959), which consisted of using the Armed Forces6 and (1860–1861) in 1861, the same politician took up arms in 1874 the security forces to repress the “internal ideological enemy”: when he considered that he had lost the presidential elections mainly Peronist and leftist militants, but also any opponent of fraudulently. -

Soviet Active Measures Reborn for the 21St Century: What Is to Be Done?
Calhoun: The NPS Institutional Archive DSpace Repository Theses and Dissertations 1. Thesis and Dissertation Collection, all items 2018-12 SOVIET ACTIVE MEASURES REBORN FOR THE 21ST CENTURY: WHAT IS TO BE DONE? Perkins, Alexander M. Monterey, CA; Naval Postgraduate School http://hdl.handle.net/10945/61246 Downloaded from NPS Archive: Calhoun NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY, CALIFORNIA THESIS SOVIET ACTIVE MEASURES REBORN FOR THE 21ST CENTURY: WHAT IS TO BE DONE? by Alexander M. Perkins December 2018 Thesis Advisor: Carolyn C. Halladay Second Reader: Mikhail Tsypkin Approved for public release. Distribution is unlimited. THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK Form Approved OMB REPORT DOCUMENTATION PAGE No. 0704-0188 Public reporting burden for this collection of information is estimated to average 1 hour per response, including the time for reviewing instruction, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the collection of information. Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of this collection of information, including suggestions for reducing this burden, to Washington headquarters Services, Directorate for Information Operations and Reports, 1215 Jefferson Davis Highway, Suite 1204, Arlington, VA 22202-4302, and to the Office of Management and Budget, Paperwork Reduction Project (0704-0188) Washington, DC 20503. 1. AGENCY USE ONLY 2. REPORT DATE 3. REPORT TYPE AND DATES COVERED (Leave blank) December 2018 Master's thesis 4. TITLE AND SUBTITLE 5. FUNDING NUMBERS SOVIET ACTIVE MEASURES REBORN FOR THE 21ST CENTURY: WHAT IS TO BE DONE? 6. AUTHOR(S) Alexander M. Perkins 7. PERFORMING ORGANIZATION NAME(S) AND ADDRESS(ES) 8. PERFORMING Naval Postgraduate School ORGANIZATION REPORT Monterey, CA 93943-5000 NUMBER 9. -

The Soviet-Vietnamese Intelligence Relationship During the Vietnam War: Cooperation and Conflict by Merle L
WORKING PAPER #73 The Soviet-Vietnamese Intelligence Relationship during the Vietnam War: Cooperation and Conflict By Merle L. Pribbenow II, December 2014 THE COLD WAR INTERNATIONAL HISTORY PROJECT WORKING PAPER SERIES Christian F. Ostermann, Series Editor This paper is one of a series of Working Papers published by the Cold War International History Project of the Woodrow Wilson International Center for Scholars in Washington, D.C. Established in 1991 by a grant from the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, the Cold War International History Project (CWIHP) disseminates new information and perspectives on the history of the Cold War as it emerges from previously inaccessible sources on “the other side” of the post-World War II superpower rivalry. The project supports the full and prompt release of historical materials by governments on all sides of the Cold War, and seeks to accelerate the process of integrating new sources, materials and perspectives from the former “Communist bloc” with the historiography of the Cold War which has been written over the past few decades largely by Western scholars reliant on Western archival sources. It also seeks to transcend barriers of language, geography, and regional specialization to create new links among scholars interested in Cold War history. Among the activities undertaken by the project to promote this aim are a periodic BULLETIN to disseminate new findings, views, and activities pertaining to Cold War history; a fellowship program for young historians from the former Communist bloc to conduct archival research and study Cold War history in the United States; international scholarly meetings, conferences, and seminars; and publications. -

John Barron Papers
http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf8h4nb300 No online items Register of the John Barron papers Finding aid prepared by Lora Soroka; machine-readable finding aid created by Xiuzhi Zhou Hoover Institution Archives 434 Galvez Mall Stanford University Stanford, CA, 94305-6003 (650) 723-3563 [email protected] © 1999 Register of the John Barron 98020 1 papers Title: John Barron papers Date (inclusive): 1927-1996 Collection Number: 98020 Contributing Institution: Hoover Institution Archives Language of Material: English Physical Description: 2 manuscript boxes, 1 oversize box (2.3 linear feet) Abstract: Correspondence, reports, notes, speeches and writings, and photographs, relating to Morris Childs, Federal Bureau of Investigation informant within the Communist Party of the United States; Federal Bureau of Investigation surveillance of the Communist Party; and the relationship between the Communist Party of the United States and the Soviet communist party and government. Includes some papers of Morris Childs. Used as research material for the book by John Barron, Operation Solo: The FBI's Man in the Kremlin (Washington, D.C., 1996). Creator: Barron, John, 1930-2005 Access The collection is open for research; materials must be requested at least two business days in advance of intended use. Publication Rights For copyright status, please contact the Hoover Institution Archives. Preferred Citation [Identification of item], John Barron papers, [Box no.], Hoover Institution Archives. Alternative Form Available Also available on microfilm (2 reels). Related Collection Morris Childs, Hoover Institution Archives Scope and Content The documents of this collection were selected by JOHN BARRON (b. 1930), American journalist and author, to be used as research material for his book Operation SOLO: The FBI Man in the Kremlin (Washington, D.C.: Regnery Pub., 1996). -

Morris Childs Papers, 1938-1995
http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf896nb2v4 No online items Register of the Morris Childs Papers, 1938-1995 Processed by Lora Soroka and David Jacobs; machine-readable finding aid created by Xiuzhi Zhou Hoover Institution Archives Stanford University Stanford, California 94305-6010 Phone: (650) 723-3563 Fax: (650) 725-3445 Email: [email protected] © 1999 Hoover Institution Archives. All rights reserved. Register of the Morris Childs 98069 1 Papers, 1938-1995 Register of the Morris Childs Papers, 1938-1995 Hoover Institution Archives Stanford University Stanford, California Contact Information Hoover Institution Archives Stanford University Stanford, California 94305-6010 Phone: (650) 723-3563 Fax: (650) 725-3445 Email: [email protected] Processed by: Lora Soroka and David Jacobs Date Completed: 1998 and 2003 Encoded by: Xiuzhi Zhou, ByteManagers using OAC finding aid conversion service specifications © 1999, 2003 Hoover Institution Archives. All rights reserved. Descriptive Summary Title: Morris Childs Papers, Date (inclusive): 1938-1995 Collection number: 98069 Creator: Childs, Morris, 1902-1991 Collection Size: 2 manuscript boxes, 35 microfilm reels(6 linear feet) Repository: Hoover Institution Archives Stanford, California 94305-6010 Abstract: Correspondence, reports, notes, speeches and writings, and interview transcripts, relating to Federal Bureau of Investigation surveillance of the Communist Party, and the relationship between the Communist Party of the United States and the Soviet communist party and government. Includes some papers of John Barron used as research material for his book Operation Solo: The FBI's Man in the Kremlin (Washington, D.C., 1996). Hard-copy material also available on microfilm (2 reels). Physical Location: Hoover Institution Archives Language: English. -

Professor Fabricio Apolo Gómez Souza and the Movimiento De
PROFESSOR FABRICIO APOLO GÓMEZ SOUZA AND THE MOVIMIENTO DE ACCIÓN REVOLUCIONARIA (MAR) OF MÉXICO 1956-1971 A University Thesis Presented to the Faculty of California State University, East Bay In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts in History By Miguel Huanaco December 2020 Copyright © 2020 Miguel Huanaco ii PROFESSOR FABRICIO APOLO GÓMEZ SOUZA AND THE MOVIMIENTO DE ACCIÓN REVOLUCIONARIA (MAR) OF MÉXICO 1956-1971 By Miguel Huanaco Approved: Date: Electronic Signatures Available December 11, 2020 ______________________________ ________________________ Anna Rose Alexander Ph.D. Electronic Signatures Available December 11, 2020 ______________________________ ________________________ Elizabeth McGuire Ph.D. iii Table of Contents Preface ................................................................................................................................................................. v 1. INTRODUCTION ..................................................................................................................................... 1 2. THE ESTABLISHMENT OF THE MAR ........................................................................................... 9 3. THE COURTSHIP ................................................................................................................................ 13 4. THE SPONSORSHIP ........................................................................................................................... 18 5. THE RECRUITMENT ........................................................................................................................ -

Communist Party ,Entral Committee. On
Communist Party ,entral Committee. On arrival each memb,_ of the com- mittee received a note-book with the fiat of the films, documents, photo- graphs, tapes, and other proofs of the charges against the USSR and the ' KGB. Mikhail Roy was included in them. Raul declared that the anti-Castro activities had been carried out since mid-1966. The Soviets had managed -to infiltrate'into the Ministry of Industry, the newspaper GRANMA, Radio Havana, the university, the Academy of Sciences, the fruit and tobacco industries, the offices of the Central Committee, and even into the Armed Forces Ministry, itself, headed by Raul Castro. The principal agents cf the USSR were the old communists who had escaped the Escalante purge. John Barron writes, textually: "But Raul spoke with greater fury about the Soviet representatives who allied themselves with the anti-Castro faction, and named numerous KGB officers. Among them were Rudolf P. Shlyapnikov, second secretary of the Soviet Embassy; Mikhail Roy of NOVOSTI; another "journalist," Vadim Lestov; and various DGI advisers, whom Raul referred to only by their Spanish aliases. "Relating that two Cuban communists had held meetings with KGB officer Roy" at a street corner in the Vedado (section of Havana) and had taken a long drive in the automobile of the Soviet "journalist," Raul declared: "If anybody wants to ask someone ordinary questions, he invites him to his home or goes to his, to his office, or some other place; but when someone is involved in conspiratorial activities...utilizing the classic method of collecting information, then one arranges a meeting on a street corner and-then takes a long leisurely drive. -

The Mitrokhin Archive
The Mitrokhin Archive: The KGB in Europe and the West, Volume 1, 2000, Christopher Andrew, Vasili Mitrokhin, 0140295593, 9780140295597, Allen Lane, The Penguin Press, 2000 DOWNLOAD http://bit.ly/1PbpzAs http://goo.gl/RE9hU http://www.goodreads.com/search?utf8=%E2%9C%93&query=The+Mitrokhin+Archive%3A+The+KGB+in+Europe+and+the+West%2C+Volume+1 DOWNLOAD http://fb.me/2rjE5VHMc http://bit.ly/1wdBEl9 The Mitrokhin archive II the KGB and the world, Christopher M. Andrew, Vasili Mitrokhin, 2005, History, 676 pages. "When former KGB officer Vasili Mitrokhin defected to Britain he brought with him what the FBI described as 'the most complete and extensive intelligence ever received from any. Deception The Invisible War Between the KGB and the CIA, Edward Jay Epstein, 1989, Political Science, 335 pages. Covers, among other topics, Anatoly Golitsyn, Yuri Ivanovich Nosenko, and Vitaliy Sergeyevich Yurchenko.. The Sword and the Shield The Mitrokhin Archive and the Secret History of the KGB, Christopher Andrew, Vasili Mitrokhin, 2000, History, 700 pages. A fascinating description of a treasure trove of secret documents found by the FBI offers facts about every country in the world, as well as information that contributes to the. Secret Soldiers of the Revolution Soviet Military Intelligence, 1918-1933, Raymond W. Leonard, Jan 1, 1999, History, 227 pages. Leonard (history and anthropology, Central Missouri State U.) focuses on the early years of the Red Army Intelligence Directorate, known since World War II as the Main. Secret empire the KGB in Russia today, J. Michael Waller, 1994, History, 390 pages. Christopher Columbus Comes to West Virginia! , Carole Marsh, 1994, , . -

64 Active Measures
64 ACTIVE MEASURES RUSSIA’S KEY EXPORT Jolanta Darczewska, Piotr Żochowski 64 NUMBER 64 WARSAW June 2017 ACTIVE MEASURES RussIA’S KEY EXPORT Jolanta Darczewska, Piotr Żochowski © Copyright by Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia / Centre for Eastern Studies Editor Anna Łabuszewska Co-operation Halina Kowalczyk, Katarzyna Kazimierska Translation Jim Todd Graphic design PARA-BUCH DTP GroupMedia Photograph on cover Eugene Ivanov, Allegory of the Autocracy, Shutterstock.com PubLIsher Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia Centre for Eastern Studies ul. Koszykowa 6a, Warsaw, Poland Phone + 48 /22/ 525 80 00 Fax: + 48 /22/ 525 80 40 osw.waw.pl ISBN 978-83-65827-03-6 CONTENTS INTRODUCTION /5 THESES /8 I. ACTIVE measures’: an ATTemPT TO CLarIFY The COncePT /12 1. Characteristics of the concept and its terms /12 2. The institutional frameworks /16 3. The special forces’ role in the proxy Cold War /19 II. Changes IN The APPLIcaTION OF ‘acTIVE measures’ AFTer The COLD WAR /28 1. Old methods in new realities /28 2. The ‘Primakov doctrine’: a repackaged technology of geopolitical confrontation /32 3. The rule of Vladimir Putin: the return of the state and ideology /37 4. The old fundaments of organisation and innovation /46 III. The RussIAN ‘acTIVE’ ThreaT: TOdaY’S chaLLenges /55 1. The role of the special services and their support operations in the Russian doctrine /55 2. The special services’ place in the armed forces: the Russian situ- ation /60 3. Areas affected by Russian actions /64 SummarY The InherITance and The PresenT /70 INTRODUCTION The special services of the Soviet Union served the interests of a totalitarian state, not only by fighting all views which disagreed with it and blocking channels of communication with the outside world, but also by contributing to the implementation of its for- eign policy (i.e.