Dolores Martin Rodriguez Corner
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Descarga O Catálogo Aquí
The history of Galicia was built at the foot of the hearth. La historia de Galicia se construyó al pie del hogar. A lo Maybe not the history of great feats but, indeed, the history mejor no la historia de los grandes hechos, pero sí la historia that really matters – the history of our people, the everyday que verdaderamente cuenta, la de nuestras gentes, la diaria, one, that of dreams and hopes, of sorrow and failures, of la de los sueños e ilusiones, la de las penas y fracasos, la de memories of people gone, and of confidence in tomorrow. la memoria de las personas ausentes y la del confianza en el Because we are a country with an ancient link with cooking, mañana. Porque somos un país con un vínculo ancestral con and it is there, at the foot of the hearth, in that space of family la cocina y es ahí, al pie del hogar, en ese espacio de unidad unity and friendship, that our essence lies. familiar y de amistad, donde está nuestra esencia. In the 2010 edition of the Fórum Gastronómico Santiago En la edición del Fórum Gastronómico Santiago 2010, Las 2010, As Cociñas do Atlántico, we want to pay tribute to that Cocinas del Atlántico, queremos rendirle tributo a ese espacio traditional space where our present gestated. We understand tradicional donde se generó nuestro presente. Nosotros the Forum as a meeting point of tradition and modernity, a concebimos el Fórum como lugar de encuentro entre la place to salute the best of our past, which is always where we tradición y la modernidad, un lugar de reconocimiento a lo should lay the foundations of our future. -

Feirase MERCADOS
EVOLUCIÓN DAS FEIRAS e MERCADOS NA PROVINCIA DE LUGO Feiras e Mercados na provincia de Lugo Abel Yáñez Armesto e José Mouriño Cuba XUNTA DE GALICIA Consellería do Medio Rural e do Mar Santiago de Compostela 2012 Edita: Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural e do Mar Lugar: Santiago de Compostela ,PSULPH7yUFXOR$UWHV*Ui¿FDV6$ Ano: 2012 Asesoramento Lingüístico: Antonia Vega Prieto Depósito Legal: C 2152-2012 ISBN: 978-84-453-5055-3 ÍNDICE Limiar ............................................................................................................................ 11 FEIRAS E MERCADOS Historia .......................................................................................................................... 15 Evolución das feiras e mercados en Galicia ..................................................................18 Diferenzas entre mercados e feiras ................................................................................19 Feiras ....................................................................................................................... 20 Mercados ................................................................................................................. 21 Feiras e mercados en Galicia .........................................................................................23 Peculiaridades das feiras en Galicia ..............................................................................24 Retrato dunha feira na década de 1960 ........................................................................ -

Glosario Gastronómico
TEXTOS Plan de Promoción Turística do Xeodestino Ferrolterra TRADUCIÓNS INGLÉS E FRANCÉS Babblers IMAXES Arquivo PDPT Ferrol-Ortegal Arquivo Plan de Promoción Turística do Xeodestino Ferrolterra MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN Xaniño - Comunicación Gráfica EDICIÓN Novembro 2014 l destino Ferrolterra – Rías Altas combina interior y costa. De sus tie- rras y de su mar se obtienen produc- Etos de gran calidad que convierten la cocina local en un atractivo turístico en sí mismo. A ello se suman las numerosas fiestas gastro- nómicas repartidas por el territorio. En cualquier localidad se pueden degustar los mejores productos autóctonos y de la co- cina gallega tradicional. Todo tipo de pesca- dos y mariscos de las rías, como los percebes de Cedeira, el famoso pulpo de Mugardos o las sardinas lañadas y las conservas de Cari- ño. Tierra adentro, pimientos de O Couto, pan de Neda, mantecados en As Pontes, grelos de Monfero y Cerdido, ternera en A Capelada, miel en San Sadurniño y Moeche, donde es famoso también su queso de tetilla. Gracias a la colaboración del sector hoste- lero con el Plan de Promoción Turística del destino Ferrolterra – Rías Altas, hemos con- seguido recopilar algunos de los productos más habituales de nuestra cocina y los he- mos traducido para ponerlos nuevamente a disposición de aquellos hosteleros y profe- sionales del sector que los puedan necesitar. 4 destino Ferrolterra – Rías Altas combina interior e costa. Das súas terras e do seu mar se obteñen pro- Odutos de gran calidade que converten a coci- ña local nun atractivo turístico en si mesmo. A isto se suman as numerosas festas gastro- nómicas repartidas polo territorio. -

Mapa De Festas De Interese Turístico
Festas de Interese Turístico de Galicia A CORUÑA OURENSE ARES Festa do Corpus Christi das Alfombras Florais ALLARIZ Festa do Boi ARZÚA Festa do queixo ARNOIA Festa do pemento BETANZOS Festas patronais de San Roque BANDE Festa do Peixe BETANZOS Feira Franca BARCO DE VALDEORRAS (O) Festa do Botelo BETANZOS Semana Santa CELANOVA Romaría Etnográfica Raigame de Vilanova dos Infantes BOIRO San Ramón de Bealo LAZA Entroido de Laza BOQUEIXÓN Entroido da Ulla – Entroido dos Xenerais BOQUEIXÓN Festa da Filloa de Lestedo MACEDA Entroido CABANA DE BERGANTIÑOS Festa de San Fins de Castro MANZANEDA Folión tradicional do Entroido CAMARIÑAS Mostra do encaixe de palillos MONTERREI Xuntanza Internacional de Gaiteiros FERROL Festa das Pepitas OIMBRA Festa do Pemento FISTERRA Festas do Santísimo Cristo de Fisterra OURENSE Festa dos Maios LARACHA Romaría de Nosa Sra. dos Milagros de Caión OURENSE Festa do Magosto LARACHA Festa das Cereixas de Paiosaco RAIRIZ DE VEIGA Romaría da Saínza LAXE Simulacro do Naufraxio de Laxe RIBADAVIA Exposición e exaltación do viño do Ribeiro MALPICA DE BERGANTIÑOS Mostra da Olaría de Buño RIÓS Festa da Castaña e do Cogumelo MALPICA DE BERGANTIÑOS Romaría de Santo Hadrián SAN CRISTOVO DE CEA Festa de Exaltación do Pan de Cea MELIDE Festa do Melindre e da Repostería Tradicional da Terra de Melide VIANA DO BOLO Festa da Androlla e do Entroido MUGARDOS Festa do Polbo VILARIÑO DE CONSO Entroido MUROS Gran premio de Carrilanas de Esteiro NARÓN Oenach NEDA Festa do Pan de Neda PONTEVEDRA OROSO Festa da Troita de Oroso PADRÓN Festa do -

Entroido Gastronómico
entroido gastronómico 2017 ENTROIDO GASTRONÓMICO 7 Santiago de B Compostela Touro Boqueixón Vila de Teo Cruces Vedra Padrón A C A Estrada Silleda Lalín Cuntis E O Barco de 6 Valdeorras 4 Vilaboa 8 Manzaneda Maceda 3 5 D Viana 9 do Bolo 1 Laza Vilariño de Conso Xinzo de Limia 2 Verín FESTAS DO ENTROIDO DE GALICIA DE INTERESE TURÍSTICO FESTAS GASTRONÓMICAS DE INTERESE 1 Entroido de Xinzo de Limia 6 Entroido de Manzaneda OURENSE OURENSE TURÍSTICO RELACIONADAS CO ENTROIDO Feira do Cocido de Lalín Entroido de Verín 7 Entroido dos A 2 LALÍN, PONTEVEDRA OURENSE Xenerais da Ulla A CORUÑA - PONTEVEDRA B Festa da Filloa de Lestedo Entroido de Viana do Bolo LESTEDO - BOQUEIXÓN, A CORUÑA 3 8 Entroido de Maceda OURENSE Festa do Lacón con Grelos de Cuntis MACEDA - OURENSE C Entroido de Cobres CUNTIS, PONTEVEDRA 4 Entroido de ILABOA ONTEVEDRA 9 Festa da Androlla de Viana do Bolo V , P Vilariño de Conso D VIANA DO BOLO, OURENSE Entroido de Laza OURENSE 5 Festa do Botelo OURENSE E O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE Edita: Turismo de Galicia. Estrada Santiago-Noia, km 3 - 15897 Santiago de Compostela • Tel.: 981 542 500 / Fax: 881 995 323 Textos: Manuela Soto - Programas facilitados polos concellos Fotografía: Adolfo Enríquez, Miguel Souto, Alberto Trabada-Viú Foto, Arquivo de Turismo de Galicia D.L.: C 150-2017 • Imprime: Gráficas Lasa, S.L. 4 FESTAS GASTRONÓMICAS DE INTERESE TURÍSTICO RELACIONADAS CON ENTROIDO 9 OUTRAS FESTAS GASTRONÓMICAS RELACIONADAS CON ENTROIDO 10 PROGRAMACIÓN FESTAS DO ENTROIDO DE GALICIA DE INTERESE TURÍSTICO 13 ESTABLECEMENTOS PARTICIPANTES NO ENTROIDO GASTRONÓMICO e a boa mesa é un dos sinais de identidade de S Galicia, o Entroido non o é menos. -

Praza De Abastos: Un Gran Espectáculo
apúntate a... COMPRO E COCIÑO CON... praza de abastos: Guiados en todo momento polos mellores e máis recoñecidos xefes de cociña (Lago Castrillón, Beatriz Sotelo, Marcelo Tejedor, un gran espectáculo Pepe Solla, Pedro Roca...) os participantes cociñan no taller os produtos que antes compraron no tradicional mercado de Abastos. gastronómico, cultural, arquitectónico... + info: www.santiagoreservas.com | www.santiagoturismo.com TOUR GASTRONÓMICO plaza de abastos: praza de abastos: Todos os sábados do ano / Tempada alta xoves e sábados un gran espectáculo Esta visita guiada a pé discorre por tendas de alimentación tradicional - rúa do Vilar, Casa dos Queixos, rúas das Orfas e gastronómico, cultural, arquitectónico... Caldeirería, praza de Cervantes e da Acibechería - e polo moi } auténtico e popular mercado de Abastos. Grazas ás explicacións un gran espectáculo do guía, os participantes coñecerán as claves da cultura gastronómica galega e da dieta atlántica, os segredos dos alimentos e os métodos de cociñado máis típicos. A visita termina gastronómico, cultural, arquitectónico... cunha degustación de produtos 100% galegos. + info: www.santiagoreservas.com | www.santiagoturismo.com TI COMPRAS E NA CAFETERÍA COCÍÑANO... A Praza de Abastos, unha das cinco máis importantes de A Praza de Abastos recupera a memoria histórica das feiras e mercados populares de Galicia. La Plaza de Abastos recupera la memoria histórica de las ferias y mercados populares de Na cafetería situada na Praza de Abastos ofrécenche un servizo peculiar: cociñar os produtos que compres no mercado para España e segundo monumento máis visitado da cidade Representa outra maneira de comprar, ligada ás tradicións rurais e mariñeiras da nosa terra e Galicia. -
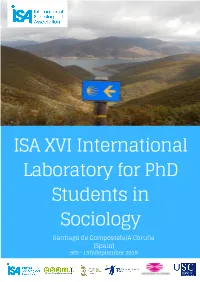
Phd Lab FINAL Students
ISA XVI International Laboratory for PhD Students in Sociology Santiago de Compostela/A Coruña (Spain) 9th– 13thSeptember 2019 “Mobility and Social Inequalities in a Globalized World” Globalisation has been accompanied by a growing interest in the study of mobilities, understood in its broadest sense (bodies, objects, virtual, communicative and imaginative), with some scholars referring to the Mobility Turn (Urry, 2007). These mobilities – their causes and consequences, as well as their meanings, constructs and regulations, lie at the centre of the configuration of societies on a world scale. Furthermore, globalization has sparked a debate into the emergence and increase in new forms of inequalities among societies (gender, race, class, age, ethnicity, and nationality), due to the supranational spatial integration of economies and societies and unequal market flows. The PhD lab will focus on the intersection between mobilities and social inequalities in a globalized world. The Laboratory includes a series of lectures delivered by leading sociologists from Spain and the international community. However, the core of the programme are presentations by the students of their own work and subsequent discussion by students and faculty of the work. The theme for this Laboratory has been conceived in broad terms, and students’ research may focus on or be related in a variety of ways. The XVIth ISA International Laboratory for PhD Students in Sociology is organised jointly by ISA, the Spanish Federation of Sociology (FES) and the International Migration Sociology Team at the University of A Coruña (ESOMI), with the collaboration of the Sociology Department at the University of Santiago de Compostela, as well as the Department of Sociology and Communication Sciences, the Faculty of Sociology and the PHD Programme on Social and Behavioral Sciences at the University of A Coruña (UDC). -

Flyer of Santiago De Compostela
26 contemporary and auteur monuments 16 international architects 12 convents and monasteries 11 theatres and auditoriums 1 Pritzker Prize 200 figures in the ÒPrtico de la GloriaÓ 15 cloisters 13 museums 1 European Town Planning Prize 8,300 square metres of Cathedral 18 monumental fountains 14 libraries and archives 3 Europa Nostra Awards 1 Cathedral 10-ton main bell 19 stately houses and ÒpazosÓ 15 art galleries 74-metre high Obradoiro towers 68 km/h during the ÒBotafumeiroÓ 365 days of cultural activities 4 monumental squares censerÕs flight 30 large international festivals 18 Cathedral chapels Way of St. James declared World Heritage Route 1,500,000 m2 of green spaces 5 historical gardens 54 city gardens 8 natural viewpoints World Heritage City 5 international environmental protection prizes 9 baroque squares 100,000 inhabitants 25 modernist buildings 1,100 restaurants, bars and cafeterias 27 historic churches 5 varieties of wine with guarantee of origin 110 stone gargoyles 80 kinds of sea fish 170-hectare Old Town 50 types of molluscs 188,130 kilos of seafood sold annually www.santiagoturismo.com www.santiagoreservas.com A Lot to Do Santiago is big ÒPraza da QuintanaÓ Guided Tours: Baroque square divided in two: top, ÒQuintana de Gastronomy Compostela Walking Tours Ð Turismo de Santiago de Compostela, capital Touring the City ÒPraza do ObradoiroÓ VivosÓ; bottom, ÒQuintana de MortosÓ, a burial site Other places of interest 3. OTHER SANTIAGOS Santiago Brand: of Galicia and a UNESCO World Called after the workshops (obradoiros) until 1780. ¥ ÒColexio de FonsecaÓ. Renaissance, Santiago is the capital of Atlantic Monumental Santiago in English Heritage City, is the final 1. -

Boletín Informativo Do Concello De
Boletin Informativo Nº 56 do Concello de Oroso Novembro 2017 Bocados de Outono, ruta para descubrir a nosa gastronomía O Concello de Oroso Ríos, O Café de Manuela, organiza a segunda ruta Adega O Ribeiro, Café-Bar gastronómica “Bocados de Restaurante Mirás, Café- Outono”, na que tomarán Bar Xardín e Bar Tapas. parte 8 locais do munici- Vanesa Boo salienta “a co- pio que durante os días 24, laboración ofrecida polos 25 e 26 de novembro ob- hostaleiros” e está con- sequiarán a todos os seus vencida de que “as súas clientes cun bocado espe- propostas serán moi atrac- cial con cada consumición. tivas tanto para a veciñan- A concelleira de Comercio, za de Oroso como para a Vanesa Boo, explica que nosa contorna”. “trátase dunha iniciativa para atraer un maior nú- As propostas culinarias mero de visitantes a Oroso fan honra ao nome da ruta, e dinamizar a nosa hosta- “Bocados de outono”, pois lería ao tempo que promo- son tapas elaboradas con vemos a nosa gastronomía produtos de temporada: local e de temporada entre caldo galego, castañas, todos cantos nos visiten”. grelos, xabaril ou cogo- Outono” non haberá pre- 20:00 a 22:30 horas), sá- melos, cuantitativamente mios, salvo degustar un bado 25 (de 12:00 a 15:00 Os locais participan- o produto máis escollido. sabroso bocado con cada horas e de 20:00 a 22:30 tes son: Sigü Café, Mesón A diferenza do Concurso consumición. O horario é horas) e o domingo 26 (de Tambre, Cafetería-Bar 6 de Tapas, nos “Bocados de o seguinte: venres 24 (de 12:00 a 15:00 horas). -

Entroido-Gastronómico-14.Pdf
entroido www.xeneraisdaulla.com entroido “Es tiempo de Xenerais cuando sube la lamprea se comen buenos cocidos Comer na Ulla no Entroido y la camelia florea.” Extraído dun Alto ou Atranque dos Xenerais da Ulla Autor: Martín “do Mesón”, veciño de Aríns A comarca da Ulla, formada polos Concellos de A Estrada, Boqueixón, Padrón, Santiago, Silleda, Teo, Touro, Vedra e Vila de Cruces, exemplifica toda a tradición e riqueza gastronómica da cociña galega, admirada pola soberbia calidade dos seus ingredientes. Por iso a gastronomía é un dos principais atractivos desta zona, produtora ademais, entre outros, de queixos, viños albariños, augardentes e licores con Denominación de Orixe Protexida. O Entroido é por excelencia o tempo da carne. Prevendo a próxima abstención obrigada polo calendario relixioso, a atención diríxese á tenreira e á galiña, pero sobre todo ao porco: o lacón, os chourizos e as cacheiras (cabezas de porco salgadas, características desta época), o morro e as orellas, que xunto cos grelos (nome específico que reciben en Galicia as follas do nabo) e as patacas acompañadas de fabas ou garavanzos, compoñen o famoso cocido galego, o prato máis típico destas datas na Ulla e en toda Galicia. O cocido da Ulla entra moi ben cun viño tinto mencía, que tamén se produce na Ulla baixo a Denominación de Orixe Protexida Rías Baixas – Subzona Ribeira do Ulla. O Entroido é tamén a época das filloas (tortas salgadas de fariña de trigo, preparadas con manteiga de porco, que se consumen co cocido ou após da comida), e en canto ás sobremesas, das orellas de fariña e anís, e dos melindres e rosquillas, aos que se suma o que quizais sexa o postre galego par excellence, o atemporal queixo con marmelo, como non podía ser doutro xeito nunha comarca quiexeiria como a da Ulla. -

Colectivos Artesanos
Colectivos artesanos PARA UNHA ETNOGRAFÍA DOS PORTADORES DE SABERES TRADICIONAIS JOSÉ ANTONIO FIDALGO SANTAMARIÑA 1º PREMIO DO VI CONCURSO DE INVESTIGACIÓN ROMARÍA RAIGAME 2007 Colectivos artesanos Colectivos artesanos PARA UNHA ETNOGRAFÍA DOS PORTADORES DE SABERES TRADICIONAIS J. ANTONIO FIDALGO SANTAMARIÑA 1º PREMIO DO VI CONCURSO DE INVESTIGACIÓN ROMARÍA RAIGAME 2007 S e r i e Dirección Mariló e Xulio Fernández Senra Senra Secretaría Fco. Javier Álvarez Campos Colaboración artística Luis Cid RAIGAME Aptdo. 484 Coordina Centro Cultura Popular “Xaquín Lorenzo Fernández, Xocas” Tlf. e Fax 988 249493 32080 - Ourense e-mail: [email protected] www.depourense.es Edita Tódolos dereitos de reproducción, adap- Deseño e Realización infográfica Xosé Lois Vázquez & Nicole Carpentier, S.C. tación, traducción ou representación dos textos, ilustracións e fotografías están reser- Impresión RODI Artes Gráficas, S.L., Ourense vados, e só poderán ser exercidos por Dep. Legal OU 167-2007 terceiros previa solicitude e corresponden- I.S.B.N. 978-84-96503-63-5 te permiso dos editores ou dos autores. Colectivos artesanos PARA UNHA ETNOGRAFÍA DOS PORTADORES DE SABERES TRADICIONAIS J. Antonio Fidalgo Santamariña LIMIAR O saber artesá para non perdelo necesita desaparecer. Para esto decidín escoller: a) Tres colectivos de ser transmitido de cada xeración á seguinte. especialistas artesáns, que poñen en práctica o seu saber Para iso, empréganse métodos e mecanismos educativos e habilidade técnica artesá dentro dun obradoiro estable que existen en cada cultura. Incluso, dentro dela, cada área que teñen instalado ó carón do fogar ou dentro del. Trátase xeográfica pode presentar unha maneira local de transmitir dos colectivos de Oleiros, Ferreiros e Zapateiros tradicionais, os saberes e tradicións propios. -

Carnaval Gastronómico CARNAVAL GASTRONÓMICO
carnaval gastronómico CARNAVAL GASTRONÓMICO 7 Santiago de B Compostela Touro Boqueixón Vila de Teo Cruces Vedra Padrón A C A Estrada Silleda Lalín Cuntis 6 4 Vilaboa Manzaneda 3 5 D Viana do Bolo 1 Laza Xinzo de Limia 2 Verín FIESTAS DEL CARNAVAL DE GALICIA FIESTAS GASTRONÓMICAS DE INTERÉS DE INTERÉS TURÍSTICO TURÍSTICO RELACIONADAS CON EL CARNAVAL Carnaval de Xinzo de Limia Carnaval de Laza Feria del Cocido de Lalín 1 5 A OURENSE OURENSE LALÍN, PONTEVEDRA Carnaval de Verín Carnaval de Manzaneda Fiesta de la Filloa de Lestedo 2 6 B OURENSE OURENSE LESTEDO - BOQUEIXÓN, A CORUÑA Carnaval de Viana do Bolo Carnaval dos Fiesta del Lacón con Grelos de Cuntis 3 7 C OURENSE Xenerais da Ulla CUNTIS, A CORUÑA A CORUÑA - PONTEVEDRA Carnaval de Cobres Fiesta de la Androlla de Viana do Bolo 4 D VILABOA, PONTEVEDRA VIANA DO BOLO, OURENSE Edita: Turismo de Galicia. Estrada Santiago-Noia, km 3 - 15896 Santiago de Compostela Tel.: 902 200 432 / Fax: 981 542 659 Textos: Manuela Soto - Programas facilitados por los ayuntamientos Fotografía: Adolfo Enríquez, Miguel Souto, Alberto Trabada-Viú Foto, Arcuivo de Turismo de Galicia Imprime: Grafisant • D.L.: C 137-2014 4 FIESTAS GASTRONÓMICAS DE INTERÉS TURÍSTICO RELACIONADAS CON EL CARNAVAL 8 OTRAS FIESTAS GASTRONÓMICAS RELACIONADAS CON EL CARNAVAL 10 PROGRAMACIÓN FIESTAS DEL CARNAVAL DE GALICIA DE INTERÉS TURÍSTICO 13 ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN EL CARNAVAL GASTRONÓMICO i la buena mesa es una de las señas de identidad de S Galicia, el carnaval no lo es menos. Por eso cuando se unen, carnaval y gastronomía forman una pareja irresistible que da las mejores fiestas del año.