Em Luanda (1926 – 1961)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Diário Da Re
Terça-feira, 24 de Março de 2015 III Série-N.° 56 GOU PUBS J08 0017 3924 \ ‘ ; « i1 * yfx 1 x y •’ DIÁRIO DA RE ---------- ---- — Ropóbllcn 4. angola __ ÓRGÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE ANGOLA Preço deste número - Kz: 670,00 Toda a correspondência, quer oficial, quer ASSINATURA O preço de cada linha publicada nos Diários relativa a anúncio e assinaturas do «Diário Ano da República l.a e 2.° série é de Kz: 75.00 e para da República», deve ser dirigida à Imprensa As três séries .............................Kz: 470 615.00 a 3.a série Kz: 95.00, acrescido do respectivo Nacional - E.P., em Luanda, Rua Henrique de A 1.° série ........ ;.............. Kz: 277 900.00 imposto do selo, dependendo a publicação da Carvalho n,° 2, Cidade Alta, Caixa Postal 1306, wv.imprensanacional.gov.ao - End. teleg.: A 2.a série ........................ Kz: 145 500.00 3.a série de depósito prévio a efectuar na tesouraria, «Imprensa». A 3.” série ........................... Kz: 115 470.00 da Imprensa Nacional - E. P. SUMÁRIO Osmium, Limitada. CIMERTEX (ANGOLA) — Sociedade de Máquinas e Equipamentos, Misu, Limitada. * , , ' ' Limitada. Fazenda Jocilia, Limitada. Grupo Amservice, Limitada. Associação dos Naturais e Amigos dc Banza Malambo. Grupo Mun. Fra, Limitada. Adamsmat (SU), Limitada. Grandstream, S. A. Kalabrothers, Limitada. ' • . Mandajor (SU), Limitada. SEETRAVEL—Viagens e Turismo', Limitada. AC&EC(SU), Limitada. RPD — Consultoria Geral, Limitada. Nessli(SU), Limitada. GET—In Soluções, Limitada. KAWAPA— Comercio, Indústria, Importação c Exportação, Limitada. Rcctificação: Clarif Comercial, Limitada. «Grupo Asac Investimenfs, Limitada». GESTA ER — Gestão c Serviços Aeroportuários, Limitada. Conservatória do Registo Comercial da 2.’ Secção do Guiché Único Adalberto & Petterson Angola, Limitada. -
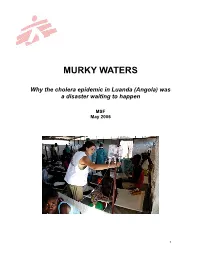
MURKY WATERS Why the Cholera Epidemic in Luanda
MURKY WATERS Why the cholera epidemic in Luanda (Angola) was a disaster waiting to happen MSF May 2006 ! !1 Executive Summary Since February 2006, Luanda is going through its worst ever cholera epidemic, with an average of 500 new cases per day. The outbreak has also rapidly spread to the provinces and to date, 11 of the 18 provinces are reporting cases. The population of Luanda has doubled in the last 10 years, and most of this growth is concentrated in slums where the living conditions are appalling. Despite impressive revenues from oil and diamonds, there has been virtually no investment in basic services since the 1970s and only a privileged minority of the people living in Luanda have access to running water. The rest of the population get most of their water from a huge network of water trucks that collect water from two main points (Kifangondo at Bengo river in Cacuaco and Kikuxi at Kuanza river in Viana) and then distribute it all over town at a considerable profit. Water, the most basic of commodities, is a lucrative and at times complex business in Luanda, with prices that vary depending on demand. Without sufficient quantities of water, and given the lack of proper drainage and rubbish collection, disease is rampant in the vast slums. This disastrous water and sanitation situation makes it virtually impossible to contain the rapid spread of the outbreak. Médecins Sans Frontières is already working in ten cholera treatment structures, and may open more in the coming weeks. Out of the 17,500 patients reported in Luanda (the figure for all of Angola is 34,000), more than14,000 have been treated in MSF centres Despite significant efforts to ensure that patients have access to treatment, very little has been done to prevent hundreds more from becoming infected. -

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEDC/CAMPUS I PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE - Ppgeduc
1 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEDC/CAMPUS I PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE - PPGEduc MILLE CAROLINE RODRIGUES FERNANDES DE ANGOLA À NILO PEÇANHA: TRAÇOS DA TRAJETÓRIA HISTÓRICA E DA RESISTÊNCIA CULTURAL DOS POVOS KONGO/ANGOLA NA REGIÃO DO BAIXO SUL Salvador 2020 2 MILLE CAROLINE RODRIGUES FERNANDES DE ANGOLA À NILO PEÇANHA: TRAÇOS DA TRAJETÓRIA HISTÓRICA E DA RESISTÊNCIA CULTURAL DOS POVOS KONGO/ANGOLA NA REGIÃO DO BAIXO SUL Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade/PPGEduc- UNEB, no âmbito da Linha de Pesquisa I - Processos Civilizatórios: Educação, Memória e Pluralidade Cultural, como requisito para a obtenção do Título de Doutora em Educação e Contemporaneidade. Orientadora: Profa. Dra. Jaci Maria Ferraz de Menezes Co-orientador: Prof. Dr. Abreu Castelo Vieira dos Paxe Salvador 2020 3 4 5 Disêsa Ngana! (Licença Senhores/as!) Às pessoas mais velhas e às crianças, peço Nsuá (Licença). À minha Avó Mariazinha, à Minha Mãe e Madrinha Valdice Herculana (Mamãe Didi) e à minha Mãe biológica Maria José (Mamãe Zezé), as primeiras mulheres com quem aprendi a reverenciar os antepassados, a benzer com as folhas e a encantar o alimento. À Angola por ter sido acalento e cura para minh’alma. Aos Reis, Rainhas, Jindembo, Osoma, N’gola e Sekulos, por terem reconhecido minha origem angolana, pelo doce acolhimento, por me (re)ensinar a importância da nossa ancestralidade e por verem em mim ‘Makyesi’ (Felicidade). 6 AGRADECIMENTOS Agradecer às pessoas que trilharam conosco os caminhos mais difíceis e, muitas vezes, até improváveis, é uma singela forma de tentar retribuir, recompensar em palavras e gestos, mas é também tentar tornar-se digna de tanta generosidade encontrada nesta intensa e maravilhosa travessia. -

Mapa Rodoviario Benguela
PROVÍNCIAPROVÍNCIAPROVÍNCIAPROVÍNCIAPROVÍNCIA DEDE DO DODO MALANGECABINDA BENGO ZAIREUÍGE REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS FUNDO RODOVIÁRIO BENGUELA Eval Loeto Tapado Eval Guerra10 1 7 EC 100-7 12 6 Cinjamba 6 2 15 1 5 6 Caiandula Hangala Nomaca1 8 Bumba Inguelume Santa 8 2 10 Egito Braia 13 Teresa 3 22 Balombo5 6 Canjala Vouga 1 3 Bom Jesus 10 2 1 BALABAIA Luime 15 9 9 Tala 7 Cuula 10 6 CHILA 17 Banja 2 4 Casseque 12 Calul 7 10 25 20 9 16 EN 110 EN 100 10 3 Chicala 17 20 12 Chicuma Balombo Satanda 10 do Egito 20 7 4 15 Cuula1 2 Nunda Moma LOBITO 3 Choundo 14 Brita 5 10 Hanha Cuhula 8 Cangumbi 2 5 2 15 Felino 2 11 EC 367 Fonte do Jomba 3 2 Cubal 17 Cubal CAVIMBE 10 Ussoque 1 4 17 7 Culango Cubal do Lombodo Lumbo 10 Chinjir CHINGONGO 8 9 17 Culai 21 15 Chimbambo 13 2 9 6 Cubal de Quissaine Achuio EN 250 Cota LOBITO 8 7 13 18 3 21 MONTE 3 18 1 7 12 7 CANATA 11 1 BOCOIO 12 Bussa 8 Londengo BELO Amera Caluita BALOMBO 8 18 10 Lamalo 4 8 Cúmia 2 5 9 Chifena 10 7 CATUMBELA Balombo Caala Balombo 4 Aldeia do EN 250 Uequia BOCOIO 10 11 Luango 10 3 13 2 Biopio 20 Cubal15 do CamoneNunce BALOMBO 4 Lussinga 7 8 11 Lomete EN 100 Barragem Crabeiro Lopes8 6 Cateque 4 10 Humbondo Lucunga 22 Damba Maria 6 Saleiro 9 13 Temba 8 EC 356 CATUMBELA 7 16 Mabubo 4 Upano 7 2 Tola Cavicha BENGUELA 6 11 10 PASSE 5 5 Chimuco 7 Chiculo Cagendente 4 2 4 10 Caota 5 16 10 EC 355 Cuvomba 3 7 11 6 5 1 16 Vicua BAIA FARTA 5 EC 250-1 10 CuchiEN 110 16 1 Baia Azul NavegantesCavaco10 12 2 Capilongo EC 356-1 4 4 6 3 Chivanda 1 7 2 7 7 5 9 5 6 12 Cutembo ENDungo 100-2 -

Oh, Muxima! a Formação Da Música Popular Urbana De
Revista TEL, Irati, v. 7, n.2, p. 193-218, jul. /dez. 2016 - ISSN 2177-6644 OH, MUXIMA! THE OH, MUXIMA! A FORMATION OF URBAN POPULAR MUSIC OF ANGOLA FORMAÇÃO DA MÚSICA AND THE GROUP “N'GOLA POPULAR URBANA DE RHYTHMS” (1940-1950) ANGOLA E O GRUPO OH, MUXIMA! LA FORMACIÓN “N’GOLA RITMOS” DE LA MÚSICA POPULAR URBANA DE ANGOLA (1940-1950) Y EL GRUPO 'N'GOLA RITMOS' DOI: 10.5935/2177-6644.20160023 (1940-1950) Amanda Palomo Alves* Resumo: O presente artigo trata de uma importante fase da música popular urbana de Angola, que se dá a partir dos anos 1940. Buscamos, contudo, dissertar sobre a história de um grupo musical específico, o “N’gola Ritmos”. Nossa opção pelo tema se deve por compreendermos a importância do conjunto e a sua posição de liderança durante os anos cinquenta do século XX, sobretudo, na cidade de Luanda. Palavras-chave: Angola. História. Música. “N’gola Ritmos”. Abstract: This article will deal with a major phase of urban popular music of Angola, which takes place from the 1940s will seek, however, speak about the history of a particular musical group, "N'gola Rhythms". Our choice of theme is due to understand the importance of the whole and its leading position during the fifties of the twentieth century, particularly in the city of Luanda. Keywords: Angola. History. Music. "N'gola Rhythms". Resumen: El presente artículo trata de una importante fase de la música popular urbana de Angola, que se da a partir de los años 1940. Buscamos, pero, dissertar sobre la historia de um grupo musical específico, lo “N’gola Ritmos”. -

Relatório Do Estado Geral Do Ambiente Em Angola
Governo de Angola Ministério do Urbanismo e Ambiente Relatório do Estado Geral do Ambiente em Angola Relatório do Estado Geral do Ambiente em Angola – MINUA 2006 i Prefácio A face ambiental de Angola mudou profundamente no último decénio. As vastas áreas de florestas diminuíram consideravelmente; a vegetação de savana mudou devido à pressão humana. Uma parte significativa das cidades costeiras do país está desestruturada devido à deslocação das populações rurais para a cidade. À entrada do século XXI, Angola encontra-se numa posição singular exibindo ainda problemas sociais comuns aos países em desenvolvimento, mas enfrentando os mesmos desafios ambientais que os países desenvolvidos. Angola, apesar do longo período de guerra, é ainda uma nação onde a riqueza natural e os valores culturais se pretendem conservar para as futuras gerações. Portanto, é necessário sabedoria, capacidade técnica e profissional para que o país crie as bases para um desenvolvimento sustentável e, para que ao mesmo tempo cumpra com as suas obrigações de participação no processo de mudança global. O acesso a informação actual, segura e oportuna sobre as questões ambientais é um direito consagrado à luz da legislação vigente e uma prioridade da acção governativa. O relatório do estado geral do ambiente que se apresenta põe em evidência os desafios que os angolanos e angolanas devem enfrentar nos próximos tempos para assegurar o seu futuro. As principais questões do ambiente incluem entre outras, a perda de habitats e da diversidade biológica, a desflorestação e erosão de solos, a sobre exploração e poluição de recursos hídricos e a insuficiência de infra estruturas e equipamento social. -

Inventário Florestal Nacional, Guia De Campo Para Recolha De Dados
Monitorização e Avaliação de Recursos Florestais Nacionais de Angola Inventário Florestal Nacional Guia de campo para recolha de dados . NFMA Working Paper No 41/P– Rome, Luanda 2009 Monitorização e Avaliação de Recursos Florestais Nacionais As florestas são essenciais para o bem-estar da humanidade. Constitui as fundações para a vida sobre a terra através de funções ecológicas, a regulação do clima e recursos hídricos e servem como habitat para plantas e animais. As florestas também fornecem uma vasta gama de bens essenciais, tais como madeira, comida, forragem, medicamentos e também, oportunidades para lazer, renovação espiritual e outros serviços. Hoje em dia, as florestas sofrem pressões devido ao aumento de procura de produtos e serviços com base na terra, o que resulta frequentemente na degradação ou transformação da floresta em formas insustentáveis de utilização da terra. Quando as florestas são perdidas ou severamente degradadas. A sua capacidade de funcionar como reguladores do ambiente também se perde. O resultado é o aumento de perigo de inundações e erosão, a redução na fertilidade do solo e o desaparecimento de plantas e animais. Como resultado, o fornecimento sustentável de bens e serviços das florestas é posto em perigo. Como resposta do aumento de procura de informações fiáveis sobre os recursos de florestas e árvores tanto ao nível nacional como Internacional l, a FAO iniciou uma actividade para dar apoio à monitorização e avaliação de recursos florestais nationais (MANF). O apoio à MANF inclui uma abordagem harmonizada da MANF, a gestão de informação, sistemas de notificação de dados e o apoio à análise do impacto das políticas no processo nacional de tomada de decisão. -

Angolan National Report for Habitat III
Republic of Angola NATIONAL HABITAT COMMITTEE Presidential Decree no. 18/14, of 6 of March Angolan National Report for Habitat III On the implementation of the Habitat II Agenda Under the Coordination of the Ministry of Urban Development and Housing with support from Development Workshop Angola Luanda – June 2014 Revised - 11 March 2016 Angola National Report for Habitat III March 2016 2 Angola National Report for Habitat III March 2016 TABLE OF CONTENTS I. INTRODUCTION ........................................................................................................................ 11 II. URBAN DEMOGRAPHIC ISSUES ............................................................................................... 12 1. Migration and rapid urbanisation ...................................................................................... 12 Urban Population Growth ............................................................................................ 12 Drivers of Migration ...................................................................................................... 14 2. Rural-urban linkages........................................................................................................... 16 3. Addressing urban youth needs .......................................................................................... 17 4. Responding to the needs of the elderly ............................................................................. 19 5. Integrating gender in urban development ........................................................................ -

REDE DE FARMÁCIAS – SAÚDE / ACIDENTES DE TRABALHO As Farmácias Abaixo Mencionadas Trabalham Com a Fidelidade Angola
Actualizado a 05/03/2021 REDE DE FARMÁCIAS – SAÚDE / ACIDENTES DE TRABALHO As farmácias abaixo mencionadas trabalham com a Fidelidade Angola. Ao visitar qualquer uma destas farmácias o cliente deve identificar-se com o Cartão de Saúde da Fidelidade ou com a Prescrição Médica do Gabinete de Assessoria Clínica da Fidelidade Angola. É sempre necessária a apresentação de um documento de identificação com fotografia (BI ou outro). KI - FARMÁCIA VIANA: Município de Viana, Zango I, na Rua direita do Calumbo, dentro do nosso Super do Zango I | Tel: +244 932 385 020| E-mail: [email protected] FARMÁCIAS DE ANGOLA ALVALADE: Hip. Kero Gika, Luanda Shopping, Travessa Ho Chi Minh, Bairro de Alvalade, Luanda | Tel: +244 936 667 522 | 990 671 703 | E-mail: [email protected] CACUACO: Hipermercado Kero Cacuaco | Estrada da Nova Centralidade S/N | Cacuaco | Tel: +244 942 561 530 | 924 943 692 | E-mail: [email protected] CENTRALIDADE DO KILAMBA: Hipermercado Kero Kilamba | Lojas 4 e 5 | Estrada Imperial Santana S/N | Centralidade do Kilamba | Tel: +244 939 274 610 | 941 303 000 | E-mail: [email protected] .ao NOVA VIDA: Hipermercado Kero Nova Vida | Avenida Pedro de Castro Van Duném Loy | Talatona | Tel: +244 933 453 010 | E-mail: [email protected] VIANA: Hipermercado Kero Viana | World Trade Center Retail Viana | Estrada de Catete Km 22 | Tel: +244 942 564 454 | 924 765 699 | E-mail: ana.auré[email protected] BENGUELA: Hipermercado Kero Benguela, Estrada Benguela Baia Farta, -

A Caminho Da Cidade: Migração Interna, Urbanização E Saúde Em Angola Carlos M
OBSERVATORY ON MIGRATION OBSERVATOIRE ACP SUR LES MIGRATIONS OBSERVATÓRIO ACP DAS MIGRAÇÕES A CAMINHO DA CIDADE: Migração interna, urbanização e saúde em Angola Carlos M. Lopes Cristina U. Rodrigues Gabriela Simas © 2012 Gabriela Simas – Bairro Palanca, Luanda Palanca, © 2012 Gabriela Simas – Bairro Research Report Uma iniciativa do Secretariado ACP, financiada pela União Europeia, ACPOBS/2013/PUB05 implementada pela OIM e com o apoio financeiro da Suíça, da OIM, do Fundo da OIM para o Desenvolvimento e do UNFPA International Organization for Migration (IOM) Organisation internationale pour les migrations (OIM) Organização Internacional para as Migrações (OIM) 2013 Observatório ACP das Migrações O Observatório ACP das Migrações é uma iniciativa do Secretariado do Grupo dos Estados da África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP), financiada pela União Europeia, implementada pela Organização Internacional para as Migrações (OIM) num consórcio com 15 parceiros e com o apoio financeiro da Suíça, da OIM, do Fundo da OIM para o Desenvolvimento e do UNFPA. Fundado em 2010, o Observatório ACP é uma instituição concebida para produzir dados relativos à migração Sul-Sul no Grupo dos Estados ACP para migrantes, para a sociedade civil e para os decisores políticos, bem como para aperfeiçoar as capacidades de investigação nos países ACP para a melhoria da situação dos migrantes e o fortalecimento da relação migração-desenvolvimento. O Observatório foi fundado para facilitar a criação de uma rede de instituições de investigação e de especialistas na investigação da migração. As actividades estão a iniciar-se em 12 países piloto e serão progressivamente alargadas a outros países ACP interessados. Os 12 países piloto são: Angola, Camarões, Haiti, Quénia, Lesoto, Nigéria, Papua-Nova Guiné, a República Democrática do Congo, a República Unida da Tanzânia, Senegal, Timor-Leste, e Trindade e Tobago. -

Chapter 3 Profile of the Study Area
Chapter 3 Profile of the Study Area 3.1 Benguela Province 3.1.1 Outline Benguela Province is located in mid-west Angola. Its northern part meets the Province of Kwanza Sul, the east with Huambo, and the south with the Province of Huila and Namibe. The surface area is 39,826,83km2, and covers 3.19% of the national territory. It consists of 9 Municipalities including Lobito, and 27 Comunas and has a population of 1.93 million. The major Municipalities are Lobito (population: 736,000), Benguela (470,000) and Cubal (230,000). Its climate is dry and hot in the coastal areas, with an average temperature of 24.2 degrees Celsius with a highest temperature of 35 degrees Celsius. Vegetation is concentrated in the western areas, and in recent years, the forest areas along the coastline are decreasing due to deforestation. It has approx 1 million hectare of potential farmland and can produce various agricultural products thanks to its rich land and water sources. Primary products include bananas, corn, potatoes (potato, sweet potato), wheat flour, coconuts, beans, citrus fruit, mangos, and sugar cane. It is known nationwide for its variety of production, and the scale of cattle breeding ranks 4th in country. Currently cultivated areas total approx 214,000ha, and the production of primary products reaches approx 247,000 tons. Table 3-1 Profile of Municipalities in Benguela (As of 2007) Estimated Surface area Municipality Density/km2 population (km2) Benguela 469,363 2,100 223.5 Lobito 736,978 3,685 200.0 Baia Farta 97,720 6,744 14.5 Ganda 190,006 4,817 39.4 Cubal 230,848 4,794 48.2 Caimbambo 44,315 3,285 13.5 Balombo 27,942 2,635 10.6 Bocoio 55,712 5,612 9.9 Chongoroi 75,256 6,151 12.2 Total.. -

Dossier Habitação 2015
Dossier Habitação 2015 Redação Helga Silveira Conselho de Ediçao Allan Cain, Jose Tiago O Extracto de notícias é um serviço do Centro de e Massomba Dominique Documentação da DW (CEDOC) situado nas instalações da DW em Luanda. O Centro foi criado em Janeiro de Editado por 2001 com o objectivo de facilitar a recolha, Development Workshop Angola armazenamento, acesso e disseminação de informação sobre desenvolvimento socio-economico do País. Endereço Através da monitoria dos projectos da DW, estudos, Rua Rei Katyavala 113, pesquisas e outras formas de recolha de informação, o C. P. 3360, Luanda — Angola Centro armazena uma quantidade considerável de documentos entre relatórios, artigos, mapas e livros. A Telefone +(244 2) 448371 / 77 / 66 informação é arquivada física e eletronicamente, e está disponível para consulta para as entidades interessadas. Email cedoc. dWang@angonet. Org Além da recolha e armazenamento de informação, o Centro tem a missão da disseminação de informação por Com apoio de vários meios. Um dos produtos principais do Centro é o Development Workshop Extracto de notícias. Este Jornal monitora a imprensa OXFAM Novib nacional e extrai artigos de interesse para os leitores com Fundação Bill & Melinda Gates actividades de interesse no âmbito do desenvolvimento do International Development Research Centre País. O jornal traz artigos categorizados nos seguintes Civil Society Challenge Fund grupos principais. NorWegian & The Netherlands Embassies 1. Redução da Pobreza e Economia European Union 2. Microfinanças 3. Mercado Informal Dislaimer 4. OGE investimens públicos e transparência 5. Governação descentralização e cidadania 1. Content 6. Urbanismo e habitação DW – CEDOC provides this service solely for academic 7.