Comissão Científica – ESAF – 2012
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Flavia Tese Versão Definitiva.Pdf
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA ESCOLA DE MÚSICA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA CAPOEIRA ANGOLA, EDUCAÇÃO MUSICAL E VALORES CIVILIZATÓRIOS AFRO-BRASILEIROS FLAVIA CANDUSSO Salvador 2009 ii FLAVIA CANDUSSO CAPOEIRA ANGOLA, EDUCAÇÃO MUSICAL E VALORES CIVILIZATÓRIOS AFRO-BRASILEIROS Tese apresentada ao Programa de Pós- graduação em Música da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutora em Música. Área de concentração: Educação Musical Orientadora – Profa. Dra. Ângela Lühning Salvador 2009 C216 Candusso, Flavia. Capoeira Angola, educação musical e valores civilizatórios afro-brasileiros. / Flavia Candusso. - 2009. Xiii, 244 f. : il. Inclui DVD Orientadora : Prof.ª Dr.ª Ângela Lühning Tese (doutorado) - Universidade Federal da Bahia. Escola de Música, 2009. 1. Musica – Instrução e ensino. 2. Cultura popular. 3. Capoeira Angola I. Lühning, Angela. II. Universidade Federal da Bahia. Escola de Música . III. Título. CDD – 780.7 iv © Copyright by Flavia Candusso Julho, 2009 vi para meu filhote Leonardo e para minha família ... vii AGRADECIMENTOS Ao Mestre Faísca, pela sua confiança desde minha primeira visita ao Centro Esportivo de Capoeira Angola e pelos grandes ensinamentos sobre a capoeira, sobre uma nova maneira de pensar o tempo e sobre a vida. Minha eterna gratidão pela colaboração, pela parceria, pela disponibilidade, pela amizade e energia positiva, que caracterizaram todas as minhas passagens pelo CECA e qualquer outro momento. Ao Mestre João Pequeno, pela sua grande sabedoria e humanidade que conseguiu me passar até nos momentos de silêncio. A Edney Jovenase, Thiago, a todos os alunos do projeto João e Maria, Capoeira Angola e Cidadania (Kayodê, Kehindê, Juliana, Joana, Daisy, Laíse, Wendel, Camila, Lorena, Estéfany e outros com os quais tive menos contato) e a todos os integrantes do CECA-Rio Vermelho pela colaboração e paciência que tiveram comigo, acompanhando uma não- capoeirista neste mergulho no mundo da capoeira angola. -

3 a Capoeira Em Roda
3 A capoeira em roda Eu amo o capadócio da Bahia Esse eterno alegrete, Que passa provocante em nossa frente, Brandindo o seu cassete. […] Adoro o capoeira petulante, O caibra debochado, O terror do batuque, o desordeiro, Que anda sempre de compasso ao lado. […] Adoro o capadócio da Bahia, Esse eterno patife, Que gosta de bater numa pessoa, Como quem bate bife. Esse poema de Manuel Rozentino, natural da ilha de Itaparica e falecido em 1897 (MOURA, 1979), revela-nos a presença do indivíduo reconhecido pela alcunha criminosa na antiga capital da colônia. Capadócio, desordeiro, patife e petulante, eram apenas sinônimos pejorativos para o capoeira. Encontramos aqui nossa mais antiga referência a esse nome para a região de Salvador, registrado apenas no final do século XIX. Fato que indica a possível ausência da palavra, com esse mesmo sentido, nos falares dessa terra, mas não a ausência do indivíduo e de sau prática, que costumavam ser associados à capoeira mais ao sul do país. Não temos como duvidar da força e da tradição das artes marciais escravas nessa região, tanto como muito se tem feito ao pensar na luta pelos mercados da capoeira esportiva. A história dessa arte, no século XX, não deixa dúvidas. A dominação das tradições baianas sobre as práticas de outras regiões nos revela uma história mais antiga, cujos relatos não estão nos documentos tradicionais, mas fazem parte da própria experiência física, desenvolvida no convívio de uma comunidade negra que fez da antiga capital da colônia a capital das tradições africanas nesse país. Além desse poema de Manuel Rozentino e da prancha San Salvador de Rugendas (Figura 5) não encontramos referências sobre a capoeira em períodos 53 anteriores, mesmo a litografia do viajante francês não utiliza desse termo em sua descrição e a comparação com sua outra tela, Jogar capoeira ou dança de guerra (Figura 4), permite fazer tal aproximação. -

Intracultural and Intercultural Dynamics of Capoeira Training in Brazil Paul H
ge Intracultural and Intercultural Dynamics of Capoeira Training in Brazil Paul H. Mason Journal ǁ Global Ethnographic Publication Date ǁ 1.2013 ǁ No.1 ǁ Publisher ǁ Emic Press Global Ethnographic is an open access journal. Place of Publication ǁ Kyoto, Japan ISSN 2186-0750 © Copyright Global Ethnographic 2013 Global Ethnographic and Emic Press are initiatives of the Organization for Intra-Cultural Development (OICD). Global Ethnographic 2012 photograph by Puneet Singh (2009) 2 Paul H. Mason ge Capoeira Angola performance outside the Santo Antônio Além do Carmo, also known as the Forte da Capoeira, in Salvador da Bahia, Brazil. 3 Intracultural and Intercultural Dynamics of Capoeira Training in Brazil Paul H. Mason ABSTRACT In the port-cities of Brazil during the nineteenth and twentieth centuries, a distinct form of combat- dancing emerged from the interaction of African, European and indigenous peoples. The acrobatic movements and characteristic music of this art have come to be called Capoeira. Today, the art of Capoeira has grown in popularity and groups of practitioners can be found scattered across the globe. Exploring how Capoeira practitioners invent markers of difference between separate groups, the first section of this article discusses musical markers of identity that reinforce in-group and out- group dynamics. At a separate but interconnected level of analysis, the second section investigates the global origins of Capoeira movement and disambiguates the commonly recounted origin myths promoted by teachers and scholars of this art. Practitioners frequently relate stories promoting the African origins of Capoeira. However, these stories obfuscate the global origins of Capoeira music and movement and conceal the various contributions to this vibrant and eclectic form of cultural ex- pression. -

Norma Sueli Dos SANTOS, As Possibilidades De Permanência Das
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CENTRO DE ESTUDOS GERAIS INSTITUTO DE ARTE E COMUNICAÇÃO SOCIAL PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA ARTE NORMA SUELI DOS SANTOS AS POSSIBILIDADES DE PERMANÊNCIA DAS EXPRESSÕES DA CAPOEIRA NUM CONTEXTO GLOBALIZADO Niterói 2009 NORMA SUELI DOS SANTOS AS POSSIBILIDADES DE PERMANÊNCIA DAS EXPRESSÕES DA CAPOEIRA NUM CONTEXTO GLOBALIZADO Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ciência da Arte, do Departamento de Arte da Universidade Federal Fluminense como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Ciência da Arte Orientador: Prof. Dr. Werther Holzer Co-Orientador: Profa. Dra. Aureanice Correa Niterói 2009 Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca Central do Gragoatá S237 Santos, Norma Sueli dos. As possibilidades de permanência das expressões da capoeira num contexto globalizado / Norma Sueli dos Santos. – 2009. 233 f. Orientador: Werther Holzer. Co-orientador: Aureanice Correa. Dissertação (Mestrado em Ciência da Arte) – Universidade Federal Fluminense, Instituto de Arte e Comunicação Social, 2009. Bibliografia: f. 126 -129. 1. Capoeira. 2. Resistência. 3. Globalização. 4. Patrimônio. 5. Educação. I. Holzer, Werther. II. Universidade Federal Fluminense. Instituto de Arte e Comunicação Social. III. Título. CDD 796.0981 NORMA SUELI DOS SANTOS AS POSSIBILIDADES DE PERMANÊNCIA DAS EXPRESSÕES DA CAPOEIRA NUM CONTEXTO GLOBALIZADO Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ciência da Arte da Universidade Federal Fluminense como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Ciência da Arte BANCA EXAMINADORA ________________________________________________ Prof. Dr. Werter Holzer – UFF ________________________________________________ Profa. Dra. Aureanice Correa – UERJ ________________________________________________ Profa. Dra. Sônia Ferraz – UFF ________________________________________________ Prof. Dr. Andrelino de Oliveira Campos - UERJ À Dona Rita, minha mãe; Pelo amor incansavelmente dedicado. -

Helio Campos Parte 1.Pdf
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA FACULDADE DE EDUCAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO HELIO JOSÉ BASTOS CARNEIRO DE CAMPOS CAPOEIRA REGIONAL: A ESCOLA DE MESTRE BIMBA Salvador 2006 HELIO JOSÉ BASTOS CARNEIRO DE CAMPOS CAPOEIRA REGIONAL: A ESCOLA DE MESTRE BIMBA Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, como requisito parcial para a obtenção do grau de Doutor em Educação. Orientador: Prof. Ph.D. Edivaldo Machado Boaventura. Salvador 2006 ii Biblioteca Anísio Teixeira – Faculdade de Educação/ UFBA C198 Campos, Hélio José Bastos Carneiro de. Capoeira regional : a escola de Mestre Bimba / Hélio José Bastos Carneiro de Campos. – 2006. 423 f. : il. Tese (doutorado) – Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Educação, 2006. Orientador: Prof. Ph.D. Edivaldo Machado Boaventura. 1. Capoeira – Bahia. 2. Bimba, Mestre, 1900 – 1974. 3. Capoeira – Estudo e ensino. 4. Capoeiristas – Formação. I. Boaventura, Edivaldo Machado. II. Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Educação. III. Título. CDD 796.81098142 – 22. ed. iv Dedico essa tese, de maneira particular, ao Professor Edivaldo Machado Boaventura, meu dileto orientador, incentivador constante, sempre disponível, bem humorado e de presença marcante em todas as etapas desse trabalho cientifico. Professor Edivaldo, o senhor mora no lado esquerdo do meu peito. Dedico, também, esse trabalho, a todos os capoeiristas que acreditam na capoeira como forte ferramenta em favor da educação, cultura e construção do cidadão brasileiro. -
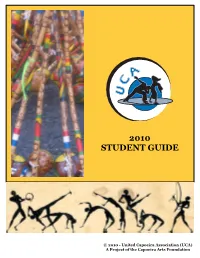
Uca Student Guide
2010 STUDENT GUIDE © 2010 - United Capoeira Association (UCA) A Project of the Capoeira Arts Foundation Table of Contents Welcome................................ 03 1900s Street Capoeira............. 19 Abbreviated Summary........... 05 Capoeira Regional................... 20 Levels of Development........... 06 Capoeira Angola...................... 22 Required Techniques............. 08 Present Day Capoeira.............. 23 Fundamentals & Rules........... 11 About the Music....................... 24 Capoeira Arts Foundation...... 14 Moving Through the Levels..... 32 About Capoeira....................... 15 Vocabulary Pronunciation....... 33 Origins of Capoeira................. 16 Additional Resources............... 35 Pre-Republican Capoeira........ 18 Mestre's Gallery........................ 36 Welcome to Capoeira UCA. First of all, let's thank Mestre Galo, Mestra Suelly, and Akal for editing this work. This brief and informal guide will give you some insight into general aspects of capoeira, as well as some details about our school. It is designed to help you understand our system of training, as well as how you can get the most benefit from practicing capoeira. If you are a novice and do not want to read everything at once, please read the Summary. Capoeira is a complex art with a rich historical trajectory, a full and meaningful cultural context, and contradictory interpretations. To acquire clear and comprehensive information on capoeira requires a significant level of responsibility from both the school and student. In the early seventies, levels of proficiency were established to accommodate students with different goals and time invested in the study of capoeira. Consequently, students will progress through distinct levels in terms of physical and technical capabilities, musical skills, and theoretical knowledge. These levels help students to measure their own progress and to visualize attainable goals. -

As Contribuições Da Capoeira Na Educação
DOI: 10.14295/idonline.v14i50.2466 Artigo os As Contribuições da Capoeira na Educação Tiago da Silva1; Paula Veruska Alexandre de Lima2; Raquel da Silva Mateus3; Edilne Maria Luna Bacurau Saraiva4; Juliana Alves Santana5 Resumo: A capoeira nos tempos atuais vem crescendo em quantidades de adeptos a sua prática, tanto no Brasil como em outros países, trabalhando educação tanto formal, como informal e não formal. Os praticantes desta arte unem um corpo mais saudável e uma mente mais aberta. É um esporte muito completo, unindo: força, flexibilidade e equilíbrio num jogo que é quase uma dança, não fossem pelos golpes deferidos pelos capoeiristas. O intuito deste trabalho de pesquisa é analisar através da história da capoeira a identidade cultural afro-brasileira, reconhecimento da mesma como luta, influências regionais cearenses para o crescimento da arte genuinamente brasileira e a força da Capoeira como educação na formação cidadã no exercício da cidadania. A população e a amostra da pesquisa serão qualitativas, sendo uma pesquisa bibliográfica, foram usados artigos e livros para levantar informações teóricas e históricas sobre o assunto para um questionamento sobre a capoeira como patrimônio brasileiro, cultura, luta e educação. Serão utilizados para as escolhas desses artigos aqueles que mais se adequam ao que se deseja questionar e levantar informações teóricas suficientes sobre o assunto, no intuito de ser o mais claro possível para não chegar às contradições que surgem em relação ao estudo da história da capoeira e sua origem, buscando, além disso, a importância da mesma para a formação educacional, cultural, histórico, social, difusora da língua portuguesa e identidade do povo brasileiro. -

MANDINGA for EXPORT a GLOBALIZAÇÃO DA CAPOEIRA RICARDO CÉSAR CARVALHO NASCIMENTO Tese De Doutoramento Em Antropologia Janeiro De 2015
MANDINGA FOR EXPORT A GLOBALIZAÇÃO DA CAPOEIRA RICARDO CÉSAR CARVALHO NASCIMENTO Tese de Doutoramento em Antropologia Janeiro de 2015 Tese apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Doutor em Antropologia realizada sob a orientação científica do Professor Dr. Paulo Jorge Granjo Simões e coorientação da Professora Dra. Maria Clara Ferreira de Almeida Saraiva Apoio financeiro da CAPES no quadro das Bolsas de Doutorado Pleno no Exterior. DECLARAÇÃO Declaro que esta tese é o resultado da minha investigação pessoal e independente. O seu conteúdo é original e todas as fontes consultadas estão devidamente mencionadas no texto, nas notas e na bibliografia. O candidato, ____________________ Lisboa, .... de ............... de ............... Dedico este trabalho aos meus pais e às minhas filhas. A eles todo o amor deste mundo. AGRADECIMENTOS Uma só página não seria suficiente para agradecer aos tantos(as) que comigo cooperaram neste trabalho. Agradeço aos meus pais, Sr. Erivan e Dona Ozanira, por sempre apoiarem o filho distante e pelo amor sem fim que irradiam vindo do lado sul do Equador. Um agradecimento especial e profundo a Dona Antónia, mãe, amiga e companheira de longas batalhas. Aos amigos Isabel Ferreira e Fernando Gonçalves que acompanham o meu trabalho desde o mestrado até agora, revendo, lendo, relendo e corrigindo com carinho, paciência e zelo todo o trabalho. Minha dívida para com eles é impagável. Uma palavra de gratidão à Prof.ª Dra. Clara Saraiva, minha coorientadora, que acompanhou a gestação desta pesquisa desde tenra idade até ao final, sem esmorecer de a apoiar. Um agradecimento caloroso ao meu orientador, Prof. -

Poesia Negra Das Américas Solano Trindade E Langston Hughes
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO - CAC DEPARTAMENTO DE LETRAS E COMUNICAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS POESIA NEGRA DAS AMÉRICAS SOLANO TRINDADE E LANGSTON HUGHES ELIO FERREIRA DE SOUZA Recife/PE, outubro de 2006. ELIO FERREIRA DE SOUZA POESIA NEGRA DAS AMÉRICAS SOLANO TRINDADE E LANGSTON HUGHES Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito à obtenção do grau de Doutor em Letras, área de concentração Teoria da Literatura, linha de pesquisa Literatura Comparada, sob a orientação do Prof. Dr. Roland Walter. Recife/PE, outubro de 2006. Souza, Elio Ferreira de Poesia negra das Américas: Solano Trindade e Langston Hughes / Elio Ferreira de Souza. – Recife : O Autor, 2006. 369 folhas. Tese (doutorado) – Universidade Federal de Pernambuco. CAC. Letras, 2006. Inclui bibliografia. 1. Literatura negra - Américas. 2. Poesia negra. 3. Cultura negra. 4. Memória negra. 5. Negritude. 6. Diáspora negra. I. Título. 82 CDU (2.ed.) UFPE 800 CDD (22.ed.) CAC2007- 7 DEDICATÓRIA À minha mulher Francira, ao meu filho Irapuá e à minha filha Egbara, pelo carinho, incentivo e por compreenderem a minha ausência durante o período em que estive afastado de casa para cursar o Doutorado. Aos meus irmãos Maria Anésia, Elza Maria, Ilza Maria, Vitorino, Maria Onélia, Aluísio Filho, Betânia e Chico. Aos meus pais Aluísio Ferreira de Souza e Inez de Souza Rocha (in memoriam). AGRADECIMENTOS 9 Minha especial gratidão pelo Professor Doutor Roland Walter, pela orientação segura, atenciosa e a amizade que se construiu nesses quatro anos de convivência. 9 Agradeço à minha família pelo apoio e incentivo durante a realização deste trabalho. -

Recorte Da Dissertação "A Arte De Disciplinar: Jogando Capoeira Em Projetos Sócio- Educacionais", Por Wilson Rogério Penteado Junior
Recorte da dissertação "A Arte de Disciplinar: Jogando Capoeira em Projetos sócio- educacionais", por Wilson Rogério Penteado Junior 3. De “Prática Marginal” a “Esporte Nacional”: O Nascimento da “Arte Marcial Brasileira” É no século XX que a capoeira passa por grandes transformações deixando de ser representada como arte de vadiagem para se tornar esporte nacional. Alguns membros da intelectualidade brasileira, no início daquele século já sugeriam a possibilidade da capoeira se tornar um esporte. Essa nova representação social da capoeira como esporte – que vai, pouco a pouco, tornar-se hegemônica – tinha suas origens nos mesmos pressupostos teóricos do determinismo racial, pois naquele momento histórico, o discurso médico higienista, impregnado de uma visão eugênica, enfatizava a ginástica como fator de regeneração e purificação da raça. A capoeira deveria, então, deixar seu aspecto de “doença moral” para se tornar “defesa pessoal”, digna de ser praticada pelos “cidadãos de bem”. Carlos Eugênio Líbano Soares (1998), comenta uma série de artigos que foram publicados em 1926 no jornal Rio Sportivo, sob o título “Capoeiras e capoeiragem”. Nestes artigos defendia-se a importância do trabalho e sua oportunidade. Defendia- se a capoeira como arma de defesa pessoal, tão poderosa como o “boxe britânico e norte-americano, a savate francesa e parisiense, o jui-jtsu japonês e a clássica luta romana”. Defendiam-se o resgate da capoeira como jogo atlético; superando o passado que a fizera ser criminalizada no século XIX. (cf. Soares, 1998). Para entendermos a mudança e a conseqüente nova concepção que passa a ser adotada pelas elites brasileiras em relação à prática capoeirística, é importante levarmos em consideração o contexto sócio-político daquele momento. -

{Roda De Capoeira E Ofício Dos Mestres De Capoeira } Dossiê Iphan 12 {Roda De Capoeira E Ofício Dos Mestres De Capoeira }
} Roda de Capoeira e Roda de Ofício dos Mestres de Capoeira { DOSSIÊ IPHAN 12 { Roda de Capoeira e Ofício dos Mestres de Capoeira } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } -

Universidade Estadual Do Oeste Do Paraná
1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM SOCIEDADE, CULTURA E FRONTEIRAS NÍVEL DE MESTRADO ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: SOCIEDADE, CULTURA E FRONTEIRAS LINHA DE PESQUISA: TERRITÓRIO, HISTÓRIA E MEMÓRIA JARBAS DA SILVA GUIMARÃES A PRESENÇA DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA NA FRONTEIRA DA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ – BRASIL FOZ DO IGUAÇU 2021 2 JARBAS DA SILVA GUIMARÃES A PRESENÇA DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA NA FRONTEIRA DA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ – BRASIL Dissertação apresentada à Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – Campus de Foz do Iguaçu – para obtenção do título de Mestre em Sociedade, Cultura e Fronteiras, junto ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Sociedade, Cultura e Fronteiras, nível de Mestrado – Área de concentração em Sociedade, Cultura e Fronteiras. Linha de Pesquisa: Território, História e Memória. Orientador: Prof. Dr. Samuel Klauck. FOZ DO IGUAÇU – PR 2021 Ficha de identificação da obra elaborada através do Formulário de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da Unioeste. Guimarães, Jarbas da Silva A Presença da Cultura Afro-brasileira na Fronteira da Cidade de Foz do Iguaçu - Paraná - Brasil / Jarbas da Silva Guimarães; orientador(a), Samuel Klauck, 2021. 115 f. Dissertação (mestrado), Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Foz do Iguaçu, Centro de Educação, Letras e Saúde, Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Cultura e Fronteiras, 2021. 1. Brasilidade. 2. Cultura Afro-brasileira. 3. Religião. 4. Sociedade. I. Klauck, Samuel . II. Título. 3 JARBAS DA SILVA GUIMARÃES A PRESENÇA DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA NA FRONTEIRA DA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ – BRASIL Esta dissertação foi julgada adequada para a obtenção do Título de Mestre em Sociedade, Cultura e Fronteiras e aprovada em sua forma final pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Sociedade, Cultura e Fronteiras – Nível de Mestrado, área de Concentração em Sociedade, Cultura e Fronteiras, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – Campus de Foz do Iguaçu.