Lumina ISSN 1981- 4070
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
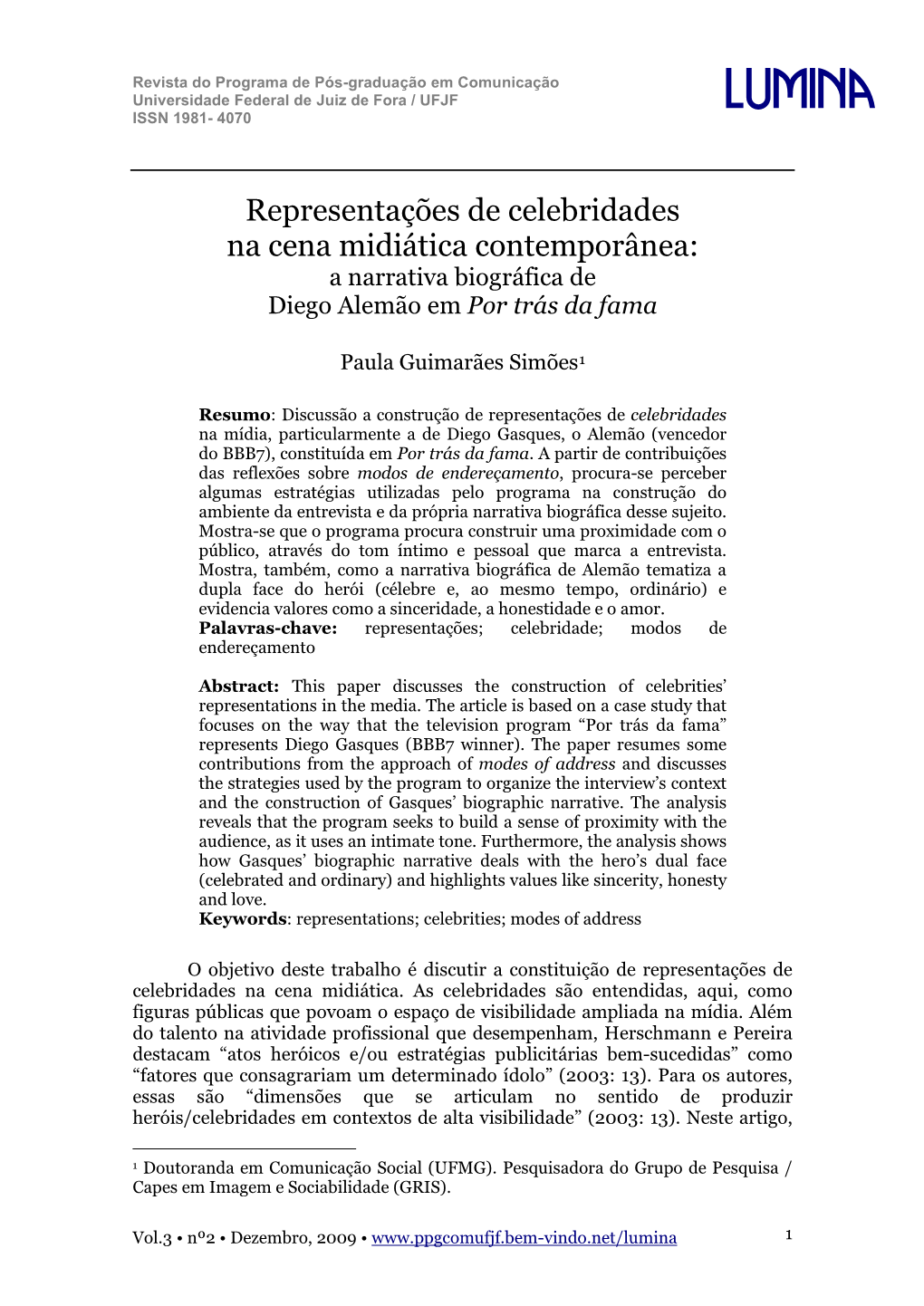
Load more
Recommended publications
-

Mídia E América Latina
1 2 MÍDIA E AMÉRICASUMÁRIO LATINA ARTIGOS Ficções do real: Notas sobre as estéticas do realismo e pedagogias do olhar 6 1 na América Latina contemporânea Beatriz Jaguaribe Mercado cinematográfico latino-americano nos anos 2000: Uma negociação 2 entre o local e o global 15 Lia Bahia Figuraciones de la Revolución: Cine y literatura en México en el siglo XX 3 Sebastião Guilherme Albano da Costa 27 A visita de Pasolini ao Brasil: Um Terceiro Mundo melancólico 4 Maria Rita de Oliveira Aguilar Nepomuceno 38 Culturas em ação: Notas sobre a hibridação ou hibridização dos produtos 5 midiáticos na televisão brasileira 49 Naiana Rodrigues da Silva Mídias Nativas: a comunicação audiovisual indígena: O caso do projeto 61 6 “Vídeo Nas Aldeias” Eliete da Silva Pereira Da ideologia editorial aos critérios de noticiabilidade: processo de 7 construção de veículo de imprensa alternativa digital para a América Latina. 73 Alexandre Barbosa A notícia no contexto do Mercosul: Um estudo de caso da referencialidade 8 Brasil-Uruguai na mídia online 84 Jandré Corrêa Batista, Anelize Maximila Corrêa Sur o no Sur: A construção transnacional da América Latina desde as 9 migrações e os usos sociais da internet 99 Liliane Dutra Brignol RESENHA A (re)existência do Sul: Mídia e política na América Latina 10 Flora Daemon 112 3 EDITORIALCiberlegenda N° 23 – 2010/2 Prezados leitores, Esta edição da Ciberlegenda apresenta um conjunto de discussões sobre as diversas manifestações midiáticas que hoje se dão na América Latina. Ao escolher este tema, pretendemos problematizar os discursos que se forjam na complexa esfera das mídias de nossa região, em suas diferentes conexões com a cultura, a política e as tecnologias digitais. -

Extensão Rural, Agroecologia E Identidades Híbridas: a Hibridização Cultural Nos Jovens Da Agricultura Familiar Em Lagoa De Itaenga – Pernambuco
Extensão Rural, Agroecologia e Identidades Híbridas: a hibridização cultural nos jovens da agricultura familiar em Lagoa de Itaenga – Pernambuco Flaviano Silva Quaresma1 Co-autora: Maria Salett Tauk Santos2 Resumo Este estudo tem como objetivo analisar como se constroem as identidades dos jovens da agricultura familiar envolvidos com agricultura de base agroecológica e que, ao mesmo tempo, convivem com os apelos da cultura de massa contemporânea, como o programa Big Brother Brasil da Rede Globo, escolhido para esta análise, no município de Lagoa de Itaenga, microrregião da Mata Setentrional de Pernambuco. Para compreender como são construídas as identidades desses jovens de contextos rurais, analisamos as apropriações feitas por eles, de valores sociais trabalhados no Big Brother Brasil, com o objetivo de des- cortinar como se dão as relações contemporâneas desses jovens, que convivem entre os valores híbridos disseminados por uma proposta de agricultura de base agroecológica no meio onde vivem, e os valores das comunas culturais massivas do mundo globalizado, em que as tecnologias produzem e fazem circular bens simbólicos em tempo real e de forma virtual e, assim, modificando hábitos. Palavras-chave: Extensão Rural. Agroecologia. Big Brother Brasil. 1 Jornalista com Mestrado em Extensão Rural e Desenvolvimento Local pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (Posmex-UFRPE). [email protected] 2 Professor doutora em Comunicação pela ECA/USP e coordenadora do mestrado em Extensão Rural e Desenvolvimento Local da Universidade Federal -

Il Departamento De Línguas Estrangeiras E Tradução – Let Programa De Pós-Graduação Em Linguística Aplicada – Ppgla Nível Mestrado
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB INSTITUTO DE LETRAS – IL DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS E TRADUÇÃO – LET PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA APLICADA – PPGLA NÍVEL MESTRADO RAQUEL SENA MENDES A ENTONAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE PLE: PRO- POSTA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE MODELOS DE ENTONAÇÃO INTERRO- GATIVA DO PORTUGUÊS DO BRASIL – ESTADO DE SÃO PAULO BRASÍLIA/DF JULHO/2013 Raquel Sena Mendes A ENTONAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE PLE: PRO- POSTA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE MODELOS DE ENTONAÇÃO INTERRO- GATIVA DO PORTUGUÊS DO BRASIL – ESTADO DE SÃO PAULO Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção de título de Mes- tre, pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade de Brasília. Orientador: Professor Doutor Enrique Huelva Unternbäumen Coorientadora: Professora Doutora Dolors Font-Rotchés Brasília/DF Julho/2013 Aos que me fazem melhor. AGRADECIMENTOS A Deus, pai carinhoso e mãe amorosa, que me deu esperança e paciência nos mo- mentos de angústia. Aos meus pais, Maria de Lourdes S. G. Mendes e José Antônio Mendes (in memori- am), pelo amor incondicional. Ao Lucas E. Gonçalves, meu amor, que constrói comigo nossas vidas, pelos mo- mentos, pelo companheirismo. À Universidade de Brasília e ao Programa de Pós-graduação em Linguística Aplica- da, pela oportunidade de mudar meu destino por meio do mundo acadêmico. Ao professor Enrique Huelva Unternbäumen, por seus ensinamentos. À professora Dolors Font-Rotchés, por sua dedicação e sabedoria. Ao Paco, Francisco José Cantero, testemunha de momentos especiais na minha vida, por sua amizade e lições. Ao professor Yuki Mukai, exemplo em sua profissão, por sua dedicação aos alunos. -

Crueldade E Narrativa Do Sensacionalismo No Filme Garota Exemplar
LUCAS DE OLIVEIRA MOURA “EU NÃO MATEI MINHA ESPOSA”: CRUELDADE E NARRATIVA DO SENSACIONALISMO NO FILME GAROTA EXEMPLAR Viçosa – MG Curso de Comunicação Social/Jornalismo da UFV 2015 LUCAS DE OLIVEIRA MOURA “EU NÃO MATEI MINHA ESPOSA”: CRUELDADE E NARRATIVA DO SENSACIONALISMO NO FILME GAROTA EXEMPLAR Monografia apresentada ao Curso de Comunicação Social/Jornalismo da Universidade Federal de Viçosa, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Jornalismo. Orientador: Ricardo Duarte Gomes da Silva Viçosa – MG Curso de Comunicação Social/Jornalismo da UFV 2015 Universidade Federal de Viçosa Departamento de Artes e Humanidades Curso de Comunicação Social/Jornalismo Monografia intitulada “Eu não matei minha esposa”: crueldade e narrativa do sensacionalismo no filme Garota Exemplar, de autoria do estudante Lucas de Oliveira Moura, aprovada pela banca examinadora constituída pelos seguintes professores: ____________________________________________________ Prof. Dr. Ricardo Duarte Gomes da Silva – Orientador Curso de Comunicação Social/Jornalismo da UFV ____________________________________________________ Prof. Dr. Henrique Moreira Mazetti Curso de Comunicação Social/Jornalismo da UFV _____________________________________________________ Profa. Dra. Mariana Lopes Bretas Curso de Comunicação Social/Jornalismo da UFV Viçosa, 20 de novembro de 2015 AGRADECIMENTOS Dizem que entrar na universidade é fácil e que difícil realmente é sair dela. Concordo. E concordo não apenas pelo esforço e dedicação que temos que empenhar ao longo de toda a estrada, mas também pela saudade que ela deixa em nossos corações no momento em que pegamos o tão sonhado diploma. Saudades das aulas, dos professores, dos amigos, dos amores, de tudo. Após o término deste trabalho de conclusão, a sensação de dever cumprido ao escrever esses agradecimentos não seria possível sem a presença de algumas pessoas na minha vida. -

BIG BROTHER BRASIL: Um Cenário Observado a Procura De Uma Estratégia De Posicionamento Crítico No Espaço Público
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO Maria Amelia Maneque Cruz BIG BROTHER BRASIL: Um cenário observado a procura de uma estratégia de posicionamento crítico no espaço público. Orientador: Prof. Dr. Adayr Mroginski Tesche São Leopoldo 2007 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO Maria Amelia Maneque Cruz BIG BROTHER BRASIL: Um cenário observado a procura de uma estratégia de posicionamento crítico no espaço público. Dissertação apresentada à Universidade do Vale do Rio dos Sinos como requisito parcial para obtenção do título de mestre em comunicação. Orientador: Prof. Dr. Adayr Mroginski Tesche São Leopoldo 2007 Dedico este estudo: a todos professores e alunos do curso de Relações Públicas. Foram muitos, os que me ajudaram a concluir este trabalho. Meus sinceros agradecimentos... ...a Deus, pois, sem sua ajuda, nada teria sido possível; ...a minha família, pela confiança e pelo apoio; ...às amigas e aos amigos, pelas conversas e pelas amizades; ...às amigas Ana Maria, Maria Alice, Sandra e aos amigos Gustavo e Dico, pelas revisões. ...às professoras Elizabeth e Maria Lilia, pelas valiosas sugestões, na banca de qualificação; ... ao Prof. Dr. Adayr Mroginski Tesche, por aceitar a orientação deste estudo e conduzir seu desenvolvimento, com muita sabedoria e paciência. RESUMO Esta dissertação foi desenvolvida através da observação e da análise do programa Big Brother Brasil 5, reality show apresentado pela Rede Globo de Televisão, canal 12, no período entre janeiro e março de 2005. O alvo era identificar as estratégias que levaram Jean Wyllys ao prêmio final. -

Ana Luiza Coiro Moraes Orientadora
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL A SÍNDROME DO PROTAGONISTA : UMA ABORDAGEM CULTURAL ÀS PERSONAGENS DOS ESPETÁCULOS DE REALIDADE DA MÍDIA Ana Luiza Coiro Moraes Tese apresentada à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Comunicação Social, para obtenção do título de Doutora. Orientadora: Professora Doutora Ana Carolina Damboriarena Escosteguy Porto Alegre, janeiro de 2008. Ana Luiza Coiro Moraes A SÍNDROME DO PROTAGONISTA : UMA ABORDAGEM CULTURAL ÀS PERSONAGENS DOS ESPETÁCULOS DE REALIDADE DA MÍDIA Tese apresentada à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Comunicação Social, para obtenção do título de Doutora. Aprovada em 14/03/2008. BANCA EXAMINADORA Profa. Dra. Maria Lília Castro (UFSM) Prof. Dr. João Pedro Alcântara Gil (UFRGS) Prof. Dr. Roberto José Ramos (PUC-RS) Profa. Dra. Ana Carolina Damboriarena Escosteguy (PUC-RS) - Orientadora Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) DEDICATÓRIA À memória de minha mãe, Lourdes Odete Heinrikson Coiro, que não guardou registro da matéria da revista Veja, protagonizada por ela. Ali era destacada (até com fotografia) a sua atuação profissional na Cia. Carris, em algum momento dos anos 1980. Quando perguntei a ela por que não tinha recortado a nota, respondeu que isso era “coisa de Conselheiro Acácio”. Minha mãe citava personagens como se elas fossem pessoas da nossa relação. Banho demorado demais? Era o “banho do tio Taó”, personagem de um romance de Pearl Buck, acho eu. -

Revista LET N2.Indd
News A revista do Grupo LET Recursos Humanos N0 2 | Março / Abril / Maio | 2007 | Ano 1 www.grupolet.com PESQUISA ENTREVISTA Segurança antes do Patrícia Monteiro - Emprego é prioridade Rio de Janeiro Refrescos para jovens - Pag. 10 “Como RH amplia o nosso negócio” - Pag. 3 EXCLUSIVO Bernardinho, o técnico supercampeão, fala sobre Liderança e Superação - Pag. 12 RAIO-X Desvendamos detalhes de uma ENTREVISTA em processo seletivo - Pag.6 RRevistaevista LLETET nn2.indd2.indd 1 220/3/20070/3/2007 223:11:303:11:30 INSTITUCIONAL EDITORIAL - PAPO COM O LEITOR NOSSOS NEGÓCIOS “O otimismo do onhecer um pouco sobre os nossos Busca de novos talentos – Muito mais do Cnegócios irá orientá-lo na leitura da que triar currículos, entrevistar ou realizar crescimento” revista NEWS LET. O foco do Grupo LET dinâmicas, vamos às instituições de ensino Recursos Humanos é o de captar profi s- garimpar para as empresas os melhores ta- sionais para cargos de perfi s variados e lentos para trabalhar nelas como estagiários hegamos aperfeiçoar os negócios das empresas. e trainees. Cà segunda Desde março de 2000 recrutamos e sele- Executive Search – Vamos ao mercado edição de NEWS- cionamos mão-de-obra temporária, além e trazemos para as empresas profi ssionais LET com 16 pági- de terceirizarmos serviços para empresas prontos, experientes e com muitos valores a de pequeno, médio e grande porte em todo nas oferecendo agregar às suas novas empresas. a você, entre ou- o Brasil. Ao público oferecemos um leque de opções no mercado. Veja o que pode- Check Up Profi ssional – Reorientamos o tras novidades, mos fazer por você: profi ssional dentro do quadro de cargos e um raio-x espe- funções de sua empresa (e também dentro Recrutamento e Seleção – Adequamos cial de uma en- de sua própria carreira) para que ele aproveite os candidatos às necessidades de cada em- sempre o máximo possível de suas competên- trevista em pro- presa. -

Biguaçu Curso De Psicologia Fernanda Marques
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – BIGUAÇU CURSO DE PSICOLOGIA FERNANDA MARQUES FARIAS VENDE-SE UM CORPO NA TV: O discurso midiático na construção de representações sociais do corpo e do padrão atual ocidental de beleza através do Big Brother Brasil 9. BIGUAÇU 2009 FERNANDA MARQUES FARIAS VENDE-SE UM CORPO NA TV: O discurso midiático na construção de representações sociais do corpo e do padrão atual ocidental de beleza através do Big Brother Brasil 9. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à banca examinadora do curso de Psicologia da Universidade do Vale do Itajaí. Centro de Ciências da Saúde – Biguaçu. Sob a Orientação da Profª: Enis Mazzuco. BIGUAÇU 2009 FERNANDA MARQUES FARIAS VENDE-SE UM CORPO NA TV: O discurso midiático na construção de representações sociais do corpo e do padrão atual ocidental de beleza através do Big Brother Brasil 9. Esta monografia foi julgada adequada para obtenção do título do grau de Bacharel em Psicologia na Universidade do Vale do Itajaí no curso de Psicologia. Área de concentração: Antropologia / Psicologia Social Biguaçu, 23 de junho de 2009 Banca Examinadora: ________________________________________ Profª. Msc. Enis Mazzuco. UNIVALI – CE de Biguaçu Orientadora ______________________________________ Profª. Msc. Ivânia Jann Luna UNIVALI – CE Biguaçu Membro ________________________________ Profº Drº: Marcelo Oliveira Universidade de São José Membro Biguaçu 2009 Dedico esta monografia a todos os profissionais e acadêmicos que contribuíram direta ou indiretamente para que a realização da mesma fosse possível. Dedico também a todos os familiares e amigos pelo incentivo nas horas difíceis e ausentes. E por último, mas não menos importante, dedico a Enis Mazzuco, pois a nossa convivência me fez repensar caminhos e ideais. -

Uma Associação Com As Imagens De Celebridades No Blog 'Te Dou Um
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação XXII Encontro Anual da Compós, Universidade Federal da Bahia, 04 a 07 de junho de 2013 APROXIMAÇÕES COM O CONCEITO DE APROPRIAÇÃO: uma associação com as imagens de celebridades no blog ‘Te Dou Um Dado?’ 1 APPROACHES TO THE CONCEPT OF APPROPRIATION: an association with celebrities pictures on ‘Te Dou Um Dado?’ blog Camila Cornutti Barbosa 2 Susan Liesenberg 3 Resumo: O presente artigo propõe apresentar uma discussão sobre o conceito de apropriação a partir de relações com distintos campos do conhecimento, como as Artes Visuais, a Filosofia da Linguagem e a Comunicação. Blogs e sites de rede social têm sido apontados como ambientes propícios para fazer emergir novos conteúdos e imagens apropriadas de outros contextos. Assim, em um segundo momento, busca-se criar uma categorização de tipos de apropriações relacionadas às imagens de celebridades veiculadas no blog de humor “Te Dou Um Dado?”, procurando evidenciar a importância de se pensar sobre a apropriação também no contexto de artefatos digitais amplamente difundidos na rede. Palavras-Chave: Apropriação. Imagem. „Te Dou Um Dado?‟. Abstract: This article aims to present a discussion of the concept of appropriation from relationships with different fields of knowledge such as the Visual Arts, Philosophy of Language and Communication. Blogs and social networking sites have been identified as environments conducive to bringing out new content and images appropriated from other contexts. Thus, in a second step, we seek to create a categorization of types of appropriations related to images of celebrities that are transmitted on the humor blog "Te Dou Um Dado?", seeking to highlight the importance of thinking about the appropriation also in the context of digital artifacts widespread on the Internet. -
Violações Do Direito À Comunicação
Dossiê Violações do Direito à Comunicação Irregularidades no uso das concessões de TV, reunidas por ocasião da renovação de outorgas da Globo, Bandeirantes e Record Este dossiê foi sistematizado pelo Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social a partir de material disponibilizado pela Campanha pela Ética na TV, da reunião de denúncias apresentadas à Justiça (cuja autoria é identificada no decorrer do dossiê), e de denúncias enviadas pelas seguintes entidades e indivíduos: Articulação Mulher e Mídia, Associação Paulista de Defensores Públicos, CEERT - Centro de Estudos das Relações de Trabalho e de Desigualdade, Comunicativistas, Conrad – RS, Francisco Lima, Geledés – Instituto da Mulher Negra, Grupo de Discussão TV Acessível (Marco Antonio de Queiroz e Paulo Romeu Filho), MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra e União Brasileira de Cegos. Também contribuíram no levantamento das informações apresentadas: Assembléia Popular, Associação Brasileira de Imprensa (ABI), Artigo 19, Associação das Rádios Públicas do Brasil (Arpub), Central Única dos Trabalhadores (CUT), Conselho Federal de Psicologia (CFP), Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, Coordenação dos Movimentos Sociais (CMS), Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC), Rede pela Democratização da Comunicação do Distrito Federal, Rede Paulista pela Democratização da Comunicação e da Cultura, Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão no Estado de SP e União Nacional dos Estudantes (UNE). Este dossiê é resultado do esforço coletivo de todas essas organizações, a quem agradecemos imensamente. Agradecemos ainda aos vereadores Beto Custódio, Carlos Neder e Soninha Francine, de São Paulo (SP), à deputada distrital Erika Kokay, do Distrito Federal, ao deputado estadual Gilberto Palmares, do Rio de Janeiro (RJ) e aos deputados federais Luiza Erundina, Walter Pinheiro e Jorge Bittar que deram suporte à realização de seminários e audiências públicas para discutir o tema. -
Senhoras E Senhores, Apresento Uma “Cinqüentona” Sedutora E Desejada
12 1. SENHORAS E SENHORES, APRESENTAMOS UMA CINQÜENTONA SEDUTORA E DESEJADA Não, não foi uma megaprodução. Pouco ou nada que lembrasse os shows milionários da atualidade. Pelo contrário, muito improviso e produção em tempo real. Com um detalhe extra: sem programação estruturada para o dia seguinte! Foi assim que, no dia 18 de setembro de l950, se inaugurou o primeiro canal de televisão brasileiro, a TV Tupi de São Paulo. A iniciativa foi do influente empresário Assis Chateaubriand, proprietário dos Diários Associados, um conglomerado de revistas, jornais e estações de rádio. Uma ousadia para a época, tanto é que fomos o quarto país do mundo a implantar tal mídia em seu território. Esse empreendedorismo de Chateaubriand sintonizava com a São Paulo da década de 50. Com cerca de 2.200.000 habitantes, a cidade já era o maior centro industrial da América Latina, crescendo num ritmo efervescente e descontrolado. Seu cotidiano urbano vivenciava a “força da grana que ergue e destrói coisas belas” (Caetano Veloso). Um grande contingente populacional para lá se dirigia em busca de melhores oportunidades de trabalho e de condições de vida. Em 1950, já eram 500.000 mineiros e 400.000 nordestinos vivendo na cidade (NOSSO SÉCULO, 1980), os quais, somados aos imigrantes italianos, espanhóis e portugueses, a transformavam na Babel brasileira. Para concretizar seu novo projeto empresarial, Chateaubriand negociou, ainda em 1947, contratos publicitários com quatro grandes empresas nacionais, visando garantir parte dos recursos necessários à compra da estação de TV junto à estadunidense RCA Victor. No ano da inauguração, importou trezentos televisores para comercialização e contrabandeou - ah, o “jeitinho” brasileiro! - outros cem, para presentear amigos e investidores, entre os quais o Sr. -

Imprimir Artigo
“TUDO JUNTO E MISTURADO?”: a infância contemporânea no diálogo entre crianças e adultos Raquel Gonçalves Salgado(*) Anabela Rute Kohlmann Ferrarini(**) Rayany Mayara Dal Prá(***) Rayssa Karla Dourado Porto(****) INTRODUÇÃO As crianças, a cada dia, atestam experiências e saberes que desafiam os conhecimentos e os discursos historicamente produzidos sobre a infância e estabelecidos como paradigmas que definem e demarcam esse tempo de vida. O que é próprio da infância, se há, ainda, aspectos que a delimitam como um tempo de vida diverso dos demais? O que as crianças dizem, fazem, valorizam e significam como marcas de seu tempo de vida? O que os adultos têm a dizer sobre esses modos de viver a infância, interpelados que são por suas próprias histórias de vida e por valores seculares que consagram uma suposta “essência da infância”? Estas são algumas das questões que norteiam as análises que aqui fazemos em torno da infância contemporânea a partir de uma perspectiva intergeracional. Neste texto, trazemos para a discussão os diálogos entre crianças e adultos sobre diversas experiências de infância, ocorridos em dois contextos de pesquisa distintos. O objetivo da investigação é compreender tanto os discursos das crianças sobre o que identificam como próprio de seu tempo de vida quanto os dos adultos sobre como as crianças hoje se apresentam, atravessados por valores que marcam as suas histórias de infância. As experiências das crianças no universo contemporâneo revelam quão diluídas estão as fronteiras entre infância e idade adulta, tempos de vida tão distintos entre si, porém, historicamente atravessados um pelo outro. É, portanto, neste mundo globalizado e midiático que essas experiências vêm assumindo conotações cada vez mais próximas e semelhantes daquelas consideradas como específicas da vida adulta.