Universidade Federal De Santa Catarina Centro De
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
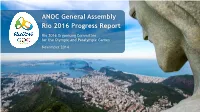
ANOC General Assembly Rio 2016 Progress Report
ANOC General Assembly Rio 2016 Progress Report Rio 2016 Organising Committee for the Olympic and Paralympic Games November 2014 Vídeo: New Territory 2014 Carlos Nuzman President BUSY YEAR WORLD CUP 1st TEST EVENT Sailing TWO YEARS TO GO LOOK OF THE GAMES World Press Briefing World Broadcasters Meeting National Media Briefing 600 JOURNALISTS IN TOWN VOLUNTEER PROGRAMME: MORE THAN 100,000 REGISTERED RIO 2016 TICKETING PRICE LIST LAUNCH ALL EYES ON RIO 2016 Inside the Games Revista Veja Around the Rings Sport & construction update Agberto Guimarães Executive Director of Sports & Paralympic Integration Rio 2016 Test Events Cluster 1, Jul-Oct 15 : 3 events Cluster 1: Tot al 14 Events Cluster 2, Nov 15 - Jan16 : 2 events Focus on outdoor sports Cluster 3, Mar-May 16 : 3 events Deodoro Maracanã Cluster 2: Tot al 13 Events Cluster 1, Jul-Oct 15 : 3 events Focus on indoor sports Cluster 2, Nov 15 – Jan 16 : 1 event Cluster 3, Mar-May 16 : 2 events Cluster 3: Tot al 17 Events Focus on command and control, team readiness Copacabana Barra 1st TEV – Sailing, 2-9 Aug 2014 Cluster 1, Jul-Oct 15 : 1 event Cluster 1, Jul-Oct 15 : 7 events Cluster 2, Nov 15 - Jan16 : 10 events Cluster 3, Mar-May 16 : 11 events Cluster 3. Mar-May 16 : Football (Venue TBC) Working document – subject to change Barra Olympic Park Carioca Arena Barra Olympic Park Carioca Arenas 1-3 Barra Olympic Park Olympic Tennis Centre Barra Olympic Park Carioca Arena 1 Barra Olympic Park Handball Arena Barra Olympic Park Handballl Arena Barra Olympic Park Internaonal Broadcast Centre Barra Olympic Park Internaonal Broadcast Centre Transport infrastructure in 2009 7 years later.. -

Olympic Games Day 1 Olympics Summer Winter Aniket Pawar Special/Paralympics Youth the Original Greek Games
Olympic Games Day 1 Olympics Summer Winter Aniket Pawar Special/Paralympics Youth The Original Greek Games began in ancient Greece took place every fourth year for several hundred years. The earliest record of the Olympic Games goes back to776 BC. The Original Olympics The only event was a foot race of about 183 meters. They also included competitions in music, oratory and theatre performances. The 18-th Olympics Included wrestling and pentathlon, later Games – chariot races and other sports. In 394 A.D. the games were ended by the Roman emperor Theodosius. Pierre de Coubertin Brought the Olympic Games back to life in 1896. SPORTS IN SUMMER OLYMPICS • The current categories are: ▫ Category A: athletics, aquatics, gymnastics.3 ▫ Category B: basketball, cycling, football, tennis, and volleyball.5 ▫ Category C: archery, badminton, boxing, judo, rowing, shooting, table tennis, and weightlifting.8 ▫ Category D: canoe/kayaking, equestrian, fencing, handball, field hockey, sailing, taekwondo, triathlon, and wrestling.9 ▫ Category E: modern pentathlon, golf, and rugby.3 WINTER OLYMPIC GAMES • held every four years. • The athletes compete in 20 different disciplines (including 5 Paralympics' disciplines). Founder & Beginning • The foundation for the Winter Olympics are Nordic games. • Gustav Viktor Balck - organizer of the Nordic games and a member of the IOC. • The first Summer Olympics with winter sport were in London, in 1908. The first ‘winter sports week’ was planned in 1916, in Berlin, but the Olympics were cancelled because of the outbreak of the World War I. The first true Winter Olympics were in 1924, in Chamonix, France. • In 1986, the IOC decided to separate the Summer and Winter Games on separate years. -

FACULDADE CÁSPER LÍBERO Renato Delmanto Barros 'Voz Do
FACULDADE CÁSPER LÍBERO Renato Delmanto Barros ‘Voz do Brasil’: proposta de jornalismo de interesse do cidadão que virou peça de relações públicas do governo SÃO PAULO 2015 RENATO DELMANTO BARROS ‘Voz do Brasil’: proposta de jornalismo de interesse do cidadão que virou peça de relações públicas do governo Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado em Comunicação, linha de pesquisa B: Produtos Midiáticos – Jornalismo e Entretenimento, da Faculdade Cásper Líbero, para obtenção do título de mestre. Orientadora: Profa. Dra. Simonetta Persichetti SÃO PAULO 2015 Delmanto Barros, Renato Voz do Brasil: proposta de jornalismo de interesse do cidadão que virou peça de relações públicas do governo / Renato Delmanto Barros. – São Paulo, 2015. 144 f. : il. ; 30cm. Orientadora: Profa. Dra. Simonetta Persichetti Dissertação (mestrado) – Faculdade Cásper Líbero, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado em Comunicação 1. Jornalismo. 2. Notícia. 3. Retórica. 4. Relações Públicas. I. Persichetti, Simonetta. II. Faculdade Cásper Líbero, Programa de Mestrado em Comunicação. III. Voz do Brasil: proposta de jornalismo de interesse do cidadão que virou peça de relações públicas do governo. À minha esposa, Priscilla, que caminha comigo há tantos anos e me colocou no bom caminho; e ao meu pai, Sylvio Homero, por me ensinar a ter uma visão crítica e compreensiva sobre o mundo. AGRADECIMENTOS À minha família, que suportou com paciência todo o período de pesquisa e, principalmente, os muitos momentos de ausência durante o mestrado; À minha orientadora, Profª. Dra. Simonetta Persichetti, que ajudou na definição do foco, conseguiu encontrar suporte teórico para minha ideia e não me deixou desistir da jornada; Aos professores do Mestrado, pelas aulas ministradas e pelas excelentes oportunidades abertas ao diálogo e à reflexão. -

Universiv Micrdmlms International Aoon.Zeeb Road Ann Arbor, Ml 48106
INFORMATION TO USERS This reproduction was made from a copy of a document sent to us for microfilming. While the most advanced technology has been used to photograph and reproduce this document, the quality of the reproduction is heavily dependent upon the quality o f the material submitted. The following explanation of techniques is provided to help clarify markings or notations which may appear on this reproduction. 1. The sign or “target” for pages apparently lacking from the document photographed is “ Missing Page(s)” . I f it was possible to obtain the missing page(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. This may have necessitated cutting through an image and duplicating adjacent pages to assure complete continuity. 2. When an image on the film is obliterated with a round black mark, it is an indication of either blurred copy because of movement during exposure, duplicate copy, or copyrighted materials that should not have been filmed. For blurred pages, a good image o f the page can be found in the adjacent frame. I f copyrighted materials were deleted, a target note will appear listing the pages in the adjacent frame. 3. When a map, drawing or chart, etc., is part o f the material being photographed, a definite method of “sectioning” the material has been followed. It is customary to begin filming at the upper left hand comer o f a large sheet and to continue from left to right in equal sections with small overlaps. I f necessary, sectioning is continued again-beginning below the first row and continuing on until complete. -

Olympic Family Guide Contents
Olympic Family Guide Contents 1 Introduction ...................................................................... 6 2 Welcome Messages ..........................................................7 3 Olympic Family Hotels ..................................................... 9 3.1 Windsor Marapendi (OFH) ...................................... 9 3.2 Windsor Barra and Windsor Oceânico (OF2) ....... 9 3.3 Novotel (OF3) ........................................................... 10 3.4 Services available at the OFH/OF2 and OF3 ...... 10 4 Olympic Family Accreditation Centre ..........................15 4.1 Olympic Family Accreditation Centre Operations ...................................................15 4.2 Lost, Stolen or Damaged OIAC ...........................16 4.3 Olympic Family Hotel Guest and resident passes ........................................................16 4.4 Venue accreditation assistance ........................... 17 5 5 Arrivals and Departures Services ............................18 5.1 Arrivals at Tom Jobim International Airport (GIG) .............................................................19 5.2 Arrivals at other ports of entry ...........................19 5.3 Mishandled baggage (lost, delayed or damaged) ...................................20 5.4 Departures ...............................................................21 5.5 Transport From Windsor Marapendi (OFH) to Tom Jobim ............................................................21 6 Olympic Family Assistant (OFA) Programme and T1, T2 Transport Services -

Critérios De Noticiabilidade Na “Voz Do Brasil”
Critérios de noticiabilidade na “Voz do Brasil” Renato Delmanto Este artigo tem como objeto de estudo a primeira par- te do programa de rádio Voz do Brasil, que é de responsa- bilidade do governo federal. Criado há mais de 80 anos, o programa se propõe a informar a população a respeito das ações do Poder Executivo. Com transmissão obrigatória por todas as emissoras do país, a partir das 19 horas dos dias úteis, a Voz do Brasil possui um formato jornalístico, com dois apresentadores no estúdio, intervenções de repórteres e apre- sentação de matérias e entrevistas. Possui ainda diretrizes que regem a sua produção jornalística, que foram formalizadas a partir de 2005 e atualmente estão compiladas no Manual de Jornalismo editado pela EBC – Empresa Brasil de Comunica- ção, a estatal responsável pela produção do programa. Essas diretrizes pregam que os jornalistas da Voz do Brasil devem se colocar a serviço do direito à informação da sociedade. A despeito disso, ao longo de sua história, o pro- grama prestou-se ao papel de porta-voz do poder executivo federal, veiculando um conteúdo de interesse do governo ao invés de abordar temas de interesse dos cidadãos. Neste artigo, buscamos referências nos estudos sobre a noticia- bilidade desenvolvidos por autores como Galtung & Ruge, 223 Renato Delmanto Golding & Elliott, Gans, Traquina e Wolf, para analisarmos o conteúdo veiculado pela Voz do Brasil, com o intuito de verificar como são adotados (ou se são adotados) esses cri- térios no processo de seleção das notícias pelo programa. Contexto histórico da Voz do Brasil O programa Voz do Brasil é o mais longevo do país. -

OECD Telecommunication and Broadcasting Review of Brazil 2020 Brazil 2020 Brazil of Review Broadcasting and Telecommunication OECD
OECD Telecommunication and Broadcasting Review of azil 2020 Br OECD Telecommunication and Broadcasting Review of Brazil 2020 OECD Telecommunication and Broadcasting Review of Brazil 2020 This work is published under the responsibility of the Secretary-General of the OECD. The opinions expressed and arguments employed herein do not necessarily reflect the official views of OECD member countries. This document, as well as any data and map included herein, are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area. The statistical data for Israel are supplied by and under the responsibility of the relevant Israeli authorities. The use of such data by the OECD is without prejudice to the status of the Golan Heights, East Jerusalem and Israeli settlements in the West Bank under the terms of international law. Please cite this publication as: OECD (2020), OECD Telecommunication and Broadcasting Review of Brazil 2020, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/30ab8568-en. ISBN 978-92-64-31744-4 (print) ISBN 978-92-64-93255-5 (pdf) Photo credits: Cover © Sarunyu_foto/Shutterstock; © ElenVD/Shutterstock. Corrigenda to publications may be found on line at: www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm. © OECD 2020 The use of this work, whether digital or print, is governed by the Terms and Conditions to be found at http://www.oecd.org/termsandconditions. FOREWORD 3 Foreword The OECD Directorate for Science, Technology and Innovation (DSTI) carried out this study under the auspices of the Committee on Digital Economy Policy (CDEP) and the Working Party of Communication Infrastructures and Services Policy (WPCISP). -

IOC Marketing: Media Guide Olympic Games Rio 2016
IOC Marketing: Media Guide Olympic Games Rio 2016 MEDIA GUIDE: IOC MARKETING / 03 Contents Olympic Marketing Overview 04 Olympic Broadcasting 06 Olympic Sponsorship 12 Ticketing and the Spectator Experience 42 Licensing 46 The Olympic and Rio 2016 Brands 52 Protecting the Olympic Brand 58 The financial figures contained in this document are provided for general information purposes, are estimates and are not intended to represent formal accounting reports of the IOC, the Organising Committees for the Olympic Games (OCOGs) or other organisations within the Olympic Movement. For further information, visit https://stillmed.olympic.org/media/Document%20 Library/OlympicOrg/Documents/IOC-Marketing-and-Broadcasting-General- Files/Olympic-Marketing-Fact-File-2016.pdf 04 / IOC MARKETING: MEDIA GUIDE Olympic Marketing Overview “Long-term partnerships are the backbone of our commercial programmes and they enable the financial security of the entire Olympic Movement” Tsunekazu Takeda, IOC Marketing Commission Chairman The International Olympic Committee is entirely privately funded and ever since the first modern Olympic Games in Athens in 1896, it has At a Glance relied upon contributions from commercial partners in order to stage the Games and support the Olympic Movement. • Commercial partnerships are crucial to the Today, the success of the IOC’s multi-faceted Olympic marketing continued success of programme – which includes global media and sponsorship the Olympic Games and agreements – continues to ensure the financial security of both the operations of every the Olympic Movement and the Olympic Games, with the revenue organisation within the that is generated being redistributed to support National Olympic Olympic Movement Committees (NOCs), International Federations (IFs), Organisng Committees for the Olympic Games (OCGOs), the Olympic • Revenue is generated Solidarity scholarship programme and other sports organisations through several major around the world. -

Brazil the Timeline of the Federal Government's
BRAZIL THE TIMELINE OF THE FEDERAL GOVERNMENT’S STRATEGY TO SPREAD COVID-19 São Paulo, 28th May 2021. Study prepared within the scope of research project ““RIGHTS IN THE PANDEMIC - Mapping the impact of Covid-19 on human rights in Brazil” of the Centre for Studies and Research on Health Law (CEPEDISA) of the School of Public Health (FSP) of the University of São Paulo (USP)”, updated at the request of the parliamentary committee of inquiry created by Federal Senate Requests 1371 and 1372, of 2021, by means of Official Letter 57/2021- CPIPANDEMIA. EXECUTIVE SUMMARY 1. This study is part of research project ““RIGHTS IN THE PANDEMIC - Mapping the impact of Covid-19 on human rights in Brazil” of the Centre for Studies and Research on Health Law (CEPEDISA) of the School of Public Health (FSP) of the University of São Paulo (USP)”, carried out in partnership with Non-Governmental Organization “Conectas Direitos Humanos” until January 2021 and, since then, with the National Council of Health Secretaries (CONASS), with the aim of collecting federal and state regulations relating to Covid-19 and assessing their impact on human rights in Brazil. The partnership entered into with CONASS refers to the mapping and analysis of rules drawn up by the State and Federal District Health Offices and is restricted to the scope of health policies during the Covid-19 pandemic. The timeline of the federal government’s strategy to spread Covid-19 was first published in January 2021, and has now been updated at the request of the Federal Senate's Parliamentary Committee of Inquiry on Covid-19. -

Guide De La Famille Olympique Contents
Guide de la famille olympique Contents 1 Introduction .................................................................................................5 2 Messages d'accueil ......................................................................................6 3 Hôtels de la famille olympique ................................................................8 3.1 Windsor Marapendi (OFH) .................................................................8 3.2 Windsor Barra et Windsor Oceanico (OF2) .....................................8 3.3 Novotel (OF3) ........................................................................................9 3.4 Services disponibles au OFH/OF2 et OF3 ........................................9 4 Centre d'accréditation de la famille olympique ................................. 14 4.1 Fonctionnement du centre d'accreditation de la famille olympique ................................................................... 14 4.2 Cartes OIAC perdues, volees ou endommagees ....................... 15 4.3 Laissez-passer hotel famille olympique invites et residents .... 15 4.4 Assistance accreditation sur les sites ............................................ 16 5 Services d'arrivées et de départs ............................................................17 5.1 Arrivees a l'Aeroport International Tom jobim (GIG) .................. 18 5.2 Arrivees dans d'autres ports d'entree ........................................... 18 5.3 Bagage Mal Achemine (Perdu, Retarde ou Endommage) .................................................. -

World Skate Sls World Championships of Street Skateboarding 2018 Bulletin N°01 Date 17/09/2018
WORLD SKATE SLS WORLD CHAMPIONSHIPS OF STREET SKATEBOARDING 2018 RIO DE JANIERO – BRASIL DISCIPLINES ALL AGES WOMEN’S and MEN’S STREET SKATEBOARDING COMPETITIONS January 08/13, 2019 BULLETIN N°01 DATE 17/09/2018 STREET SKATEBOARDING WORLD CHAMPIONSHIPS Dear friends, World Skate is proud to announce the 2018 World Skate SLS World Championships of Street Skateboarding, now scheduled for January 8-13, 2019, to be held in Rio De Janeiro, Brasil. This will be the first World Skate-sanctioned Championships of Street Skateboarding and will serve to establish ranking and seeding for the Street competitions as we head into the 2019 Olympic Qualifying season. Per World Skate Statutes, please see additional information about the Championships below. Make sure to mark your calendars and we look forward to seeing you in Rio! VENUE The World Skate SLS World Championships of Street Skateboarding will be hel d at: Carioca Arena 1 Barra Olympic Park Av. Embaixador Abelardo Bueno Barra da Tijuca Rio de Janeiro Brasil COUNTRY QUOTAS Two male and two female skaters per National Federation will be admitted to attend the Street World Championships. Skaters from your country already participating in SLS during the 2018 season will not count against your country quotas. REGISTRATION Registration will be through the official online World Skate platform. The platform will open on October 15th and will close on November 23rd. 2 World Skate will send an official communication informing all the National Federations with the link to access the online platform and registration instructions. OFFICIAL WEBSITE All official event information will be available online at: http://www.worldskate.org/skateboarding/events - skateboarding/competitions/event/21.html and www.streetleague.com More detailed information will be sent with the next bulletin, in the meantime please feel free to contact us at: [email protected] Best regards, Gary Ream Roberto Marotta Skateboarding Commission Secretary General Chairman 3 . -

A VOZ DO BRASIL Há 83 Anos No Ar
IMPRENSA NACIONAL Novos Rumos da Comunicação Pública Ano 2 — nº 7 — maio/junho — 2018 AA VOZVOZ DODO BRASILBRASIL HáHá 8383 anosanos nono arar Entrevista com Victor Burton, o mago das capas de livros Realidade Aumentada, o futuro das Redes Sociais Imprensa Nacional - 210 anos Tradição,no tratoconfiança da informação e modernidade oficial O Painel de Obras é uma ferramenta que permite a qualquer cidadão acompanhar as obras das carteiras do PAC, Avançar e Siconv em todos os municípios do Brasil Acesse e conheça: paineldeobras.planejamento.gov.br IMPRENSA NACIONAL Novos Rumos da Comunicação Pública Revista da Imprensa Nacional Carta ao (Instituída pela Portaria nº 103, de 15 de maio de 2017) Diretor-Geral: Pedro Bertone Editor: Cristóvão de Melo Leitor Copidesque: Rogério Ribeiro Lyra REDAÇÃO: Caro leitor, é com dupla satisfação que Cristóvão de Melo entregamos a você esta 7ª edição da Revista Imprensa Nacional – Ezequiel Marques Boaventura Novos Rumos da Comunicação Pública. Neste mês de maio come- Marcelo Maiolino Pedro Paulo Tavares de Oliveira moramos os 210 anos da Imprensa Nacional. Poucas organizações, Rogério Lyra públicas ou privadas, podem se orgulhar de sobreviver por mais de Lisandra Nascimento (estagiária) dois séculos e celebramos este feito com um artigo que evoca o pas- sado, analisa o presente e projeta um futuro cada vez mais promissor SECRETÁRIA Vânia Maria Pinto para nossa instituição. Também celebramos neste maio o primeiro aniversário da nossa revista, que tem registrado essa fase de transfor- REVISÃO: mação da IN em uma organização dedicada ao conhecimento base- Dermeval Fernandes Dantas ado nas informações públicas oficiais do Estado brasileiro.