Daniel Ayres Arnoni Rezende Gaspar Da Cruz E
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
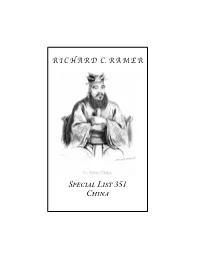
Special List 351 1
special list 351 1 RICHARD C.RAMER Special List 351 China 2 RICHARDrichard c. C.RAMER ramer Old and Rare Books 225 east 70th street . suite 12f . new york, n.y. 10021-5217 Email [email protected] . Website www.livroraro.com Telephones (212) 737 0222 and 737 0223 Fax (212) 288 4169 October 21, 2019 Special List 351 China Items marked with an asterisk (*) will be shipped from Lisbon. SATISFACTION GUARANTEED: All items are understood to be on approval, and may be returned within a reasonable time for any reason whatsoever. VISITORS BY APPOINTMENT special list 351 3 Special List 351 China *1. ALDEN, Dauril, assisted by James S. Cummins and Michael Cooper. Charles R. Boxer, an Uncommon Life: Soldier, Historian, Teacher, Collector, Traveller. Lisbon: Fundação Oriente, 2001. Sm. folio (27.9 x 21.2 cm.), original illustrated wrappers. As new. 616 pp., (1 blank l., 1 l.), 10 ll. illus., printed on both sides, illus. in text. ISBN: 972-785-023-5. $72.00 FIRST and ONLY EDITION. Excellent biography of this exemplary individual by a distinguished historian. Hero of a Pastoral Poem Travels to Goa, Japan, China, Southeast Asia, and Ethiopia 2. ALVARES DO ORIENTE, Fernão d’. Lusitania transformada composta por … dirigida ao Illustrissimo e mui excellente Senhor D. Miguel de Menezes, Marquez de Villa Real, Conde de Alcoutim e de Valença, Senhor de Almeida, Capitão Mór e Governador de Ceita [sic]. Impressa em Lisboa por Luiz Estupiñan anno de 1607, e agora reimpressa, e revista com hum indice da sua lingoagem por hum Socio da Academia Real das Sciencias de Lisboa. -

A Construçao Do Conhecimento
MAPAS E ICONOGRAFIA DOS SÉCS. XVI E XVII 1369 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] Apêndices A armada de António de Abreu reconhece as ilhas de Amboino e Banda, 1511 Francisco Serrão reconhece Ternate (Molucas do Norte), 1511 Primeiras missões portuguesas ao Sião e a Pegu, 1. Cronologias 1511-1512 Jorge Álvares atinge o estuário do “rio das Pérolas” a bordo de um junco chinês, Junho I. Cronologia essencial da corrida de 1513 dos europeus para o Extremo Vasco Núñez de Balboa chega ao Oceano Oriente, 1474-1641 Pacífico, Setembro de 1513 As acções associadas de modo directo à Os portugueses reconhecem as costas do China a sombreado. Guangdong, 1514 Afonso de Albuquerque impõe a soberania Paolo Toscanelli propõe a Portugal plano para portuguesa em Ormuz e domina o Golfo atingir o Japão e a China pelo Ocidente, 1574 Pérsico, 1515 Diogo Cão navega para além do cabo de Santa Os portugueses começam a frequentar Solor e Maria (13º 23’ lat. S) e crê encontrar-se às Timor, 1515 portas do Índico, 1482-1484 Missão de Fernão Peres de Andrade a Pêro da Covilhã parte para a Índia via Cantão, levando a embaixada de Tomé Pires Alexandria para saber das rotas e locais de à China, 1517 comércio do Índico, 1487 Fracasso da embaixada de Tomé Pires; os Bartolomeu Dias dobra o cabo da Boa portugueses são proibidos de frequentar os Esperança, 1488 portos chineses; estabelecimento do comércio Cristóvão Colombo atinge as Antilhas e crê luso ilícito no Fujian e Zhejiang, 1521 encontrar-se nos confins -

CHINESE MATTERS in the HISTORIA DA IGREJA DO JAPÃO by JOÃO RODRIGUES TÇUZU SJ Bulletin of Portuguese - Japanese Studies, Vol
Bulletin of Portuguese - Japanese Studies ISSN: 0874-8438 [email protected] Universidade Nova de Lisboa Portugal Roque de Oliveira, Francisco A TREATISE INSIDE A TREATISE: CHINESE MATTERS IN THE HISTORIA DA IGREJA DO JAPÃO BY JOÃO RODRIGUES TÇUZU SJ Bulletin of Portuguese - Japanese Studies, vol. 18-19, junio-diciembre, 2009, pp. 135-173 Universidade Nova de Lisboa Lisboa, Portugal Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36129851005 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative BPJS, 2009, 18/19, 135-173 A TREATISE INSIDE A TREATISE: CHINESE MATTERS IN THE HISTORIA DA IGREJA DO JAPÃO BY JOÃO RODRIGUES TÇUZU SJ * Francisco Roque de Oliveira University of Lisbon Abstract In the first chapters of the unfinished manuscript of the Historia da Igreja do Japão (c. 1627) the Portuguese Jesuit João Rodrigues Tçuzu articulates the general description of Japan and of its religions with a vast series of geographical and anthropological data on China. Within the context of the Jesuit prose of that time it is a unique methodological option, resulting from the author’s correct perception as pertains to the decisive influence that Chinese culture had in East Asia. Despite the numerous problems related with the textual systemization of those Chinese matters, it results in a brief descriptive treaty about China. It is also the first relevant synthesis on the subject written in China itself after the work left by Matteo Ricci in 1610. -

Before the Arrival of Tea in Europe. the Chinese Beverage in Western
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Archivio istituzionale della ricerca - Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari 1 or tea drinking in Il Milione. 1. The departure of Marco Polo, LIVIO ZANINI Some scholars believe that these Livre des merveilles, circa 1412, Before the Arrival of Tea in Europe. omissions prove that Polo never reached ms. Français 2810, f. 4r (Paris, The Chinese beverage in western Cathay. Others point out that Il Milione is Bibliothèque nationale de France, sources prior to the 17th century actually the work of his Pisan editor who Département des Manuscrits). intended to write a chivalric romance based on Polo’s notes, which were The Chronica imaginis mundi written by mainly concerned with trade and other the Dominican friar Jacopo d’Acqui matters potentially of interest to the narrates that as Marco Polo lay dying, his Mongol ruler in whose service he was.2 friends gathered around his death bed to Moreover, at the time of Polo’s journey, beg him to renounce the exaggerations the Great Wall had been in ruins for and lies that he had told about his centuries and served no purpose to the journeys in Asia and that he refused new conquerers, footbinding had only their advice, claiming that he had not been recently introduced to Chinese mentioned even half of the wonderful society, and Chinese characters were things that he had seen.1 just one of the many incomprehensible Today we have no way of knowing writing systems encountered by the whether this episode described by Venetian traveller crossing the territories Jacopo d’Acqui really did take place or of the vast Mongol empire, explaining 1. -

The Portuguese in Hormuz and the Trade in Chinese Porcelain1
BPJS, 2015, II, 1, 5-26 The Portuguese in Hormuz and the trade in Chinese Porcelain1 Rui Manuel Loureiro Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes & CHAM (FCSH, Universidade NOVA de Lisboa and Universidade dos Açores) Abstract The relations between Persia and China were many centuries old when the Portuguese first arrived on the island of Hormuz in the early years of the sixteenth century. Archaeological evidence found in Persian Gulf settlements frequently includes shards and/or pieces of Chinese ceramics, testifying to an intense maritime trade. For centuries, then, Chinese ceramics had been imported into Persia, both by land and sea routes, assuming an important role in the daily life and in the collecting habits of the Persian elites, and also influencing the arts and crafts of Persian potters. But during the reign of Shah Abbas I, a particular interest in collecting Chinese ceramics seems to have developed in the Safavid realm. Was there some sort of connection with the Portuguese establishment of Hormuz and the consequent easier accessibility to Chinese commodities, and namely porcelains? An analysis of the contents of the Ardabil shrine collection seems to suggest a Portuguese connection, meaning that at least part of the Chinese ceramics came to Persia through the mediation of Portuguese Hormuz. Resumo As relações entre a Pérsia e a China eram antiquíssimas, quando os portugueses chegaram à ilha de Ormuz nos primeiros anos do século XVI. Vestígios encontrados em escavações arqueológicas levadas a cabo no Golfo Pérsico incluem frequentemente peças de cerâmica chinesa, testemunhando um intenso tráfico marítimo. Durante séculos, as porcelanas chinesas importadas por mar e por terra para a Pérsia tinham assumido um papel relevante na vida diária e nos hábitos de coleccionismo das elites persas, influenciando também as artes e técnicas dos ceramistas persas. -

Special List 366: Christianity in Asia
special list 366 1 RICHARD C.RAMER Special List 366 Christianity in Asia 2 RICHARDrichard c. C.RAMER ramer Old and Rare Books 225 east 70th street . suite 12f . new york, n.y. 10021-5217 Email [email protected] . Website www.livroraro.com Telephones (212) 737 0222 and 737 0223 Fax (212) 288 4169 March 16, 2020 Special List 366 Christianity in Asia Items marked with an asterisk (*) will be shipped from Lisbon. SATISFACTION GUARANTEED: All items are understood to be on approval, and may be returned within a reasonable time for any reason whatsoever. VISITORS BY APPOINTMENT special list 366 3 Special List 366 Christianity in Asia Wealth of Information on the Portuguese in the East 1. AGOSTINHO de Santa Maria, Fr. Historia da fundação do Real Convento de Santa Monica da Cidade de Goa, corte do Estado da India, & do Imperio Lusitano do Oriente …. Lisbon: Na Officina de Antonio Pedrozo Galram, 1699. 4°, contemporary limp vellum. Crisp and clean. In fine condition. Early ownership inscription in lower margin of title-page: “He livro he da libraria da Augustinhas descalsas.” (6 ll.), 819 pp. $3,500.00 FIRST EDITION. Nominally a history of an Augustinian convent founded in Goa in 1606, this important work is in fact much broader in scope: it gives a detailed history of Portuguese missions and missionaries, with a wealth of information on a wide variety of subjects relating to the Portuguese in the East. Among the biographies of persons associated with the Real Convento de Santa Monica is a lengthy one of D. Aleixo de Menezes, who was archbishop of Goa at the time of the convent’s foundation. -

A Construçao Do Conhecimento
Francisco Manuel de Paula Nogueira Roque de Oliveira A construção do conhecimento europeu sobre a China, c. 1500 – c. 1630 Impressos e manuscritos que revelaram o mundo chinês à Europa culta Tese apresentada ao Departamento de Geografia da Universitat Autònoma de Barcelona para a obtenção do grau de Doutor em Geografia Humana / Tesis presentada en el Departamento de Geografía de la Universitat Autònoma de Barcelona para optar al grado de Doctor en Geografía Humana Director: Prof. Horacio Capel Sáez Tutora / Ponente: Prof.ª Maria Dolors García Ramon Estudo subsidiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia Programa PRAXIS XXI: CIÊNCIA/BD/2754/93 – RO Departament de Geografia Universitat Autònoma de Barcelona Março de 2003 / marzo del 2003 ÍNDICE O autor agradecido ..................................................................................................................... xi Introdução .................................................................................................................................. xv Nota sobre transcrições, citações e abreviaturas ...................................................................... xix Parte I: A China e os Mares da Ásia, c. 1500 – c. 1630: cenários e protagonistas Resumo da Parte I ........................................................................................................................ 3 Enquadramento metodológico ................................................................................................. 7 1. Cronologia ............................................................................................................................ -

Revised Study Guide For: First Globalization: the Eurasian Exchange, 1500-1800 (Rowman & Littlefield, 2003) by Geoffrey C
Revised Study Guide for: First Globalization: The Eurasian Exchange, 1500-1800 (Rowman & Littlefield, 2003) by Geoffrey C. Gunn This study guide offers a brief chapter summary, along with key terms. Additionally, a range of questions are posed to guide and frame further study. A range of Websites is also offered for self- exploration of suggested themes. Contents Introduction Chapter 1: The Discovery Canon Chapter 2: Historical Confabulators and Literary Geographers Chapter 3: Observations on Nature Chapter 4: Catholic Cosmologies Chapter 5: Mapping Eurasia Chapter 6: Enlightenment Views of Asian Governance Chapter 7: Civilizational Encounters Chapter 8: Livelihoods Chapter 9: Language, Power, and Hegemony in European Oriental Studies Chapter 10: A Theory of Global Culturalization Conclusion INTRODUCTION The introduction sets down the major overarching questions raised by this book. It then offers a reflection on current popularized versions of globalization. Distinctions are then drawn between globalization reaching back to ancient empires such as Rome and the globalization spawned by the European discoveries. Further distinctions are made between the conquest of the Americas and the European push into maritime Asia. Then follows a discussion on the various “constructions” of Europe and Asia. But from approximate economic and social equivalence c.1500-1880, as the author explains, East and West came to diverge. The author then explains how the study of Asia in Europe came to offer a privileged but distorted view of Asia. Turning to method, the author explains that the dominant area studies approach to Asia that gained favor after World War II not only fragments but tends to mask the age-old connections and exchanges across the Eurasia landmass. -
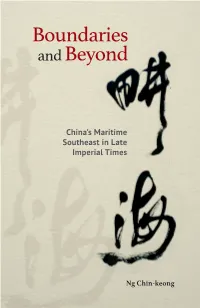
Boundaries Andbeyond
Spine width: 32.5 mm Ng Chin-keong Ng Ng Chin-keong brings together the work Throughout his career, Professor Ng of forty years of meticulous research Chin-keong has been a bold crosser on the manifold activities of the coastal Boundaries of borders, focusing on geographical Fujian and Guangdong peoples during boundaries, approaching them through the Ming and Qing dynasties. Since the one discipline after another, and cutting publication of his classic study, The Amoy and Beyond across the supposed dividing line Network on the China Coast, he has been between the “domestic” and the “foreign”. sing the concept of boundaries, physical and cultural, to understand the pursuing deeper historical questions Udevelopment of China’s maritime southeast in Late Imperial times, and He demonstrated his remarkable behind their trading achievements. In its interactions across maritime East Asia and the broader Asian Seas, these Boundaries versatility as a scholar in his classic the thirteen studies included here, he linked essays by a senior scholar in the field challenge the usual readings book, Trade and Society: The Amoy Network deals with many vital questions that help of Chinese history from the centre. After an opening essay which positions on the China Coast, 1683–1735, which China’s southeastern coast within a broader view of maritime Asia, the first us understand the nature of maritime explored agriculture, cities, migration, section of the book looks at boundaries, between “us” and “them”, Chinese China and he has added an essay that and other, during this period. The second section looks at the challenges and commerce. -

Geografia E Propaganda Segundo a Historia Del Gran Reyno De La China De Frei Juan González De Mendonça, 1585-1586
M I S S I O N A Ç Ã O Geografia e propaganda segundo a Historia del gran Reyno de la China de frei Juan González de Mendonça, 1585-1586 Texto compósito 1. Proposta por excelência, a Historia de China faz sobretudo coincidir O agostinho espanhol Juan González de Mendoza a herança informativa (1545-1618) ocupa, por via da celebérrima Historia de las portuguesa — representada por cosas mas notables, ritos y costumbres del gran Reyno de la escritos como os de Duarte China (Roma, Vincentio Accolti, a costa de Bartholome Barbosa, João de Barros Grassi, 1585; edição ampliada, Madrid, Querino Ge- ou Gaspar da Cruz — com um conjunto rardo Flamenco, a costa de Blas de Robles librero, 1586), de textos e dados inéditos um lugar de tal modo destacado entre os aprendizes de que resultara de algumas sinólogo do século de Leonardo e de Magalhães que das breves incursões nas províncias julgamos desnecessário conferir a sua personalidade e meridionais chinesas a sua obra com a minúcia a que nos obrigaria a gene- lideradas por agostinhos ralidade dos autores seus contemporâneos igualmente e franciscanos espanhóis, entre 1575 e 1582. responsáveis pela produção do moderno conhecimento europeu sobre a China, mas menos solicitados do que ele pela fama. Para quem quiser seguir por aí, existem sínteses de referência como as que Charles Boxer 1 e Donald Lach 2 dedicaram ao assunto. A despeito dos acrescentos que sempre lhes possamos fazer, o facto é que estas duas obras são já suficientemente correctas e completas, tornando até certo ponto redundantes Francisco Roque novas desmontagens de fio a pavio de um texto lido e de Oliveira relido como a Historia del gran Reyno de la China. -

History&Perspectives
2011 CHINESE AMERICA History&Perspectives THE JOURNAL OF THE CHINESE HISTORICAL SOCIETY OF AMERICA CHINESE AMERICA HISTORY & PERSPECTIVES The Journal of the Chinese Historical Society of America 2011 CHINESE HISTORICAL SOCIETY OF AMERICA with UCLA Asian American Studies Center Chinese America: History & Perspectives — The Journal of the Chinese Historical Society of America Chinese Historical Society of America Museum & Learning Center 965 Clay Street San Francisco, California 94108 chsa.org Copyright © 2011 Chinese Historical Society of America. All rights reserved. Copyright of individual articles remains with the author(s). ISBN-13: 978-1-885864-46-8 ISBN-10: 1-885864-46-9 Design by Side By Side Studios, San Francisco. Permission is granted for reproducing up to fifty copies of any one article for Educa- tional Use as defined by the Digital Millennium Copyright Act. To order additional copies or inquire about large-order discounts, see order form at back or email [email protected]. Articles appearing in this journal are indexed in Historical Abstracts and America: History and Life. About the cover image: Young Chinese Athletic Club of Oakland, CA, 1928. Photo courtesy of Arthur Tom Collection. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Contents Preface v INTRODUCTION 1 Laurene Wu McClain THE CHINESE LADY AND CHINA FOR THE LADIES 5 Race, Gender, and Public Exhibition in Jacksonian America John Haddad DRUMMING UP CHINESENESS 21 Chicago’s Chinese Children’s Rhythm Band in the 1930s and 1940s Jeff Kyong-McClain BORN LUCKY 29 The Story of Laura Lai Jean Dere -
Redalyc.16TH CENTURY JAPAN and MACAU DESCRIBED by FRANCESCO CARLETTI (1573?-1636)
Bulletin of Portuguese - Japanese Studies ISSN: 0874-8438 [email protected] Universidade Nova de Lisboa Portugal Colla, Elisabetta 16TH CENTURY JAPAN AND MACAU DESCRIBED BY FRANCESCO CARLETTI (1573?-1636) Bulletin of Portuguese - Japanese Studies, vol. 17, 2008, pp. 113-144 Universidade Nova de Lisboa Lisboa, Portugal Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36122836005 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative BPJS, 2008, 17, 113-144 16TH Century Japan AND Macau DESCRIBED by FRANCESCO Carletti (1573?-1636) Elisabetta Colla * Centro Científico e Cultural de Macau, Lisbon Abstract This paper will give a brief account on Macau and Nagasaki at the end of 1590s as described by the Florentine Merchant Francesco Carletti in his Codex 1331 (T.3.22) preserved in the Biblioteca Angelica in Rome is a XVIIth Century Manuscript, also known as Ragionamenti del mio viaggio intorno al mondo, is the relate about the first private circumnavigation. Resumo Este ensaio visa a fornecer a descrição de Macau e Nagasaki nos finais dos anos Noventa do século XVI assim como emerge no Codex 1331 (T.3.22) do mercador florentino Francesco Carletti, conservado na Biblioteca Angelica de Roma. Este manus- crito do século XVII é também conhecido por Ragionamenti del mio viaggio intorno al mondo, e apresenta a história da primeira circumnavegação efectuada com meios particulares. 要約 本稿は、ローマのアンジェリカ図書館所蔵(Codex 1331 (T.3.22))の、 フィレンツェ商人フランチェスコ・カルレッティの記録のうち、1590年 代のマカオと長崎に、焦点を当てるものである。17世紀に記された同記 録は、「世界周遊記」として知られ、それははじめての個人による(国 家事業ではないという意味)世界周遊に関する記録である。 Keywords: XVIth century Macau and Nagasaki – Relations between Nagasaki and Macau – Chris- tian Mission in Macau and Nagasaki – the Italian Model * Centro Científico e Cultural de Macau/Fundação para a Ciência e a Tecnologia scholarship holder.