Componentes Ambientais Como Elementos Regeneradores Do Espaço Colectivo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
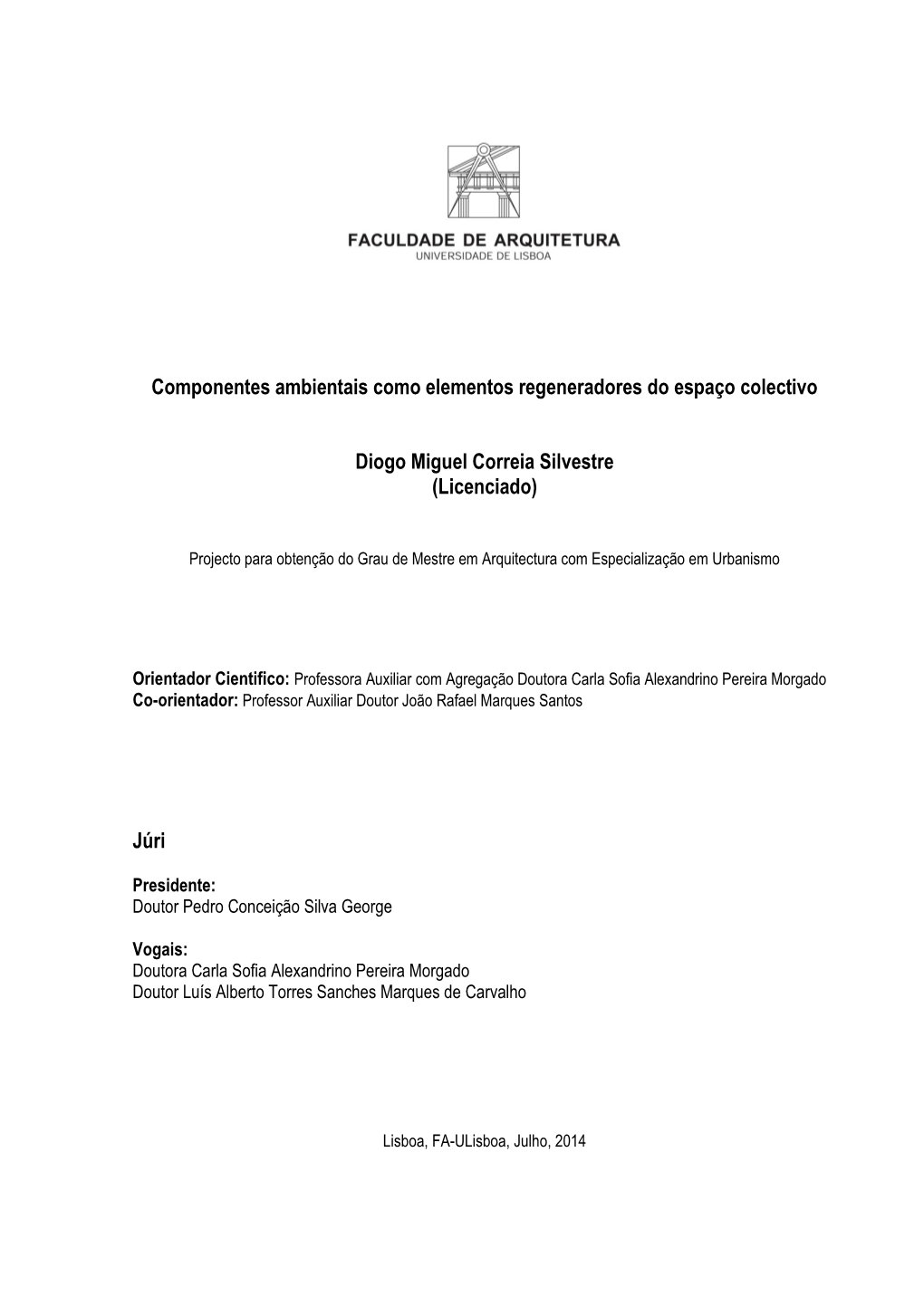
Load more
Recommended publications
-

Estudos De História Empresarial De Portugal O Setor Ferroviário
Série Documentos de Trabalho Working Papers Series Estudos de História Empresarial de Portugal O setor ferroviário Ana Tomás Nuno Valério DT/WP nº 68 (GHES –CSG–ISEG –ULisboa) ISSN 2183-1785 Instituto Superior de Economia e Gestão Universidade de Lisboa Estudos de História Empresarial de Portugal O setor ferroviário Ana Tomás Nuno Valério (GHES – CSG – ISEG – ULisboa) Resumo Este documento de trabalho pretende ser o primeiro de um conjunto a preparar e publicar nos próximos anos, tendo como objetivo final elaborar uma História Empresarial de Portugal. Nele é sintetizada a evolução do setor dos caminhos-de-ferro em Portugal, quer sob a ótica da disponibilidade de serviços ferroviários, quer sob a ótica das empresas que construíram as infraestruturas ou prestaram esse serviço. Abstract This working paper aims to be the first one of a set to be prepared and published along the next years, with the final purpose of preparing a Business History of Portugal. It summarizes the evolution of the railroad sector in Portugal, both from the perspective of the availability of the railway service, and from the perspective of the firms that built the infrastructure or provided that service. Palavras-chave Portugal, caminhos-de-ferro, empresas ferroviárias. Keywords Portugal, railroads, railway firms. Classificação JEL / JEL classification L92 – caminhos-de-ferro e outros transportes de superfície / railroads and other surface transports 1 Plano Apresentação geral O setor ferroviário 1 – Projeto na década de 40 do século XIX 2 – A construção da rede -

Research Report
MARVILA/BEATO RESEARCH REPORT João Carlos Martins João Mourato Institute of Social Sciences University of Lisbon Document produced for the Horizon 2020 project ‘ROCK’. Year: 2018. Status: Final. Disseminaon Level: Public. 1 Contents Figures Graphics Tables Introduction 1 Intervention Area 1.1 ROCK integration on Lisbon: 1998-2018. Between planning and the constructed city. Territorial Management, Strategic Plans. From late 1990’s to contemporary practices. Eastern Waterfront of Lisbon 1.2 ROCK Space, Internal borders, urban frontiers and mobilities 1.2.1 Zone 1: Marvila’s Library and Alfinetes Palace. PRODAC, Quinta do Chale, Cooperative Housing and Palace, Alfinetes and Marques de Abrantes Areas 1.2.2 Zone: 2: Island. Marvila and Beato Island Areas 1.2.3 Zone 3: Harbour. Marvila and Beato Harbour Areas 2 Socioeconomic Outline 2.1 Demographic features: people and families 2.2 Old and New Economic profiles 3. Built Space, Green Spaces and Voids 3.1 Housing Stock: Private and Public Funded Initiatives 3.2 Heritage and Culture related Spaces 3.3 Local Agriculture and Lisbon´s Green Belt. Urban Voids, empty spaces and future perspectives 4. Political and Institutional Outline 4.1 Elected governments and other political groups in Marvila and Beato 4.2 Local based groups. Public Funded initiatives and projects References 2 Figures Figure 1 Soil uses of Chelas Masterplan. Font: Gabinete Técnico da Habitação, CML Figure 2 ROCK Zones and Areas Figure 3: Zone 1 Library and Palace Figure 4: Bairro Chines Graffiti Figure 5: Collective Toilet on Bairro do Chines in the 1960’s. Figure 6: Library and Alfinetes Area Figure 7 Bairro Chines on the 1960’s Figure 8: Bairro Chines today. -

Impacto Da Construção Ferroviária Sobre a Cidade De Lisboa
Impacto da construção ferroviária sobre a cidade de Lisboa Magda Pinheiro- CEHCP-ISCTE Em 1856, quando o primeiro troço de caminho de ferro é inaugurado em Portugal, do plano de construção de estradas de 1842/1843 apenas algumas centenas de quilómetros estavam concluídas. No entanto Lisboa estava situada na foz do maior rio navegável do País e, como mais importante porto nacional, estava ligada por barco a vapor à sua segunda maior cidade, o Porto. Ao Norte Viana do Castelo, no centro Figueira Foz, ao Sul Setúbal e os vários portos do Algarve punham a capital em contacto com o litoral e com as zonas servidas por transportes fluviais. Estas circunstâncias geográficas explicam em parte que os primeiros projectos de construção ferroviária tivessem por objectivo uma ligação com a fronteira de Espanha. Ao analisar a rede ferroviária portuguesa é-se inevitavelmente levado a concluir que a sua construção contribuiu, a partir dos anos sessenta do século XIX, para aumentar o fosso entre a velocidade de crescimento demográfico do País e a da sua capital1. A rede ferroviária, construída após 1853, tem o seu ponto de partida em Lisboa e em menor medida no Porto, desenvolvendo-se por ramificação. Esta forma arborescente facilita as trocas entre Lisboa e os diversos pontos do interior ao mesmo tempo que mantém as dificuldades de comunicação entre as diversas zonas situadas longe da plataforma costeira. Em termos de crescimento económico poder-se-à ainda considerar relevante o facto de, em 1897, o preço da condução das mercadorias e passageiros desde as sedes de concelho até às estações ferroviárias ser ainda muito elevado, exprimindo a baixa densidade de caminhos de ferro e a permanência de um défice na construção de estradas2 . -

Contrato 2005
CONTRATO DE CONCESSÃO PARA A EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SUBURBANO DE PASSAGEIR0S NO FIXO FERR0vIÁRI0 NORTE-SUL 2 tNDICE CONSIDERANDOS PARTE 1- OBjEcro E ÂMBITO DA CONCESSÃO 1.0 — Definições 2.’ — Objecto da Concessão 3•a — Outras actividades integradas no objecto do contrato 4.’ — Prazo da Concessão 5a — Prestações de serviço público 6.’ — Regime do risco 7•0 — Reposição do equilíbrio financeiro 8.0 — Tarifário — Responsabilidade do Concessionário perante terceiros 10.0 — Exclusividade lia — Estabelecimento da Concessão 12.0 — Contratos Acessórios PARTE II- DISPOSIÇÕES ESPECIAIS SOBRE A EXPLORAÇÃO CAPÍTULO 1- INFRA-ESTIUJTURAS 13.’ — Utilização da infra-estrutura 14í — Tarifa pela utilização da Infra-estrutura e outros pagamentos 15.’— Utilização e gestão das estações, interfaces, parques e silos de estacionamento 16.’ — Canal Horário e Horário Técnico CAPÍTuLo II- MATERIAL CIRCULANTE 3 17i— Manutenção do Material Circulante 3•a — Implementação de estrutura de locação 19.— Aquisição de Material Circulante CAPÍTULO III - PRINcÍPIOS E OBRIGAÇÕES DE EXPLORAÇÃO 20Y — Princípios da exploração — Sistemas e manuais 22) — Regulamentos e normativos de segurança 23.a — Indicadores da qualidade da oferta 24.a — Estatísticas e indicadores — Relacionamento com os passageiros PARTE III - OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DO CONCESSIONÁRIO 26.a — Informação contabilística e financeira 27!’ — Seguros 28!’ — Acordos com entidades de protecção civil PARTE IV - OBRIGAÇÕES RESPEITANTES À SOCIEDADE CONCESSIONÁRIA — Estrutura da Sociedade Concessionária 30!’ — Obtenção de licenças e outras certificações PARTE V - FISCALIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO 31!’ — Fiscalização e monitorização 32!’a — Obrigações de informação 33 — Intervenção directa do Concedente PARTE VI - RESGATE E FORÇA MAIOR 34!’ — Resgate 4 35” — Força maior PARTE VII- INCUMPRIMENTO DO CONTRATO E SUAS CONSEQUÊNCIAS 36.”—. -

Official Journal C 122 Volume 40 of the European Communities 19 April 1997
ISSN 0378-6986 Official Journal C 122 Volume 40 of the European Communities 19 April 1997 English edition Information and Notices Notice No Contents page I Information Commission 97/C 122/01 Publication of main points of decisions to grant financial assistance under Regulation ( EC ) No 1164/94 establishing a Cohesion Fund 1 EN Price: ECU 25 19 . 4 . 97 EN Official Journal of the European Communities No C 122/1 I (Information) COMMISSION Publication of main points of decisions to grant financial assistance under Regulation ( EC ) No 1164/94 establishing a Cohesion Fund ( 97/C 122/01 ) LIST OF PROJECTS Page Page SPAIN 95/09/61 /005 80 96/11/61/007 2 96/09/61/085 81 96/11/61/009 4 96/11/61 /012 7 93/09/65/011 and 94/09/65/011 83 96/11/61 /015-017 10 96/11/61 /019-1 15 94/09/65/010 85 96/11/61 /019-2 17 94/09/65/0 12a and 012b 87 96/11 /61/020 19 94/09/65/012-c 89 96/11/61 /021 21 94/09/6 5/0 12-d 91 96/11/61 /023 24 94/09/65/0 12-e 92 96/11/61/024 26 94/09/65/0 12-f 94 96/11/61/026 30 94/09/65/0 13-a 95 96/11/61 /027 35 94/09/65/0 13-b 97 96/11 /61 /030-1 38 94/09/65/028-a 99 96/11 /61/030-2 41 94/09/65/028-b 100 96/ 11 /61 /036 45 94/09/65/028-c 102 96/11 /61/038 47 96/11 /61 /051 49 96/11/61/052 53 IRELAND 95/07/65/006 104 GREECE 93/09/61/023 57 93/09/61 /044 . -

Centro De Estudos Interculturais Klçzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklçzxc Repositório De Conteúdos Dos Periódicos Vbnmqwertyuiopasdfghjklçzxcvbnmq Fevereiro De 2017
Qwertyuiopasdfghjklçzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklçzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklçzxcvbnmqwertyuiopasdfghj Centro de Estudos Interculturais klçzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklçzxc Repositório de Conteúdos dos Periódicos vbnmqwertyuiopasdfghjklçzxcvbnmq Fevereiro de 2017 (página em construção) wertyuiopasdfghjklçzxcvbnmqwerty Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto uiopasdfghjklçzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklçzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklçzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklçzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklçzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klçzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklçzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklçzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklçzxcvbnmqwerty Conteúdo Análise Social – Revista do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa Nº 107 Vol. XXV Ano 1990 ........................................................................... 17 Análise Social – Revista do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa Nº 111 Vol. XXVI Ano 1991 .......................................................................... 18 Análise Social – Revista do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa Nº 112 e 113 Vol. XXVI Ano 1991 .............................................................. 19 Análise Social – Revista do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa Nº 114 Vol. XXVII Ano 1991 ........................................................................ 21 Análise Social – Revista do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa Nº 121 Vol. XXVIII Ano 1993 ...................................................................... -

Relatório Técnico De Avaliação Do Programa De Investimentos Pni 2030 – Ferrovia
2020 RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PNI 2030 – FERROVIA APOIO DE CONSULTORIA AO CSOP ACÚRCIO MENDES DOS SANTOS ERNESTO J. S. MARTINS DE BRITO Abril 2020 NOTA DE CONJUNTURA O violento surto pandémico mundial designado por Covid19 e que se propaga desde o início do corrente ano de forma avassaladora obrigou a excepcionais medidas de emergência em matéria de saúde publica ao nível do globo o que produziu um violentíssimo efeito na economia mundial por efeito dos súbitos choques, tanto na oferta como na procura. Esta realidade, até agora nunca vivida pelas sociedades e fruto das intensas interações resultantes da globalização, vem trazer um exigentíssimo duplo desafio a todos nós: o de conter e inverter o colapso da saúde publica e, ao mesmo tempo, recuperar e revitalizar as economias. O que começa a ser uma evidencia é que haverá muitos aspectos da sociedade e da economia que vão sofrer mudanças profundas apontando-se já para o lado positivo desta circunstância, focado na oportunidade de aceleração da transformação para toda uma nova economia de baixo carbono, centrada na emergência climática e nas energias renováveis. Assim, parece claro que a iniciativa da UE de uma Estratégia da Mobilidade Hipocarbónica, anunciada em 2017 com o objectivo de estabelecer as “guide lines” de um novo paradigma de mobilidade não poluente e mais competitiva, irá sofrer um impulso significativo com os respectivos planos de acção e de investimento a anteciparem a sua execução e operacionalidade. Por outro lado, o profundo choque económico por cessação de muitas e diversificadas actividades irá gerar uma séria crise de desemprego, pese embora todos os esforços e medidas em curso adoptadas pelos governos para manterem uma base mínima do estado de prontidão das estruturas produtivas com “layoffs” generalizados, com vista ao seu arranque nos pós Covid 19. -

PUA - OUTRA SOLUÇÃO É POSSIVEL! (Excertos Do Documento De 12 Páginas Entregue Á CML
PUA - OUTRA SOLUÇÃO É POSSIVEL! (Excertos do documento de 12 páginas entregue á CML. Foi também enviado ao governo, a todos os vereadores e aos parti- dos políticos com assento no Parlamento e na Assembleia Municipal de Lisboa) Nas 3 sessões realizadas sobre o PUA ficou evidente que as condicionantes da proposta da REFER tiveram uma incidência negativa na elaboração do PUA apresentado pela CML, não só porque a pro- posta da REFER - em pleno leito de cheia e zona sísmica de máxima gravidade - quer construir uma estação subterrânea entre a Rua de Cascais e a Rua João Miguéns, e mais um viaduto sobre a Avenida de Ceuta, com um plano de execução de obra que atinge sete anos; como também pelas propostas do sistema de transportes do PUA que apresenta num total, mais um túnel e três viadutos rodoviários (um dos quais em plena Rua de Cascais e Rua João Miguens), uma passagem superior de peões, prolonga- mentos das Linhas de Metropolitano Amarela e Vermelha, um funicular, mais duas rotundas, uma delas desnivelada, um alargamento da Avenida 24 de Julho no seu troço final e um conjunto de novos arrua- mentos, como o prolongamento da Rua Luis de Camões à Avenida da Índia, passando pelo interior das instalações da Carris, baseadas numa engenharia de tráfego rodoviário (?) mas, sem qualquer enqua- dramento estratégico de desenvolvimento durável e de mobi- lidade sustentável do sistema de transportes e, muito menos, sem qualquer conceito de cidade sustentável. Durante estas sessões, foi possível contestar esta proposta de PUA e da REFER e apresentar -
E Se, Em Vez De Uma, Existissem Três?
DESTAQUE Estação Central de Lisboa E se, em vez de uma, existissem três? 40 www.transportesemrevista.com TR 70 DEZEMBRO 2008 DESTAQUE Foto: Siemens Mário Lopes Professor do Dept. de Engª Civil do IST, olhando para o mapa ferroviário da cidade de membro da Direcção da ADFER Fotos: Augusto C. Silva Lisboa, podemos questionarmo-nos porque razão deverão os comboios de longo curso, vin- dos da linha do Norte ou da TTT, terminar a sua A CENTRALIDADE DAS ESTAÇÕES e a quali- marcha em Chelas-Olaias e não continuar pela dade das ligações a outros meios de transporte linha de Cintura até ao Rego, aonde ainda exis- permitem minorar os tempos de percurso até te espaço para construir uma estação central aos destinos finais, pois o comboio não permite terminal? Esta solução apresenta como grande a ligação porta a porta. São assim um factor re- vantagem a sua centralidade em relação à cida- levante de competitividade económica das cida- de de Lisboa, que deveria ser um critério decisi- des e regiões que servem, pois influenciam for- vo na escolha da localização da Estação Central temente e cada vez mais a acessibilidade e a de Lisboa, estando localizada no principal eixo mobilidade. Além disto as melhores ligações à de desenvolvimento da cidade (Av. da Liberda- cidade e à região de Lisboa por via ferroviária de, Av. Fontes Pereira de Melo, Av. da Repúbli- têm também vantagens ambientais, pois esti- ca, Campo Grande) e próxima das zonas de mularão o uso do transporte ferroviário nas li- maior concentração de escritórios e hotéis. -
Estação Do Rossio
Estação do Rossio 1 http://www.trainlogistic.com Cláudio Amendoeira – Abril de 2013 A Estação Ferroviária do Rossio, originalmente conhecida como Estação do Rocio ou Estação de Lisboa-Rocio, é uma estação da Linha de Sintra, que serve o centro da cidade de Lisboa, em Portugal. Caracterização Localização e acessos Situa-se na cidade de Lisboa, detendo acesso pela Rua 1º de Dezembro. Vias e plataformas Esta interface detinha, em Janeiro de 2011, 5 vias de circulação, com comprimentos entre os 147 e 196 metros; as plataformas tinham 132 a 208 metros de extensão, e apresentavam todos 90 centímetros de altura. Edifício Edificado em estilo manuelino, e do risco do arquiteto José Luís Monteiro, o edifício está classificado desde 1971 como imóvel de interesse público, estando igualmente integrado numa zona de proteção conjunta dos imóveis classificados da Avenida da Liberdade e área envolvente. Originalmente, o complexo incluía o edifício da estação com a cobertura metálica, um prédio anexo que albergava o hotel, o Túnel do Rossio, e as rampas de acesso ao Largo do Carmo A nave da gare, de grandes dimensões, é coberta por um alpendre de ferro e vidro e tem 130 metros de comprimento e 21 metros de altura, albergando, em 1989, 9 vias. Serviços ferroviários Esta interface foi, frequentemente, servida pelo Sud Expresso, ao longo do Século XX. Recebia, igualmente, mercadorias, dispondo, em 1940, de um serviço de despacho próprio para este tipo de transporte. Túnel do Rossio O acesso dos comboios à estação faz-se, a partir da estação de Campolide, por um túnel em via dupla com 2613 m de comprimento e com um perfil abobadado de 8 m de largura por 6 m de altura até ao fecho da abóbada. -

Ligação Desnivelada Da Linha De Cascais E Do Porto De Lisboa À Linha De Cintura Processo De Avaliação De Impacte Ambiental 2086
Parecer da Comissão de Avaliação Janeiro 2010 Ligação Desnivelada da Linha de Cascais e do Porto de Lisboa à Linha de Cintura Processo de Avaliação de Impacte Ambiental 2086 Comissão de Avaliação Agência Portuguesa do Ambiente Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P. Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P. ÍNDICE GERAL 1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 1 2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO ............................................................................... 2 3. ANTECEDENTES DO PROJECTO ................................................................................. 4 4. LOCALIZAÇÃO E OBJECTIVOS DO PROJECTO ........................................................... 6 5. DESCRIÇÃO DO PROJECTO ........................................................................................ 8 5.1. Projecto e Alternativas Consideradas........................................................................... 9 5.2. Hidrogeologia e Drenagem ....................................................................................... 16 5.3. Métodos Construtivos ............................................................................................... 17 5.4. Movimentação de Terras ......................................................................................... -

Relatório De Atividades Do LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, I.P
Relatório de Atividades do LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, I.P. no Ano de 2011 Conselho Diretivo Proc. 0102/21/5 Abril 2012 O LNEC… ............................................................................................................................... III Natureza jurídica ............................................................................................................................. III Enquadramento jurídico .................................................................................................................. III Missão ............................................................................................................................................. III Atribuições ....................................................................................................................................... V Órgãos ............................................................................................................................................ VI Estrutura ........................................................................................................................................ VII Recursos Humanos ...................................................................................................................... VIII Gestão financeira .......................................................................................................................... VIII Publicações .....................................................................................................................................