Antônio Eufrásio De Toledo”
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Globalisation, Drugs and Criminalisation
Final Research Report on Brazil, China, India and Mexico http://www.unesco.org/most/globalisation/drugs_1.htm DRUGS AND CRIMINALISATION Contents Scientific co-ordination: Christian Geffray, Guilhem Fabre and Michel Schiray Research Team: Roberto Araújo, Luis Astorga, Gabriel Britto, Molly Charles, A.A. Das, Guilhem Fabre, Christian Geffray, Sandra Goulart, Laurent Laniel, Lia Osorio Machado, Guaracy Mingardi, K. S. Naïr, Michel Schiray, Regine Schönenberg, Alba Zaluar, and Deng Zhenlai. GLOBALISATION, The UNESCO/MOST Secretariat Executive Secretary of the MOST Programme: Ali Kazancigil Project Coordinator: Carlos Milani Assistant Project Coordinator: Chloé Keraghel Graphic design : Nicolas Bastien - Paul Gilonne/Sparrow //Marseille/France CD-ROM EDITION General Index TABLE OF CONTENTS Executive Summary Part 1: Drug Trafficking and the State Part 2: Drug Trafficking, Criminal Organisations and Money Laundering Part 3: Social and Cultural Dimensions of Drug Trafficking Part 4: Methodological, Institutional and Policy Dimensions of the Research on Drug Trafficking: Lessons and Contributions from France and the United States 1 General Index Executive summary TABLE OF CONTENTS Executive Summary About the authors and the project team, 1. In memory of Christian Geffray, 3. Presentation of the Project, 4. by Ali Kazancigil and Carlos Milani Main Outcomes, 7. Publications, Conferences, Seminars and UNESCO Chairs Main findings, 11. Abstracts of the articles, 11. General Introduction, 19. Research on Drug Trafficking, Economic Crime and Their Economic and Social Consequences: preliminary contributions to formulate recommendations for national and international public control policies by Christian Geffray, Michel Schiray and Guilhem Fabre 2 executive Summary Part 1 TABLE OF CONTENTS Part 1: Drug Trafficking and the State Introduction: Drug Trafficking and the State, by Christian Geffray, 1. -

2 a Origem Do Crime Organizado No Brasil
2 A origem do crime organizado no Brasil O início das organizações criminosas no Brasil ainda não foi devidamente estudado de maneira sistêmica. Assim, os autores que abordam o tema acabam divergindo em alguns pontos. Para o promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo Eduardo Araújo Silva (2003, p. 25-26) a origem das organizações criminosas brasileiras encontra-se no fenômeno do cangaço. O autor ainda cita o jogo do bicho como a primeira infração penal organizada no Brasil. Para ele o movimento conhecido como cangaço, cuja atuação ocorreu no sertão nordestino, no final do século XIX, é o antecedente da criminalidade organizada brasileira. O movimento que acabou conhecido pela figura de seu líder Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião era dotado de organização hierárquica, divisão de funções e, com o transcorrer do tempo, passou a atuar em frentes como os saques a vilarejos, fazendas e municípios de pequeno porte; práticas de extorsão de dinheiro através de ameaças de ataques; e, sequestros de pessoas importantes e influentes. Os jagunços, capangas e cangaceiros agiam com apoio de fazendeiros e parte da classe política, bem como com o apoio material de policiais corruptos que acabavam lhes fornecendo armamento e munição. No que diz respeito ao jogo do bicho, o autor (2003) afirma que se trata da primeira infração penal organizada no Brasil. Esta contravenção penal que se iniciou em nosso país no século XX consiste no sorteio de prêmios em dinheiro a apostadores mediante prévio recolhimento de apostas. A sua origem é imputada ao Barão de Drumond que, com esse jogo, teve como finalidade salvar os animais do Jardim Zoológico do Estado do Rio de Janeiro 2. -
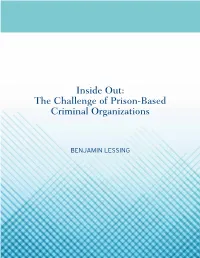
Inside Out: the Challenge of Prison-Based Criminal Organizations
Local Orders Paper Series BROOKINGS PAPER 3 | September 2016 Inside Out: The Challenge of Prison-Based Criminal Organizations BENJAMIN LESSING ACKNOWLEDGEMENTS This paper is part of the Brookings seminar, “Reconstituting Local Orders.” The seminar is directed by Brookings Senior Fellows Vanda Felbab-Brown, Shadi Hamid, and Harold Trinkunas, who are grateful to the Foreign Policy Director’s Special Initiative Fund for its support. Brookings recognizes that the value it provides to any support- er is in its absolute commitment to quality, independence, and im- pact. Activities supported by its donors reflect this commitment, and the analysis and recommendations of the Institution’s scholars are not determined by any donation. Local Orders Paper Series ABOUT THE RECONSTITUTING LOCAL ORDERS PROJECT Led by Brookings Senior Fellows Vanda Felbab-Brown, Shadi Hamid, and Harold Trinkunas, the Brookings Seminar on Reconstituting Local Orders seeks to better understand how do- mestic political order breaks down and is reconstituted. It draws out policy implications and recommends more effective action for local governments and the international community. It examines these issues by bringing together top-level experts and policymakers. The present disorder in the international system is significantly augmented by the break- down of domestic order across a number of key states. Around the globe, the politics of iden- tity, ideology and religion are producing highly polarized societies and deepening conflicts among non-state actors and between non-state actors and the state. In the Middle East, the Arab Spring disrupted long calcified political systems in ways that are still producing unpre- dictable effects on the regional order. -

If I Give My Soul: Pentecostalism Inside of Prison in Rio De Janeiro
If I Give My Soul: Pentecostalism inside of Prison in Rio de Janeiro. A DISSERTATION SUBMITTED TO THE FACULTY OF THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA BY Andrew Reine Johnson IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY Dr. Penny Edgell, Adviser August 2012 Copyright © 2012 Andrew Reine Johnson All rights reserved Acknowledgments First, I would like to thank my parents, Gordon and Hope, my brother Peter and fiancé Rosane. I am so grateful for each one of them and thankful for their unwavering love. I would also like to thank my adviser Penny Edgell for the mentoring, guidance and persistent support she has provided over the last five years. I want to thank the other members of my dissertation committee, Chris Uggen, Joshua Page and Curtiss DeYoung, for the substantial contributions each one has made to this project. I thank Elizabeth Sussekind for sponsoring my research in Rio de Janeiro and for her insights on the Brazilian Criminal Justice system. I could not have gained access to the prisons and jails without the help and friendship of Antonio Carlos Costa, president of Rio de Paz, and I admire his work and vision for those on the margins of Rio de Janeiro. I also want to thank Darin Mather and Arturo Baiocchi for their friendship as well as their sociological and grammatical insights. I would like to thank Noah Day for his generosity during tight times and Valdeci Ferreira for allowing me to stay in the APAC prison system. Finally, I would like to thank the inmates, ex-prisoners and detainees who participated in this project for the hospitality and trust they showed me during the fieldwork for the project. -

Revista RIES Vol 12-2.Indd
REVISTA DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD Indexada en/Index: Actualmente en Open Journal System revistas.unimilitar.edu.co rev. ISSN relac.int. Bogotá ISSN Vol. 12 N.° 2 pp. 13-323 Julio-diciembre 2017 electrónico estrateg. (Colombia) 1909-3063 1909-7743 segur. DIRECTIVOS: Rector BG. Hugo Rodríguez Durán Vicerrector general MG. Jairo Alfonso Aponte Prieto Vicerrector administrativo CN. Rafael Antonio Tovar Mondragón Vicerrectora académica Ing. Yanneth Méndez Marín Vicerrectora de investigaciones Ing. Marcela Iregui Guerrero, Ph.D. Decano de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Coronel r. Jorge Isaza, Ph.D. Vicedecana de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Martha Lucía Oviedo, Ph.D. CUERPO EDITORIAL: Director: Coronel r. Jorge Isaza Ph.D of Philosophy in Management, Commonwealth Open University. Editora: Diana Patricia Arias Henao Ph.D en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Coordinador de editores: Mg. Juan María Cuevas. Magíster en Educación, Universidad Pedagógica Nacional. Plataformas electrónicas: Ingeniero Industrial Alejandro Rincón. Magíster (c) en Logística, Universidad Militar Nueva Granada COMITÉ CIENTÍFICO / EDITORIAL: Carlos Escudé (Argentina/España) Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Yale, Estados Unidos. Wolf Grabnedorff (Alemania) Doctor honoris causa por la Universidad Johannes-Guternberg de Maguncia, Alemania. Gladys Lechini (Argentina) Doctora en Sociología de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Hector Luis Saint-Pierre (Brasil) Doctor en Filosofía Política por la Univerisdad Estadual de Campinas y posdoctor por la Universidad Autónoma de México. Alejo Vargas Velásquez (Colombia) Doctor en Ciencia Política por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. REVISTA DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD Vol. -

Sander Vandamme
UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN ‘Maras’ en ‘Comandos’: Gevangenis, Hospitaal of Dood. Historische schets van (jongeren)bendes in Latijns-Amerika en de functie van geweld Wetenschappelijke verhandeling Aantal woorden: 23790 Sander Vandamme MASTERPROEF MANAMA CONFLICT AND DEVELOPMENT PROMOTOR : PROF. DR. AN VRANCKX COMMISSARIS : PROF. DR. TIMOTHY RAEYMAEKERS COMMISSARIS : DR. SIGRID VERTOMMEN ACADEMIEJAAR 2009 - 2010 “Aqui es pura vida loca, jomi” 1 1 Soundtrack TRES CORONAS, La Vida Loca . In: C.POVEDA, La vida loca , Documentaire, [2008]. 2 Abstract In het eerste deel van dit werk wordt een historische schets weergegeven van enkele belangrijke (jongeren)bendes in Latijns-Amerika. Er is aandacht voor de evolutie bij bendes in Centraal-Amerika en hun brongroeperingen in de Verenigde Staten, voornamelijk de Mara Salvatrucha en 18 th Street Gang. Deze worden naast Braziliaanse gevangenisbendes geplaatst, het Comando Vermelho en het Primeiro Comando da Capital, en daaruit blijkt duidelijk dat er enige gelijkenissen bestaan tussen deze twee bendes. Niettegenstaande hun verschillend ontstaan, de Maras ontstonden op straat en de Comandos in de gevangenis, kan er gezien worden dat dit vandaag nog weinig invloed heeft omdat de Maras gevangenissen ingepalmd hebben en de Comandos straten onveilig maken. De jeugdige Maras werden ouder en de oude Comandos trokken meer jongeren aan. Verschillen zijn te erkennen in de organisatiestructuur van de bendes, waarbij de Comandos hiërarchischer opgebouwd zijn en Maras eerder via een horizontale structuur geleid worden. Gelijkenissen zijn ook te vinden in het geweld veroorzaakt door deze bendes en de repressieve reactie daartegen van de verschillende overheden. In het tweede deel van dit werk wordt onderzocht vanwaar dit geweld komt en welke functie het heeft. -
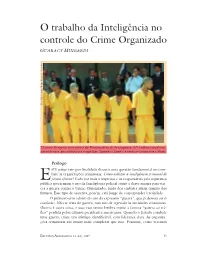
The Role of Intelligence Work in the Control of Organized Crime
O trabalho da Inteligência no controle do Crime Organizado GUARACY MINGARDI 6.8.2004 Folha Imagem - / Foto Edson Silva Detentos do regime semi-aberto da Penitenciária de Araraquara (SP) exibem o uniforme amarelo-ouro, que substituiu a roupa bege. Segundo o Estado, a nova cor é mais viva e alegre. Prólogo STE artigo tem por finalidade discutir uma questão fundamental no com- bate às organizações criminosas: Como utilizar a inteligência criminal de Eforma efetiva? Cada vez mais a imprensa e os responsáveis pela segurança pública apresentam o uso da Inteligência policial como a chave mestra para ven- cer a guerra contra o Crime Organizado, tanto dos embates atuais quanto dos futuros. Esse tipo de assertiva, porém, está longe de corresponder à realidade. O primeiro erro advém do uso da expressão “guerra”, que já denota certa confusão. Não se trata de guerra, mas sim de repressão às atividades criminosas. Guerra é outra coisa, e usar esse termo lembra muito a famosa “guerra ao trá- fico” perdida pelos últimos presidentes americanos. Quando o Estado combate uma guerra, existe um inimigo identificável, com liderança clara. As organiza- ções criminosas são muito mais complexas que isso. Possuem, como veremos ESTUDOS AVANÇADOS 21 (61), 2007 51 adiante, liderança fluida, são muito adaptáveis e estão de tal forma relacionadas com o aparelho de Estado que se torna difícil mirar um sem acertar o outro. Outro erro crasso é considerar que a Inteligência tem o poder de, por si só, vencer a tal “guerra”. Mesmo nos conflitos entre nações o uso da Inteligên- cia sempre foi apenas um dos fatores que determinaram a vitória ou derrota. -

Praying Against Worldwide Criminal Organizations.Pdf
o Marielitos · Detroit Peru ------------------------------------------------- · Filipino crime gangs Afghanistan -------------------------------------- o Rathkeale Rovers o VIS Worldwide § The Corporation o Black Mafia Family · Peruvian drug cartels (Abu SayyafandNew People's Army) · Golden Crescent o Kinahan gang o SIC · Mexican Mafia o Young Boys, Inc. o Zevallos organisation § Salonga Group o Afridi Network o The Heaphys, Cork o Karamanski gang § Surenos or SUR 13 o Chambers Brothers Venezuela ---------------------------------------- § Kuratong Baleleng o Afghan drug cartels(Taliban) Spain ------------------------------------------------- o TIM Criminal o Puerto Rican mafia · Philadelphia · TheCuntrera-Caruana Mafia clan § Changco gang § Noorzai Organization · Spain(ETA) o Naglite § Agosto organization o Black Mafia · Pasquale, Paolo and Gaspare § Putik gang § Khan organization o Galician mafia o Rashkov clan § La ONU o Junior Black Mafia Cuntrera · Cambodian crime gangs § Karzai organization(alleged) o Romaniclans · Serbian mafia Organizations Teng Bunmaorganization § Martinez Familia Sangeros · Oakland, California · Norte del Valle Cartel o § Bagcho organization § El Clan De La Paca o Arkan clan § Solano organization Central Asia ------------------------------------- o 69 Mob · TheCartel of the Suns · Malaysian crime gangs o Los Miami o Zemun Clan § Negri organization Honduras ----------------------------------------- o Mamak Gang · Uzbek mafia(Islamic Movement of Uzbekistan) Poland ----------------------------------------------- -

MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Assis
MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Assis/SP 2018 MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Projeto de pesquisa apresentado ao curso de Direito do Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis – IMESA e a Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA, como requisito parcial à obtenção do Certificado de Conclusão. Orientando (a): Marco Antônio de Oliveira Orientador (a): Carlos Ricardo Fracasso Assis/SP 2018 FICHA CATALOGRÁFICA O48o OLIVEIRA, Marco Antônio de. Organização criminosa / Marco Antônio de Oliveira.– Assis, 2018. 50p. Trabalho de conclusão do curso (Direito). – Fundação Educacional do Município de Assis-FEMA Orientador: Ms. Carlos Ricardo Fracasso 1. Organização Criminosa CDD341.5 ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis, como requisito do Curso de Graduação, avaliado pela seguinte comissão examinadora: Orientador: Carlos Ricardo Fracasso Examinador: Assis/SP 2018 DEDICATÓRIA Dedico este trabalho primeiramente a DEUS, que me proporcionou saúde e capacidade intelectual para realização do mesmo. A minha família, minha mãe Vanderli Rodrigues que nunca mediu esforços para me apoiar e me ajudar nos estudos e em tudo na vida, além do meu pai José Marcos, que sempre me incentivou e me instruiu na faculdade e no trabalho me direcionando para o crescimento. A minha namorada, Beatriz Ferreira, que sempre esteve ao me lado e acreditou em mim. E ainda ao meu irmão Daniel de Oliveira, que está na luta comigo na área do Direito. AGRADECIMENTOS Agradeço ao meu orientador Professor Carlos Ricardo Fracasso que me ajudou com a elaboração deste trabalho, e sempre esteve por perto dando uma força. -

Illicit Drug Markets in the Cities of São Paulo and Rio De Janeiro
Movement and death: illicit drug markets in the cities of São Paulo and Rio De Janeiro: Movimento e Morte: o tráfico de drogas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro LSE Research Online URL for this paper: http://eprints.lse.ac.uk/101056/ Version: Published Version Article: Veloso Hirata, Daniel and Cristoph Grillo, Carolina (2019) Movement and death: illicit drug markets in the cities of São Paulo and Rio De Janeiro: Movimento e Morte: o tráfico de drogas nas cidades de São Pauloe Rio de Janeiro. Journal of Illicit Economies and Development, 1 (2). pp. 122-133. ISSN 2516-7227 10.31389/jied.26 Reuse This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY) licence. This licence allows you to distribute, remix, tweak, and build upon the work, even commercially, as long as you credit the authors for the original work. More information and the full terms of the licence here: https://creativecommons.org/licenses/ [email protected] https://eprints.lse.ac.uk/ Hirata, DV and Grillo, CC. 2019. Movement and Death: Illicit Drug Markets in the Cities of São Paulo and Rio De Janeiro. Journal of Illicit Economies and Development, 1(2), pp. 122–133. DOI: https://doi.org/10.31389/jied.26 RESEARCH Movement and Death: Illicit Drug Markets in the Cities of São Paulo and Rio De Janeiro Daniel Veloso Hirata1 and Carolina Christoph Grillo2,3 1 Department of Sociology and Social Sciences Methodology, Universidade Federal Fluminense, BR 2 Department of Social Studies, Universidade Federal Fluminense, BR 3 Sociology Graduate Program, Universidade Federal Fluminense, BR Corresponding author: Daniel Veloso Hirata ([email protected]) This article analyzes the relationship between violence and the illicit drug market by comparing retail drug trade in the favelas and peripheral neighborhoods of the cities of São Paulo and Rio de Janeiro. -

Crime and Drug Trafficking Occur Along the Borders with Venezuela, Colombia, Peru, and Bolivia
Riskline / Country Report / 29 August 2021 BRAZIL Overall risk level Extreme Defer non-essential travel Extremely dangerous and presents unpredic- table security risks Chaotic; travel impossible Overview Emergency Numbers Medical 192 Upcoming Events 07 September 2021 - 08 September 2021 Moderate risk: Rallies expected on Independence Day on 7 September Local sources indicated that truckers plan on rallying in Brasilia on 7 September in a show of support for President Jair Bolsonaro on Independence Day. Similar rallies and celebrations of the day are expected nationwide. 07 September 2021 - 08 September 2021 Medium risk: Pro- and anti-government rallies planned nationwide on 7 September - Update Supporters of President Jair Bolsonaro called for rallies in Brasília and São Paulo's Avenida Paulista to mark Independence Day on 7 September. Counter- demonstrators will protest in São Paulo's Vale do Anhangabaú from 14:00 local time (17:00 GMT), to demand the resignation of President Bolsonaro over his handling of the COVID-19 pandemic. Related rallies and celebrations are expected nationwide. Riskline / Country Report / 29 August 2021 / Brazil 2 Travel Advisories Medium risk: Western Amazon region Travellers are advised to exercise caution when travelling to Brazil's western Amazon region on an ongoing basis because of a migrant crisis and transnational criminal activity. The security situation in Brazil's western Amazon region has deteriorated amid an ongoing economic and political crisis in neighbouring Venezuela. The Venezuelan emigrant population continued to grow during 2019, reaching upwards of 20 percent of the population in Roraima state. Although thousands of Venezuelans have since returned from Brazil to Venezuela due to the COVID-19 outbreak amidst related border closures, around 30,000 others remain in Roraima's capital Boa Vista - many of them on the streets, while unemployment, social unrest, violence and lack of health and education infrastructure are on rise due to the crisis. -

Drugs and Drug Trafficking in Brazil: Trends and Policies
DRUGS AND DRUG TRAFFICKING IN BRAZIL: TRENDS AND POLICIES Drugs and Drug Trafficking in Brazil: Trends and Policies Paula Miraglia Public Sector Senior Specialist Improving Global Drug Policy: Comparative Perspectives and UNGASS 2016 EXECUTIVE SUMMARY Key Findings • Brazil is one of the most violent countries in the world with a national homicide rate of 27.1 per 100,000 inhabitants. A large part of this violence and criminality can be linked to arms and drug trafficking operations by organized crime groups. • Brazil’s increased domestic drug consumption in recent years has affected the domestic drug market and changed the structure, profile, and modes of operation of organized crime groups. • In 2006, Brazil adopted a new drug law intended to make a clear and definitive distinc- tion between drug users and dealers. However, a discriminatory culture in the justice system, combined with great discretion given to the authorities to classify offenses as trafficking, resulted in increased imprisonment of addicts. • Today, Brazil has the world’s fourth largest imprisoned population, which points to the need for alternatives in dealing with violence and crime, particularly when related to drug consumption. • Brazil boasts innovative programs, such as the São Paulo de Braços Abertos program and the Unidades de Polícia Pacificadora in Rio de Janeiro, but each of these faces com- plex challenges to their success. Policy Recommendations • Brazil needs criminal justice system reform, together with improved drug legislation that classifies offenses more precisely, to minimize the discretionary imprisonment of addicts. • Brazil should develop improved mechanisms to prevent police brutality and lethality, and should also adopt reforms to improve police efficiency and effectiveness.