Em Louis Lavelle, Benedetto Croce, Luigi Pareyson E Martin Heidegger
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Act of Presence
The Act of Presence Key Readings from the Philosophy of Louis Lavelle translations, introduction, forewords and page-notes by Robert Jones All Rights Reserved. Copyright © 1993-2010 by Robert Jones 20 Webb Court, Bingil Bay, Queensland, Australia 4852 No portion of the translations, introduction, forewords or page-notes may be reproduced by whatever means without permission of the copyright owner. ii All Rights Reserved. Copyright © 1993-2009 by Robert Jones 20 Webb Court, Bingil Bay, Queensland, Australia 4852 No portion of the translations, introduction, forewords or page-notes may be reproduced by whatever means without permission of the copyright owner. All Rights Reserved. Copyright © 1993-2010 by Robert Jones 20 Webb Court, Bingil Bay, Queensland, Australia 4852 No portion of the translations, introduction, forewords or page-notes may be reproduced by whatever means without permission of the copyright owner. iii For Philippe Chinkirch All Rights Reserved. Copyright © 1993-2010 by Robert Jones 20 Webb Court, Bingil Bay, Queensland, Australia 4852 No portion of the translations, introduction, forewords or page-notes may be reproduced by whatever means without permission of the copyright owner. iv Acknowledgments As signalled on the dedication page, main thanks go to my friend Philippe Chinkirch who introduced me to Lavelle during his stay in Australia in the early 1990’s. My first translations of the philosopher, most of them brief, date back to that time and were incorporated in various articles that appeared in the United States and Japan. Later, after M. Chinkirch had returned to Paris, he continued to feed my interest by sending hard-to- get texts. -

The Clever Body
University of Calgary PRISM: University of Calgary's Digital Repository University of Calgary Press University of Calgary Press Open Access Books 2006 The Clever Body Csepregi, Gabor University of Calgary Press Csepregi, Gabor. "The Clever Body", University of Calgary Press, Calgary, Alberta, 2006. http://hdl.handle.net/1880/48917 book http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ Attribution Non-Commercial No Derivatives 3.0 Unported Downloaded from PRISM: https://prism.ucalgary.ca University of Calgary Press www.uofcpress.com THE CLEVER BODY by Gabor Csepregi ISBN 978-1-55238-594-4 THIS BOOK IS AN OPEN ACCESS E-BOOK. It is an electronic version of a book that can be purchased in physical form through any bookseller or on-line retailer, or from our distributors. Please support this open access publication by requesting that your university purchase a print copy of this book, or by purchasing a copy yourself. If you have any questions, please contact us at [email protected] Cover Art: The artwork on the cover of this book is not open access and falls under traditional copyright provisions; it cannot be reproduced in any way without written permission of the artists and their agents. The cover can be displayed as a complete cover image for the purposes of publicizing this work, but the artwork cannot be extracted from the context of the cover of this specific work without breaching the artist’s copyright. COPYRIGHT NOTICE: This open-access work is published under a Creative Commons licence. This means that you are free to copy, distribute, display or perform the work as long as you clearly attribute the work to its authors and publisher, that you do not use this work for any commercial gain in any form, and that you in no way alter, transform, or build on the work outside of its use in normal academic scholarship without our express permission. -

Metaphysics Today and Tomorrow*
1 Metaphysics Today and Tomorrow* Raphaël Millière École normale supérieure, Paris – October 2011 Translated by Mark Ohm with the assistance of Leah Orth, Jon Cogburn, and Emily Beck Cogburn “By metaphysics, I do not mean those abstract considerations of certain imaginary properties, the principal use of which is to furnish the wherewithal for endless dispute to those who want to dispute. By this science I mean the general truths which can serve as principles for the particular sciences.” Malebranche Dialogues on Metaphysics and Religion 1. The interminable agony of metaphysics Throughout the twentieth century, numerous philosophers sounded the death knell of metaphysics. Ludwig Wittgenstein, Rudolf Carnap, Martin Heidegger, Gilbert Ryle, J. L. Austin, Jacques Derrida, Jürgen Habermas, Richard Rorty, and, henceforth, Hilary Putnam: a great many tutelary figures have extolled the rejection, the exceeding, the elimination, or the deconstruction of first philosophy. All these necrological chronicles do not have the same radiance, the same seriousness, nor the same motivations, but they all agree to dismiss the discipline, which in the past was considered “the queen of the sciences”, with a violence at times comparable to the prestige it commanded at the time of its impunity. Even today, certain philosophers hastily spread the tragic news with contempt for philosophical inquiry, as if its grave solemnity bestowed upon it some obviousness. Thus, Franco Volpi writes: ‘Grand metaphysics is dead!’ is the slogan which applies to the majority of contemporary philosophers, whether continentals or of analytic profession. They all treat metaphysics as a dead dog.1 In this way, the “path of modern thought” would declare itself vociferously “anti- metaphysical and finally post-metaphysical”. -

University Education in Quebec's Federal Prisons: Report and Recommendations
ARCHIVED - Archiving Content ARCHIVÉE - Contenu archivé Archived Content Contenu archivé Information identified as archived is provided for L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée reference, research or recordkeeping purposes. It est fournie à des fins de référence, de recherche is not subject to the Government of Canada Web ou de tenue de documents. Elle n’est pas Standards and has not been altered or updated assujettie aux normes Web du gouvernement du since it was archived. Please contact us to request Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour a format other than those available. depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous. This document is archival in nature and is intended Le présent document a une valeur archivistique et for those who wish to consult archival documents fait partie des documents d’archives rendus made available from the collection of Public Safety disponibles par Sécurité publique Canada à ceux Canada. qui souhaitent consulter ces documents issus de sa collection. Some of these documents are available in only one official language. Translation, to be provided Certains de ces documents ne sont disponibles by Public Safety Canada, is available upon que dans une langue officielle. Sécurité publique request. Canada fournira une traduction sur demande. 1 University Education in Quebec's Federal Prisons: Report and Recommendations 1 1 Lucien Morin Ph.D. Professor of Educational Philosophy Department of Education University of Quebec at Trois-Rivieres August 1979 HV 8883.3 .C2 M6 1979 \-\/ PA 4 HI n79 /UNIVERSITY EDUCATION IN HI QUEBEC'S FEDERAL PRISONS: REPORT AND RECOMMENDATIONS \ t I 8-ireii; M N.SIRV OF SOL ICITO G:NERAL R AU,' 23 190 BIBLI teiNSIte. -

Preliminary Draft: Comments Invited
The Act of Presence Key Readings from the Philosophy of Louis Lavelle translations, introduction, forewords and page-notes by Robert Jones ii All Rights Reserved. Copyright © 1993-2012 by Robert Jones 20 Webb Court, Bingil Bay, Queensland, Australia 4852 No portion of the translations, introduction, forewords or page-notes may be reproduced by whatever means without permission of the copyright owner. iii For Philippe Chinkirch iv Acknowledgments As signalled on the dedication page, main thanks go to my friend Philippe Chinkirch who introduced me to Lavelle during his stay in Australia in the early 1990’s. My first translations of the philosopher, most of them brief, date back to that time and were incorporated in various articles that appeared in the United States and Japan. Later, after M. Chinkirch had returned to Paris, he continued to feed my interest by sending hard-to- get texts. At some point I began translating entire chapters from the accumulated works. M. Chinkirch carefully read the drafts and responded to them with many useful suggestions. When a sizeable body of drafts had been produced he approached the Association Louis Lavelle in Paris on my behalf for expert comment. The Association replied with an invitation to publish the translations on its website until a suitable book publisher could be found. In this connection special thanks go to Alain Panero, long-time Secretary of the Association, who shared the drafts with his colleagues, gave his perspective on difficult questions and put manuscripts on-line as soon as revisions were made. Due to the addition of further translations, his assistance has continued over many years. -
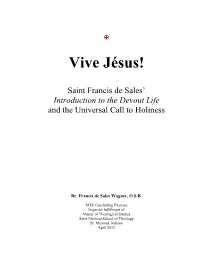
Saint Francis De Sales' Introduction to the Devout Life and the Universal
Vive Jésus! Saint Francis de Sales’ Introduction to the Devout Life and the Universal Call to Holiness Br. Francis de Sales Wagner, O.S.B. MTS Concluding Exercise In partial fulfillment of Master of Theological Studies Saint Meinrad School of Theology St. Meinrad, Indiana April 2012 CONTENTS Introduction 3 Heart to heart: Holiness and St. Francis de Sales 6 People of God: Called from the beginning to be holy 9 Scriptural Foundation 10 France in the 16th and 17th centuries 12 The Second Vatican Council’s Lumen Gentium 15 Giving flesh to the Word—in Francis’ time and ours 20 Love casts out fear: How Francis’ outlook developed 23 Introduction to the Devout Life 28 Holiness: Devotion from the heart 30 The ladder of holiness 33 Conclusion: Living Jesus today 37 Bibliography 42 2 There are saints among us. But we often fail to recognize them... We invoke them as though they were all in heaven and able to bestow on us only invisible and supernatural favors. It would seem to be a presumption on our part to imitate them… It seems ridiculous that someone whom we have seen and touched, whose weaknesses, foibles and faults we have observed, whose life has been involved in our life and whose brow was adorned by no halo, should have trod the path of holiness before our eyes without our having any inkling of it…We must learn to recognize the saints who live beside us and even the saint who is within us. The least movement of love is enough to reveal the saint in us and in others… It is courage that makes the saint; and courage is no more than confidence in grace that comes from on high and is always available. -

2021 APA Eastern Division Meeting Program
The American Philosophical Association EASTERN DIVISION ONE HUNDRED SEVENTEENTH ANNUAL MEETING PROGRAM VIRTUAL MEETING JANUARY 7 – 9, 2021 AND JANUARY 14 – 16, 2021 Use Coupon Code ZAPE21 to Save 30% (PB)/50% (HC) THROUGH FEBRUARY 16, 2021 ORDER ONLINE AT WWW.SUNYPRESS.EDU Critique in German Philosophy The Aesthetic Clinic From Kant to Critical Theory Feminine Sublimation in Contemporary María del Rosario Acosta López and Writing, Psychoanalysis, and Art J. Colin McQuillan, editors Fernanda Negrete The Primary Way The Disintegration of Community Philosophy of Yijing On Jorge Portilla’s Social and Political Chung-ying Cheng Philosophy, With Translations Foreword by Robert Cummings Neville of Selected Essays Carlos Alberto Sánchez and Jouissance Francisco Gallegos, editors A Lacanian Concept Néstor A. Braunstein Endangered Excellence Translation and Introduction by On the Political Philosophy of Aristotle Silvia Rosman Pierre Pellegrin Translated by Anthony Preus Epistemic Responsibility Lorraine Code A World Not Made for Us Topics in Critical Environmental Philosophy Manufactured Uncertainty Keith R. Peterson Implications for Climate Change Skepticism Recovering the Liberal Spirit Lorraine Code Nietzsche, Individuality, and Spiritual Freedom On Metaphysical Necessity Steven F. Pittz Essays on God, the World, Morality, and Democracy Adult Life Franklin I. Gamwell Aging, Responsibility, and the Pursuit of Happiness Carl Schmitt between John Russon Technological Rationality and Theology Modernity as Exception The Position and Meaning and Miracle -

Pico Della Mirandola Descola Gardner Eco Vernant Vidal-Naquet Clément
George Hermonymus Melchior Wolmar Janus Lascaris Guillaume Budé Peter Brook Jean Toomer Mullah Nassr Eddin Osho (Bhagwan Shree Rajneesh) Jerome of Prague John Wesley E. J. Gold Colin Wilson Henry Sinclair, 2nd Baron Pent... Olgivanna Lloyd Wright P. L. Travers Maurice Nicoll Katherine Mansfield Robert Fripp John G. Bennett James Moore Girolamo Savonarola Thomas de Hartmann Wolfgang Capito Alfred Richard Orage Damião de Góis Frank Lloyd Wright Oscar Ichazo Olga de Hartmann Alexander Hegius Keith Jarrett Jane Heap Galen mathematics Philip Melanchthon Protestant Scholasticism Jeanne de Salzmann Baptist Union in the Czech Rep... Jacob Milich Nicolaus Taurellus Babylonian astronomy Jan Standonck Philip Mairet Moravian Church Moshé Feldenkrais book Negative theologyChristian mysticism John Huss religion Basil of Caesarea Robert Grosseteste Richard Fitzralph Origen Nick Bostrom Tomáš Štítný ze Štítného Scholastics Thomas Bradwardine Thomas More Unity of the Brethren William Tyndale Moses Booker T. Washington Prakash Ambedkar P. D. Ouspensky Tukaram Niebuhr John Colet Abū Rayhān al-Bīrūnī Panjabrao Deshmukh Proclian Jan Hus George Gurdjieff Social Reform Movement in Maha... Gilpin Constitution of the United Sta... Klein Keohane Berengar of Tours Liber de causis Gregory of Nyssa Benfield Nye A H Salunkhe Peter Damian Sleigh Chiranjeevi Al-Farabi Origen of Alexandria Hildegard of Bingen Sir Thomas More Zimmerman Kabir Hesychasm Lehrer Robert G. Ingersoll Mearsheimer Ram Mohan Roy Bringsjord Jervis Maharaja Sayajirao Gaekwad III Alain de Lille Pierre Victurnien Vergniaud Honorius of Autun Fränkel Synesius of Cyrene Symonds Theon of Alexandria Religious Society of Friends Boyle Walt Maximus the Confessor Ducasse Rāja yoga Amaury of Bene Syrianus Mahatma Phule Chhatrapati Shivaji Maharaj Qur'an Cappadocian Fathers Feldman Moncure D. -

Estudos Sobre a Filosofia De Louis Lavelle
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Américo Pereira Estudos Sobre a Filosofia de Louis Lavelle LUSOSOFIA:PRESS Covilhã, 2013 i i i i i i i i i i i i i i i i FICHA TÉCNICA Título: Estudos Sobre a Filosofia de Louis Lavelle Autor: Américo Pereira Colecção: Livros LUSOSOFIA Design da Capa: Madalena Sena Paginação: Filomena S. Matos Universidade da Beira Interior Covilhã, 2013 ISBN: 978-989-20-4398-2 i i i i i i i i i i i i i i i i Índice Apresentação1 1 Louis Lavelle na senda de uma milenar tradição metafísica5 2 Fundamentação ontológica da ética na obra de Louis Lavelle 85 3 Da Ética em Louis Lavelle 93 3.1 Filosofia como Escalada..................... 93 3.2 Do Acto da Pessoa........................ 96 3.3 Da Única Alternativa Ontológica: Acto ou Nada......... 99 3.4 A Construção Ética do Acto Humano............... 101 3.5 Ética, Ontologia e Antropologia................. 101 3.6 Do Valor como Transcendental Não-subjectivo.......... 104 3.7 O Bem como Único Verdadeiro Real............... 105 3.8 O Amor como Único Acto Real.................. 107 3.9 Da Angústia como Tensão Infinita para uma Plenitude Infinita- mente distante.......................... 110 4 Da posteridade do pensamento de Lavelle 113 i i i i i i i i i i i i i i i i i Apresentação Desde os mais remotos tempos, em que a humanidade surgiu não como coisa material magicamente arrancada a uma materialidade biológica absolutamente não-humana, mas como acto propriamente lógico, isto é, de colheita de sen- tido, que a afirmação da mesma humanidade passa pela posição de um «logos» que transcende a mera horizontalidade da materialidade sensível das coisas, apontando para uma transcendência de possibilidades, fonte de todo o movi- mento quer humano quer trans-humano. -
Table Des Matieres Volume I
TABLE DES MATIERES VOLUME I Avant-propos ............................................................................................ 17 Séance d’ouverture Mot de bienvenue du président du comité organisateur ...................... 27 Venant Cauchy, Montréal Allocution du vice-premier ministre du Québec ....................................... 29 Jacques-Yvan Morin Président d’honneur de la séance Allocution du recteur de l’Université de Montréal .............................. 33 Paul Lacoste Allocution du représentant de l’UNESCO ............................................ 37 André Bertels, Paris Allocution du président de la Fédération internationale des sociétés de philosophie ................................................................ 39 Alwin Diemer, Düsseldorf Conférence inaugurale Mutations culturelles et philosophie ..................................................... 45 Fernand Dumont, Québec Séance plénière I DÉTERMINATION PHILOSOPHIQUE DE L’IDÉE DE CULTURE Introduction ............................................................................................... 59 Évandro Agazzi, Fribourg Nature, Intellect and Culture ................................................................... 65 John Passmore, Canberra 644 PHILOSOPHIE ET CULTURE Détermination philosophique de l’idée de culture ...................................... 73 Emmanuel Lévinas, Paris Pluralité des cultures : l’enjeu égalitaire ...................................................... 83 Louise Marcil-Lacoste, Montréal Séance plénière II CULTURES ET VALEURS -

With an Application to Brancusi's Semiotic Aesthetics
Sign and Aesthetic Systems (With an Application to Brancusi’s Semiotic Aesthetics) Semiotic aesthetics, even if parallel to numerical aesthetics, was developed mainly as an analytical method. In Morris’s attempt, terms such as icon and index, sometimes symbol (but not in the sense Peirce introduced), appear here and there. Cassirer and Langer worked on the aesthetics of symbolic forms, while others, primarily attracted by the dyadic philosophy expressed in de Saussure’s concept, attempted applications now included in structuralist-aesthetic or semiological approaches. I. Semiotic aesthetics must define, in specific terms, the aesthetic state (AS) and aesthetic value (AV). That is, it has to render explicit the relation between the repertory—considered on the macro-aesthetic level—and the interpretant, and to define aesthetic value as dependent upon the way signs participate in the aesthetic object. According to Bense (1971), these two principle aspects might be expressed through: ASsem = F(Interpretant, Repertory) () AVsem = F(supericonicity) () At the basis of this attempt is Peirce’s representation of the sign. Let us add here two of his statements: “Esthetics, therefore, although I have terribly neglected it, appears to be possibly the first indispensable propedeutic to logic, and the logic of esthetics to be a distinct part of the science of logic that ought not be omitted.” (2.199) “Logic, in its sense is, as I believe I have shown, only another name of semiotic, the quasinecessary, or formal doctrine of signs.” (2. 227) If so, then a) semiotic aesthetics is only part of semiotics in general; b) semiotic aesthetics can contribute to the progress (“indispensable propedeutic”) of semiotics in general. -
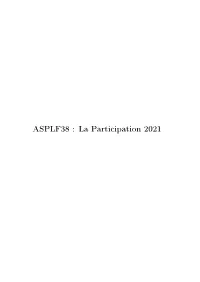
ASPLF38 : La Participation 2021 Table Des Matières
ASPLF38 : La Participation 2021 Table des matières Ontologie 6 Les réseaux sociaux : quel rapport avec l’être ?, Aubin Kisito Bessala.......7 Entre élan et dénouement : le télos de la participation, Ana Bazac........8 L’amour du divin : comment peut-il être une participation ontologique ?, Atia Benatia.........................................9 Penser la participation : les enjeux noétiques, Claire Bressolette.......... 10 Une physique de la participation ? Aristote lecteur du Phédon, Philippe-Jean Casadebaig....................................... 11 ”Methexis zum Finsternis", La participation aux ténèbres dans la Dialectique néga- tive de Theodor W. Adorno, Christophe Calame................... 12 La participation des hommes au transcendant dans la philosophie et la mystique platonicienne et néoplatonicienne, Niadi-Corina Cernica.............. 13 La dialectique de la participation dans l’œuvre de Whitehead, Jean Devos.... 14 Partage, Participation, Déconstruction, Giustino De Michele............ 15 Platon contre Platon ou les limites de la participation, Marius Dumitrescu.... 16 Lecture 2.0 de l’allégorie de la caverne, Mohamed Al Amine Fofana [et al.].... 17 Enjeux politiques de l’ontologie : un argument en faveur de la démocratie radi- cale, Eric Fabri..................................... 18 La participation dans l’ontologie de Giordano Bruno, Maureen Garzend..... 19 La participation platonicienne et les voies sapientiales de l’amour, Mona Gradescu 20 1 Etre et devenir : l’identité dans l’ontologie d’Héraclite, N’dri Solange Kouame.. 21 La participation, entre harmonie et antagonisme, Virgil Cristian Lenoir...... 22 La Participation lavelienne a-t-elle une signification actuelle ?, Masataka Muramatsu 23 Voies d’intelligence. Adhaesio et assentiment participatif, Ilaria Malaguti..... 24 En-deçà de l’idée platonicienne de "participation" : L’empirisme du dernier Schelling à partir de sa lecture d’Aristote, Masumi Nagasaka................