Aspectos Prosódicos Da Língua Ikpeng
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Prayer Cards | Joshua Project
Pray for the Nations Pray for the Nations Agavotaguerra in Brazil Aikana, Tubarao in Brazil Population: 100 Population: 300 World Popl: 100 World Popl: 300 Total Countries: 1 Total Countries: 1 People Cluster: Amazon People Cluster: South American Indigenous Main Language: Portuguese Main Language: Aikana Main Religion: Ethnic Religions Main Religion: Ethnic Religions Status: Minimally Reached Status: Significantly reached Evangelicals: 1.00% Evangelicals: 25.0% Chr Adherents: 35.00% Chr Adherents: 50.0% Scripture: Complete Bible Scripture: Portions www.joshuaproject.net www.joshuaproject.net Source: Anonymous "Declare his glory among the nations." Psalm 96:3 "Declare his glory among the nations." Psalm 96:3 Pray for the Nations Pray for the Nations Ajuru in Brazil Akuntsu in Brazil Population: 300 Population: Unknown World Popl: 300 World Popl: Unknown Total Countries: 1 Total Countries: 1 People Cluster: South American Indigenous People Cluster: Amazon Main Language: Portuguese Main Language: Language unknown Main Religion: Ethnic Religions Main Religion: Ethnic Religions Status: Unreached Status: Minimally Reached Evangelicals: 0.00% Evangelicals: 0.10% Chr Adherents: 5.00% Chr Adherents: 20.00% Scripture: Complete Bible Scripture: Unspecified www.joshuaproject.net www.joshuaproject.net "Declare his glory among the nations." Psalm 96:3 "Declare his glory among the nations." Psalm 96:3 Pray for the Nations Pray for the Nations Amanaye in Brazil Amawaka in Brazil Population: 100 Population: 200 World Popl: 100 World Popl: 600 Total Countries: -
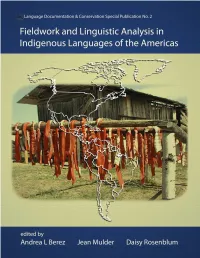
Fieldwork and Linguistic Analysis in Indigenous Languages of the Americas
Fieldwork and Linguistic Analysis in Indigenous Languages of the Americas edited by Andrea L. Berez, Jean Mulder, and Daisy Rosenblum Language Documentation & Conservation Special Publication No. 2 Published as a sPecial Publication of language documentation & conservation language documentation & conservation Department of Linguistics, UHM Moore Hall 569 1890 East-West Road Honolulu, Hawai‘i 96822 USA http://nflrc.hawaii.edu/ldc university of hawai‘i Press 2840 Kolowalu Street Honolulu, Hawai‘i 96822-1888 USA © All texts and images are copyright to the respective authors. 2010 All chapters are licensed under Creative Commons Licenses Cover design by Cameron Chrichton Cover photograph of salmon drying racks near Lime Village, Alaska, by Andrea L. Berez Library of Congress Cataloging in Publication data ISBN 978-0-8248-3530-9 http://hdl.handle.net/10125/4463 Contents Foreword iii Marianne Mithun Contributors v Acknowledgments viii 1. Introduction: The Boasian tradition and contemporary practice 1 in linguistic fieldwork in the Americas Daisy Rosenblum and Andrea L. Berez 2. Sociopragmatic influences on the development and use of the 9 discourse marker vet in Ixil Maya Jule Gómez de García, Melissa Axelrod, and María Luz García 3. Classifying clitics in Sm’algyax: 33 Approaching theory from the field Jean Mulder and Holly Sellers 4. Noun class and number in Kiowa-Tanoan: Comparative-historical 57 research and respecting speakers’ rights in fieldwork Logan Sutton 5. The story of *o in the Cariban family 91 Spike Gildea, B.J. Hoff, and Sérgio Meira 6. Multiple functions, multiple techniques: 125 The role of methodology in a study of Zapotec determiners Donna Fenton 7. -

Análise Do Sistema De Marcação De Caso Nas Orações Independentes Da Língua Ikpeng
CILENE CAMPETELA Análise do Sistema de Marcação de Caso nas Orações Independentes da Língua Ikpeng Campinas UNICAMP 1997 CILENE CAMPETELA Análise do Sistema de Marcação de Caso nas Orações Independentes da Língua Ikpeng Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Lingüística do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Lingüística. Orientadora: Prof' Dra. Lucy Seki Campinas UNICAMP 1997 FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA IEL UNICAMP I :=a•npe tela, C 11 ene j,. 1 ~.::a l~~~~ ~ná!1se ~c ststema de marcaç~o de ca3c n.:3s or·açÕes Independentes ~a l ;n;;:;<.i1 li<p-::13 li Cka~1bl I ~t!ene Campetela -- Camptnas, li ii SP [s n J, 1'197 L'I Q,-tentador Luc; Sek1 I! D1ssertaç~o (mestrado. - Ur:Jers1dad? ii tadual de Camp1nas, Inst1tuto de Estudos d.> ii Lln:Jua:;:em H !I I.'I !I 1 ·~Jua~ 1ndigenas- ;ramát1ca 2 Lin- :i !i 3uas 1ndigeras- morfologia Seki, Lucy · \li Il Un1~ers1jade Estadual de Campinas ;ns- il , t1tutc de E~tudos da Ltnguagem III Tit~!G 11 ii "!I !i li d ií ~ i ~i'==============================================~d BANCA EXAMINADORA ~ t/-c-!6' Dra. Lucy S~entadora) .ff; 0-.;J __ I 9_}- . --1'e~>iêo Jec __ 4ec7 ~L·-·-·········-··-·· Data de aprovação: __/ __/_ Dedico este trabalho A MINHA FAMÍLIA, À COMUNIDADE IKPENG e a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para a realização desta dissertação. Meus sinceros agradecimentos àLUCYSEKI ao FRANTOMÉ BEZERRA PACHECO (FRAN) ao CACIQUE MELOBO e ao OPORIKE, ao KOROTOwl, IOKORÉ, NAPIKI, MAIUÁ e a todos os meus "professores" Ikpeng SUMÁRIO L INTRODUÇÃO ............................................................................. -

As Divergências Em Análises Fonológicas Para O Ikpeng (Karib) Divergences in Phonological Analysis for Ikpeng (Karib)
DOI: 10.18468/rbli.2018v1n2.p19-35 19 As divergências em análises fonológicas para o Ikpeng (Karib) Divergences in phonological analysis for Ikpeng (Karib) Amanda Dias do Nascimento Universidade Federal do Amapá1 Angela Fabiola Alves Chagas Universide Federal do Pará2 Eduardo Alves Vasconcelos Universiadade Federal do Amapá3 Resumo. Esse estudo tem por objetivo apontar as divergências encontradas nas análises fonológicas para a Língua Ikpeng (Família Karib, ramo pekodiano), que é falada por aproximadamente 500 pessoas que vivem em quatro aldeias no Parque Indígena do Xingu (PIX), Mato Grosso. A fonologia da língua Ikpeng foi discutida por Emmerich (1972), Campetela (1997) e Pachêco (2001). Entre essas análises, há diferenças tanto do número de fonemas como na distribuição de alofones. Em síntese, essas análises divergem quanto: ao status fonológico da consoante [b] e da distribuição dos alofones bilabiais entre /p/ e /w/; o status fonológico dos glides /w/ e /j/; a proposição de um fonema africado /ʧ/; e, por fim, o status da oposição entre as velares /k/ e /g/. Para realizar essa análise, foram utilizados os dados disponíveis nos textos desses pesquisadores, acrescentando exemplos extraídos de dez narrativas tradicionais gravadas por Chagas entre 2009-2015 e transcritas por professores e outros membros da comunidade Ikpeng. Palavras-chave: Língua Ikpeng; Família Karib; Fonologia. Abstract. This study aims to show the differences observed in the phonological analysis for the Ikpeng Language (Karíb Family, Pekodian branch), which is spoken by approximately 500 people who lives in four villages in the Parque Indígena do Xingu (PIX), Mato Grosso. The phonology of the Ikpeng language was discussed by Emmerich (1972), Campetela (1997) and Pachêco (2001). -

Aspectos Prosódicos Da Língua Ikpeng
1 " CILENE CAMEETELA ASPECTOS PROSÓDICOS DA LÍNGUA IKPENG Tese apresentada ao Programa de Pós• Graduação em Lingüística, do Instituto de Estudos da Linguagem, da Universidade Estadual de Campinas, como requisito parcial para obtenção do título de Doutora em Lingüística. Orientadora: Prof' Dra. Lucy Seki Co-orientador: Prof. Dr. Luiz Carlos Cagjiari Campinas UNICAMP 2002 Cl""'\00172188-5 FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA IEL - UNICAMP Campetela, Cilene Cl54a Aspectos prosódicos da língua Ikpeng I Cilene Campetela. - - Campinas, SP: [s.n.], 2002. Orientador: Lucy Seki Co-orientador: Luiz Carlos Cagliari Tese (doutorado)- l)niversidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudos da Linguagem. l. Língua indígena - Ikpeng - Karib. 2. Fonética. 3. Lingüística - Prosódica. I. Seki, Lucy. TI. Cagliari, Luiz Carlos. ill. Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Estudos da Linguagem. IV. Título. ~1~~ ::::;;;.,.a. ~--~ UNICAMP AUTORIZAÇAO PARA QUE A UHICAHP POSSA FORNECER, A P \ ÇO DE CUSTO, COPIAS DA TESE A INTERESSADOS tlome do Aluno: Ciler,e- COii'Y\peJciCil Registro Academfco: qL(5f!LJ6 . " curso: ~i Y'ICjLi,ís-kvCíl (Do u+omdo) , Ho me do _o r f e n ta do r: Lucy ScJ:j ® /L; C~ C:(Â/;L --=---- T1tulo da Dissertaçio ou Tese: '1 1\.sred-os. ?íQsÓdlC:os d-a Língwa IKpen3'' ( O Aluno deveri assina~ um dos .3 f tens abaixo } 1} Autorizo a Unf vcrs idad'!! Estadual de Ca111pf nu, a pa1 desta data, a fornecer a preço de custo, cõpias de minha Olsse1 çio ou Tese a interessados. l3 1 0.2.. t2CO.Z ~docw4:--t~ .> ass f na tu r a doAluno ............................ ' ..................................... " ......... ?l Autorizo a Universidade Estadual de Campinas, & for cer, a partir de dois anos apos esta data, a preço de custo, cõ as de minha Dlsjertaç4o ou Tese a interessados. -

Ikpeng Puron Mïran H������� �� ��
DOI: http://dx.doi.org/10.31513/linguistica.2019.v15n1a25571 Recebido em: 11 de setembro de 2018 | Aceito em: 20 de dezembro de 2018 IKPENG PURON MÏRAN H Angela Fabiola Alves Chagas1 Ayre Txicão (narradora) Kay Txicão (tradutor) e Maiua Txicão (revisor da tradução) RESUMO Neste trabalho, apresentamos uma análise comentada da narrativa ikpeng Puron Mïran “História do sapo”, contada por Ayre Txicão e registrada por nós em 2009. Ikpeng é uma língua karib, falada pelo povo homônimo, que vive no estado de Mato Grosso, na região do médio Xingu. A presente narrativa consiste na explicação dos Ikpeng para o surgimento do Sapo. Além disso, o texto aponta para as restrições alimentares das mulheres durante o período menstrual. Neste caso específi co, a transgressão de um tabu alimentar por uma mulher menstruada fez com que ela se transformasse no primeiro sapo, consequência de sua leviandade. Palavras-chave: Língua Ikpeng; Narrativa Oral; História do Sapo. ABSTRACT This article presents a commented analysis of the Ikpeng narrative Puron Mïran ‘Frog Story’, told by Ayre Txicão and registered in 2009. Ikpeng is a Carib language, spoken by the homonymous people who live in the state of Mato Grosso, in the middle Xingu region. The narrative consists of 1 Doutora em Linguística, professora da Faculdade de Letras (FALE) e do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) da Universidade Federal do Pará. PhD in Linguistics, professor in the College of Letters (FALE) and the Post-Graduate Program in Letters (PPGL) of the Federal University of Pará. Rio de Janeiro | Volume 15 | número 1 | p. -

2021 Daily Prayer Guide for All Latin America People Groups & LR
2021 Daily Prayer Guide for all Latin America People Groups & Least-Reached-Unreached People Groups (LR-UPGs) Source: Joshua Project data, www.joshuaproject.net AGWM ed. 2021 Daily Prayer Guide for all Latin America People Groups & LR-UPGs=Least-Reached--Unreached People Groups. All 49 Latin America countries & all People Groups & LR-UPG are included. LATIN AMERICA SUMMARY: 1,676 total People Groups; 114 total Least-Reached--Unreached People Groups. LR-UPG defin: less than 2% Evangelical & less than 5% total Christian Frontier (FR) definition: 0% to 0.1% Christian Why pray--God loves lost: world UPGs = 7,407; Frontier = 5,042. Downloaded September 2020 from www.joshuaproject.net Color code: green = begin new area; blue = begin new country * * * "Prayer is not the only thing we can can do, but it is the most important thing we can do!" * * * Let's dream God's dreams, and fulfill God's visions -- God dreams of all people groups knowing & loving Him! Revelation 7:9, "After this I looked and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people and language, Why Should We Pray For Unreached People Groups? * Missions & salvation of all people is God's plan, God's will, God's heart, God's dream, Gen. 3:15! * In the Great Commissions Jesus commands us to reach all peoples in the world, Matt. 28:19-20! * People without Jesus are eternally lost, & Jesus is the only One who can save them, John 14:6! * We have been given "the ministry & message of reconciliation", in Christ, 2 Cor. -

Perspectives for the Documentation of Indigenous Languages in Brazil
In Gabriela Pérez Báez, Chris Rogers & Jorge Emilio Rosés Labrada (editors) Language Documentation and Revitalization in Latin American Contexts Trends in Linguistics. Studies and Monographs 295 Berlin: de Gruyter Mouton, 2016 Denny Moore and Ana Vilacy Galucio 2 Perspectives for the documentation of indigenous languages in Brazil 1 Introduction In the last two decades language documentation has advanced greatly in Brazil, a nation with many minority languages within the predominantly Por- tuguese-speaking national context. This paper aims to provide an overview of the evolution of language documentation and relevant language policy in Brazil. There are identifiable country-specific macro factors and trends at work which strongly influence the prospects for language documentation and revitalization and which are different from those found in other world regions. In Brazil the situation of the native peoples (some of which are still out of contact with the outside world) is different from that of the native peoples of the USA or Australia. Scientific linguistics is relatively recent in Brazil. The impact of international documentation programs has been stronger in Brazil, where doc- umentation was less developed, than in Europe or the United States. Large gov- ernment programs in Brazil have important effects but are notably precarious, with success by no means guaranteed. Like other aspects of Brazilian society, the development of language documentation and revitalization encounters resist- ance from those who are adapted to the underdeveloped system. Such an under- developed system is not a lack of something, but rather a positive system that actively seeks to reproduce itself and defends maintenance of the status quo by reacting against what is perceived as threats. -

Provided for Non-Commercial Research and Educational Use Only. Not for Reproduction Or Distribution Or Commercial Use
Provided for non-commercial research and educational use only. Not for reproduction or distribution or commercial use This article was originally published in the Encyclopedia of Language & Linguistics, Second Edition, published by Elsevier, and the attached copy is provided by Elsevier for the author's benefit and for the benefit of the author's institution, for non- commercial research and educational use including without limitation use in instruction at your institution, sending it to specific colleagues who you know, and providing a copy to your institution’s administrator. All other uses, reproduction and distribution, including without limitation commercial reprints, selling or licensing copies or access, or posting on open internet sites, your personal or institution’s website or repository, are prohibited. For exceptions, permission may be sought for such use through Elsevier's permissions site at: http://www.elsevier.com/locate/permissionusematerial Moore D (2006), Brazil: Language Situation. In: Keith Brown, (Editor-in-Chief) Encyclopedia of Language & Linguistics, Second Edition, volume 2, pp. 117-128. Oxford: Elsevier. Brazil: Language Situation 117 Brazil: Language Situation D Moore, Museu Goeldi, Bele´ m, Brazil and are active in debating policy and defending ß 2006 Elsevier Ltd. All rights reserved. the interests of the communities that they repre- sent. Indigenous affairs are under the control of the National Indian Foundation (FUNAI), and all Background researchers must obtain authorization from that gov- The indigenous population in what is now Brazil was ernmental entity to enter indigenous areas, as well as much higher in the past, with a multiplicity of societies approval from the National Council for Scientific and and languages. -

Little to No Language Indigenous Latin American Children in New
Little to No Language Indigenous Latin American Children in New Jersey July 14, 2012 Version 2 Aggie Sung Tang, producer and host of a public access television show called Education Round Table, based out of Princeton Community TV of Princeton, NJ. [email protected] 609-802-8788 1 Statement Many different LDTCs, Bilingual, ESL and preschool teachers in New Jersey state they have come across Latino children described as having “Little to No Language.” Educators stated that these children were assessed in Spanish and not English. These children are as young as 3, who have been admitted to either Abbot school districts’ preschool programs or Special Education preschool programs. Others are in elementary school up to age 8. These children are more likely to be placed in Special Education, because they are assessed to have “Little to No Language.” The three top reasons from educators that explain this phenomenon are the following: 1. Latino parents of these children have to work multiple jobs, so they do not have time to speak to their children. 2. Latino parents have so little education that there is no language to pass onto their children. 3. These Latino children have learning disabilities. 2 Analysis for reasons to “Little to No Language” Getting a better understanding of where New Jersey’s Latino population originate may lend a better understanding to this “Little to No Language” description. The passenger traffic data from the New York New Jersey Port Authority, who runs all the airports in the area including Newark, JFK and Laguardia, indicate that the majority of the passenger traffic (arrivals and departures) involve 2 market groups: 1. -

Language (ISO 639-3 Code
Americas No. Language [ISO 639-3 Code] Country (Region) 1 Abenaki, Eastern [aaq] Iouo USA 2 Abenaki, Western [abe] Iouo Canada, USA 3 Achagua [aca] Iouo Colombia 4 Aché [guq] Iouo Paraguay 5 Achi [acr] Iouo Guatemala 6 Achuar-Shiwiar [acu] Iouo Ecuador, Peru 7 Achumawi [acv] Iouo USA 8 Acroá [acs] Iouo Brazil 9 Afro-Seminole Creole [afs] Iouo Mexico, USA 10 Agavotaguerra [avo] Iouo Brazil 11 Aguano [aga] Iouo Peru 12 Aguaruna [agr] Iouo Peru 13 Ahtena [aht] Iouo USA 14 Aikanã [tba] Iouo Brazil 15 Ajyíninka Apurucayali [cpc] Iouo Peru 16 Akateko [knj] Iouo Guatemala 17 Akawaio [ake] Iouo Guyana, Venezuela 18 Akuntsu [aqz] Iouo Brazil 19 Akurio [ako] Iouo Suriname 20 Alabama [akz] Iouo USA 21 Aleut [ale] Iouo USA 22 Algonquin [alq] Iouo Canada 23 Amahuaca [amc] Iouo Brazil, Peru 24 Amanayé [ama] Iouo Brazil 25 Amarakaeri [amr] Iouo Peru 26 Amundava [adw] Iouo Brazil 27 Anambé [aan] Iouo Brazil 28 Andaqui [ana] Iouo Colombia 29 Andoque [ano] Iouo Colombia 30 Angaité [aqt] Iouo Paraguay 31 Angloromani [rme] Iouo USA 32 Anguillan Creole English [aig] Iouo Caribbean 33 Anserma [ans] Iouo Colombia Antigua and Barbuda Creole English 34 Caribbean [aig] Iouo 35 Apache, Jicarilla [apj] Iouo USA 36 Apache, Kiowa [apk] Iouo USA 37 Apache, Lipan [apl] Iouo USA 38 Apache, Mescalero-Chiricahua [apm] Iouo USA 39 Apache, Western [apw] Iouo USA 1 Americas No. Language [ISO 639-3 Code] Country (Region) 40 Apalaí [apy] Iouo Brazil 41 Apiaká [api] Iouo Brazil 42 Apinayé [apn] Iouo Brazil 43 Apurinã [apu] Iouo Brazil 44 Arabela [arl] Iouo Peru 45 Araona [aro] -

Primeiras Reconstruções Em Proto-Arara-Ikpeng Kinship Terms: Initial Reconstructions in Proto-Arara-Ikpeng
Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Hum., Belém, v. 14, n. 1, p. 101-119, jan.-abr. 2019 Termos de parentesco: primeiras reconstruções em Proto-Arara-Ikpeng Kinship terms: initial reconstructions in Proto-Arara-Ikpeng Ana Carolina Ferreira-AlvesI, Angela Fabíola Alves ChagasII, Leonard Jéferson Grala BarbosaII IUniversidade Federal do Amazonas. Manaus, Amazonas, Brasil IIUniversidade Federal do Pará. Belém, Pará, Brasil Resumo: Sobre a classificação genética da família linguística Karíb, Meira e Franchetto (2005) propõem que o ramo pekodiano é formado pelas línguas Bakairi, Arara e Ikpeng, sendo que estas duas últimas estão no limite do que pode ser considerado como dialetos de uma mesma língua. Por sua vez, os falantes de Arara e Ikpeng alegam ser parentes próximos e relatam um nível razoável de inteligibilidade: conseguem, em geral, conversar com sucesso, embora encontrem, às vezes, dificuldades de compreensão. Para o referido estudo, os autores utilizaram dados lexicais provenientes apenas das línguas Bakairi e Ikpeng, pressupondo esta última como codialeto de Arara. O presente artigo busca realizar um estudo comparativo entre Arara e Ikpeng, utilizando, para isso, termos de parentesco. Para uma compreensão holística das semelhanças e diferenças entre essas duas línguas, buscamos realizar análises tanto do ponto de vista linguístico – comparando as formas dos termos de parentesco – quanto antropológico, cotejando os sistemas apontados por etnografias existentes. Os dados linguísticos, por sua vez, são provenientes de trabalhos de campo realizados nas comunidades Arara e Ikpeng por Ana Carolina Ferreira Alves (nos anos de 2014 a 2017) e por Angela Fabíola Alves Chagas (em 2012), respectivamente. Palavras-chave: Língua Arara. Língua Ikpeng.