Jornalismo Em Gêneros Volume 4
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Universidade Federal De Juiz De Fora Faculdade De Comunicação Social Mestrado Em Comunicação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL MESTRADO EM COMUNICAÇÃO Pedro Augusto Silva Miranda INTIMIDADE MEDIADA: as estratégias narrativas do GloboNews Em Pauta na comunicação com o público Juiz de Fora 2019 Pedro Augusto Silva Miranda INTIMIDADE MEDIADA: as estratégias narrativas do GloboNews Em Pauta na comunicação com o público Dissertação apresentada ao Programa de Pós- graduação em Comunicação, da Universidade Federal de Juiz de Fora como requisito parcial a obtenção do grau de Mestre em Comunicação. Área de concentração: Comunicação e Sociedade. Orientadora: Prof.a Dra. Cláudia de Albuquerque Thomé Juiz de Fora 2019 Ficha catalográfica elaborada através do programa de geração automática da Biblioteca Universitária da UFJF, com os dados fornecidos pelo(a) autor(a) Miranda, Pedro Augusto Silva. Intimidade Mediada : as estratégias narrativas do GloboNews Em Pauta na comunicação com o público / Pedro Augusto Silva Miranda. -- 2019. 173 p. Orientadora: Cláudia de Albuquerque Thomé Dissertação (mestrado acadêmico) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Faculdade de Comunicação Social. Programa de Pós Graduação em Comunicação, 2019. 1. Narrativas. 2. Estratégias. 3. TV por assinatura. 4. Telejornalismo. 5. GloboNews Em Pauta. I. Thomé, Cláudia de Albuquerque, orient. II. Título. Dedico este trabalho aos meus pais, Xavier e Maria, e ao meu irmão Junior. Exemplos de coragem, dedicação e amor incondicional. AGRADECIMENTOS Agradeço, primeiramente, a Deus, por permitir que esse momento acontecesse e por ser luz em meio às adversidades dessa caminhada. Obrigado por me fazer acreditar e mostrar que todos os meus sonhos são possíveis. Agradeço a minha família, pai, mãe e irmão, por sempre estarem ao meu lado com muito amor e acreditando em mim e que tudo daria certo. -

Brazil.Mom-Rsf.Org-Pt.Pdf
MEDIA OWNERSHIP MONITOR BRASIL NEUTRALIDADE DE BOLSONARO E A REDE E MÍDIA DESINFORMAÇÃO AFILIAÇÕES QUEM SÃO? POLÍTICAS OUTROS NEGÓCIOS MÍDIAS This is an automatically generated PDF version of the online resource brazil.mom-rsf.org/en/ retrieved on 2021/10/09 at 05:10 1 / 946 Reporters Without Borders (RSF) & Intervozes - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License. MEDIA OWNERSHIP MONITOR BRASIL PARTICIPAÇÃO TRANSPARÊNCIA? RELIGIOSA SÃO PAULO, CENTRO DO PODER MIDIÁTICO This is an automatically generated PDF version of the online resource brazil.mom-rsf.org/en/ retrieved on 2021/10/09 at 05:10 2 / 946 Reporters Without Borders (RSF) & Intervozes - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License. MEDIA OWNERSHIP MONITOR BRASIL Quem controla a mídia no Brasil? A mídia independente e plural é condição indispensável para um sistema político democrático. Afinal, se os conteúdos que circulam pelos meios de comunicação influenciam a formação da opinião pública, o que esperar se não há diversidade de informações e de pontos de vista? A partir dessa premissa, o MOM-Brasil tem o objetivo de mapear os veículos de maior audiência – que têm maior potencial de influenciar a opinião pública – e os grupos que os controlam. Busca também produzir indicadores do risco ao pluralismo e à independência da mídia. Entre eles estão a concentração da audiência, a concentração da propriedade e a existência ou não de controles externos. Outro indicador é a transparência: o risco ao pluralismo se torna ainda maior quando não fica claro para a audiência – e mesmo para os jornalistas - quem tem controle sobre cada veículo, que outros negócios possuem e que interesses podem guiar a produção das notícias. -

Rede Jim Final.Indd
1969 a 1970 Janelas do Tempo Orgs. Álvaro Nunes Larangeira Christina Ferraz Musse Cláudia de Albuquerque Thomé Denise Tavares Juremir Machado da Silva Renata Rezende Ribeiro SELO PESQUISA EM COMUNICAÇÃO E SOCIEDADE Conselho Editorial Christina Ferraz Musse (UFJF) Claudia de Albuquerque Thomé (UFJF) Paulo Roberto Figueira Leal (UFJF) Wedencley Alves Santana (UFJF) Maria Immacolata Vassalo de Lopes (USP) Mirian Nogueira Tavares (Universidade do Algarve) Sallie Hughes (Universidade de Miami) Comissão Editorial Gabriela Borges Martins Caravela Sonia Virgínia Moreira Iluska Maria da Silva Coutinho Programa de Pós-Graduação em Comunicação Faculdade de Comunicação Universidade Federal de Juiz de Fora Campus Universitário, Bairro São Pedro CEP 36.036-330 – Juiz de Fora – Minas Gerais www.ufjf.br/ppgcom Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ Copyright © Autores, 2020 Copyright © Editora UFJF, 2020 Copyright © Editora Meridional, 2020 Projeto gráfico e capa Carlos Eduardo Nunes e Eutália Ramos Editoração Estela Loth Costa, Eutália Ramos e Niura Fernanda Souza Revisão Caroline Mello, Gustavo Teixeira de Faria Pereira e Julia Fagioli Assistente editorial Talita Magnolo Bibliotecária responsável: Denise Mari de Andrade Souza CRB 10/960 M637 1969-1970: janelas do tempo [livro digital] / organizado por Álvaro Nunes Larangeira...[et al.]. -- Porto Alegre: Sulina; Juiz de Fora: UFJF, 2020. 441 p.; E-book. ISBN: 978-65-5759-023-1 1. Sociologia da Comunicação. -

Universidade Federal Da Bahia – Ufba a Televisão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA FACULDADE DE EDUCAÇÃO PROGRAMA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO RITA VIRGINIA ALVES SANTOS ARGOLLO A TELEVISÃO UNIVERSITÁRIA NA WEB: UM ESTUDO SOBRE A TV UESC Salvador 2012 RITA VIRGINIA ALVES SANTOS ARGOLLO A TELEVISÃO UNIVERSITÁRIA NA WEB: UM ESTUDO SOBRE A TV UESC Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Educação, Universidade federal da Bahia, como requisito parcial para obtenção do grau de Doutor em Educação. Orientador: Prof. Dr. Edvaldo Souza Couto Salvador 2012 A693 Argollo, Rita Virginia Alves Santos A televisão universitária na web: um estudo sobre a TV UESC / Rita Virginia Alves Santos Argollo. – Salvador, BA : UFBA, 2012. 265 f.: il. Orientador: Prof. Dr. Edvaldo Souza Couto. Tese (Doutorado) – Universidade Federal da Bahia. Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Educação. Inclui bibliografia. 1. Televisão no ensino superior. 2. Televisão – Estações educativas. 3. Comunicação na educação. 4. Televisão na educação. 5. Tecnologia educacional. I. Título. CDD 378.17 DEDICATÓRIA Ao invisível, tão presente em nossas vidas. AGRADECIMENTOS E desconhece do relógio o velho futuro O tempo escorre num piscar de olhos E dura muito além dos nossos sonhos mais puros Bom é não saber o quanto a vida dura Ou se estarei aqui na primavera futura Posso brincar de eternidade agora Sem culpa nenhuma (Mart´nália e Zélia Duncan, Benditas) Enfim, cheguei. Esta trajetória que durou quatro anos, aparentemente curta e simples, mas que traz profundos significados pessoais, foi marcada por muitos encontros e descobertas. Com livros e diversos outros textos impressos, com a riqueza infinita viabilizada pela internet, com a labuta da escrita. -

Marcos Rey, Para Uma Minissérie Da Rede Globo
CAMPUS JOSÉ SANTILLI SOBRINHO Coordenadoria de Jornalismo Conceição Aparecida Rubira Danelon ADAPTAÇÃO DO ROMANCE MEMÓRIAS DE UM GIGOLÔ, DE MARCOS REY, PARA UMA MINISSÉRIE DA REDE GLOBO Novembro/2009 ASSIS 1 CAMPUS JOSÉ SANTILLI SOBRINHO Coordenadoria de Jornalismo ADAPTAÇÃO DO ROMANCE MEMÓRIAS DE UM GIGOLÔ, DE MARCOS REY, PARA UMA MINISSÉRIE DA REDE GLOBO Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado ao Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis (IMESA), como requisito parcial para aprovação no curso de Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo. Aluna: Conceição Aparecida Rubira Danelon Orientadora: Professora Mestra Eliane Aparecida Galvão Ribeiro Ferreira. Novembro/2009 ASSIS 2 FICHA CATALOGRÁFICA DANELON, Conceição Aparecida Rubira Adaptação do romance Memórias de um Gigolô, de Marcos Rey, para uma minissérie da Rede Globo / Conceição Aparecida Rubira Danelon. Fundação Educacional do Município de Assis – Fema : Assis, 2009 133p. Trabalho de Conclusão de Curso ( TCC ) – Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo – Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis 1.Literatura. 2. Televisão. 3. Marcos Rey CDD: 070 Biblioteca da FEMA 3 Agradecimentos Antes que qualquer palavra me venha à mente, agradeço ao Universo, comandado por Deus, que conspirou a meu favor quando me colocou nesta Faculdade. Sinto-me agora em condições de agradecer à minha orientadora Eliane Galvão, uma mulher sem igual, digna de toda sabedoria que lhe é peculiar. Sou, agora, um ser humano melhor e não somente uma criatura pensante por exclusiva responsabilidade sua. Aos demais professores, quero que saibam que nutro por eles um sentimento de gratidão que permanecerá por toda minha vida. Foram quatro anos extremamente especiais, em que me ensinaram mais que teorias, ensinaram-me a viver melhor. -

Sette Gm Me Bauru.Pdf (819.5Kb)
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” FACULDADE DE ARQUITETURA, ARTES E COMUNICAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TELEVISÃO DIGITAL: INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO CANAL SPORTV: UMA ANÁLISE SOBRE O PROCESSO DE GESTÃO DA PRODUÇÃO DOS PROGRAMAS ESPORTIVOS NA DIGITALIZAÇÃO DA TELEVISÃO POR ASSINATURA GUILHERME MICHELON SETTE Bauru 2010 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” FACULDADE DE ARQUITETURA, ARTES E COMUNICAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TELEVISÃO DIGITAL: INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO CANAL SPORTV: UMA ANÁLISE SOBRE O PROCESSO DE GESTÃO DA PRODUÇÃO DOS PROGRAMAS ESPORTIVOS NA DIGITALIZAÇÃO DA TELEVISÃO POR ASSINATURA GUILHERME MICHELON SETTE Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Televisão Digital, da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, para obtenção do título de Mestre em Televisão Digital: Informação e Conhecimento sob orientação do Prof. Dr. Juliano Maurício de Carvalho. Bauru 2010 Sette, Guilherme Michelon. Canal SporTV: uma análise sobre o processo de gestão da produção dos programas esportivos na digitalização da televisão por assinatura / Guilherme Michelon Sette, 2010. 116 f. Orientador: Juliano Maurício de Carvalho Dissertação (Mestrado)–Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, Bauru, 2010 1. Gestão da produção. 2. Jornalismo esportivo. 3. Televisão digital terrestre. 4. Inovação tecnológica. I. Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. II. Título. GUILHERME MICHELON SETTE CANAL SPORTV: UMA ANÁLISE DO PROCESSO DE GESTÃO DA PRODUÇÃO DOS PROGRAMAS ESPORTIVOS NA DIGITALIZAÇÃO DA TELEVISÃO POR ASSINATURA Área de Concentração: Comunicação, Informação e Educação em Televisão Digital Linha de Pesquisa: Gestão da Informação e Comunicação para Televisão Digital Banca Examinadora: Presidente/Orientador: Prof. -

O Uso Do Rádio E Da TV Por Instituições Religiosas
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” FACULDADE DE ARQUITETURA, ARTES E COMUNICAÇÃO Departamento de Comunicação Social FÁBIO SEBASTIÃO POLATO O uso do rádio e da TV por instituições religiosas: Um fenômeno crescente nos mais variados canais de comunicação Bauru 2015 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” FACULDADE DE ARQUITETURA, ARTES E COMUNICAÇÃO Departamento de Comunicação Social FÁBIO SEBASTIÃO POLATO O uso do rádio e da TV por instituições religiosas: Um fenômeno crescente nos mais variados canais de comunicação Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Comunicação Social da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, como requisito parcial para a obtenção do título de bacharel em Comunicação Social- Jornalismo. Orientador: Prof. Dr. Antonio Francisco Magnoni Bauru 2015 O uso do rádio e da TV por instituições religiosas: Um fenômeno crescente nos mais variados canais de comunicação Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado ao Departamento de Comunicação Social da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, como requisito parcial para a obtenção do título de bacharel em Comunicação Social- Jornalismo. Atesto que o projeto desenvolvido pelo formando e orientado por mim tem qualidade acadêmica para ser apresentado Bauru___, de ___________________ de 20___. ANTONIO FRANCISCO MAGNONI (ORIENTADOR) FÁBIO SEBASTIÃO POLATO (FORMANDO) AGRADECIMENTOS Agradeço a todos aqueles que, de alguma forma, foram essenciais para a realização deste trabalho acadêmico: Inicialmente agradeço as orientações e palavras de apoio do meu orientador, professor Antônio Francisco Magnoni, que se empenhou a esse trabalho com enorme dedicação e profissionalismo. Muito obrigado pela confiança e por não ter desistido de me ver jornalista formado, me dando apoio profissional e pessoal para que eu concluísse a jornada. -
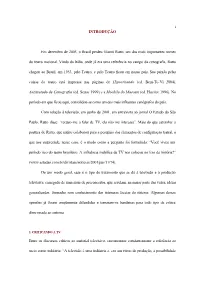
Cenario Televisivo.Pdf
1 INTRODUÇÃO Em dezembro de 2005, o Brasil perdeu Gianni Ratto, um dos mais importantes nomes do teatro nacional. Vindo da Itália, onde já era uma referência no campo da cenografia, Ratto chegou ao Brasil, em 1953, pelo Teatro, e pelo Teatro ficou em nosso país. Sua paixão pelas coisas do teatro está impressa nas páginas de Hipocritando (ed. Bem-Te-Vi 2004), Antitratado de Cenografia (ed. Senac 1999) e a Mochila do Mascate (ed. Hucitec 1996). No período em que ficou aqui, consolidou-se como um dos mais influentes cenógrafos do país. Com relação à televisão, em junho de 2001, em entrevista ao jornal O Estado do São Paulo, Ratto disse: “recuso-me a falar de TV, ela não me interessa”. Mais do que estranhar a postura de Ratto, que muito colaborou para a pesquisa dos elementos de configuração teatral, o que nos surpreende, nesse caso, é o modo como a pergunta foi formulada: “Você viveu um período rico do teatro brasileiro. A influência maléfica da TV nos colocou no lixo da história?” (www.estadao.com.br/divirtase/noticias/2001/jun/11/74). De um modo geral, esse é o tipo de tratamento que se dá à televisão e à produção televisiva, carregado de uma série de preconceitos, que revelam, na maior parte das vezes, idéias generalizadas, formadas sem conhecimento das inúmeras facetas do sistema. Algumas dessas opiniões já foram amplamente difundidas e tornaram-se bandeiras para todo tipo de crítica direcionada ao sistema. 1. CRITICANDO A TV. Entre os discursos críticos ao material televisivo, encontramos constantemente a referência ao meio como indústria: “A televisão é uma indústria e, em seu ritmo de produção, a possibilidade 2 de inovação é rara (...). -

O PLANO DE PODER DA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS: Estratégias Territoriais Da Expansão Neopentecostal No Brasil
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA LUIZA CHUVA FERRARI LEITE O PLANO DE PODER DA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS: Estratégias territoriais da expansão neopentecostal no Brasil Salvador - BA Abril/2019 LUIZA CHUVA FERRARI LEITE O PLANO DE PODER DA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS: Estratégias territoriais da expansão neopentecostal no Brasil Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia, da Universidade Federal da Bahia, como requisito para obtenção do título de Mestre em Geografia Orientador: Prof. Dr. Gilca Garcia de Oliveira Salvador - BA Abril/2019 3 4 A Marielle, nossa Mariguela, que queria ver o resultado desse trabalho e que eu queria tanto que estivesse por aqui. Não nos calarão! 5 AGRADECIMENTOS Aos professores do POSGEO UFBA, em especial à Gilca pela orientação, à Guiomar pelo cuidado e atenção desde o início e ao Antonio Lobo pelas trocas ao longo da pesquisa e participação nas bancas. Aos professores Ricardo Mariano pela participação na banca de qualificação e a Tiago Santos, pelas contribuições fundamentais e presença nas bancas finais. À Capes, pela concessão da bolsa de estudo que viabilizou a realização da pesquisa. Aos colegas da turma de mestrado, que acompanharam essa longa caminhada, e em especial à Paula, Léo e Jéssica, amigos que a Bahia deu e que tanto me ouviram! À família Tumba Junsara, por quem me senti acolhida nesses anos, e em especial a Paulo, Suzanne, Desirré, André e Chuchuca pela amizade e trocas também via ACCS. Aos tantos amigos que entre Rio e Salvador, tornaram esse caminho – casa e sem os quais eu não teria chegado aqui. -

Religião, Mídia E Produção Fonográfica: O Diante Do Trono E As Disputas Com a Igreja Universal1
RELIGIÃO, MÍDIA E PRODUÇÃO FONOGRÁFICA: O DIANTE DO TRONO E 1 AS DISPUTAS COM A IGREJA UNIVERSAL Nina Rosas Introdução É motivo de muita alegria e gratidão a Deus. Há alguns anos seria impossível imaginar tal iniciativa. Uma TV, de abrangência nacional, promover um evento totalmente evangélico era quase inaceitável. Hoje vemos que Deus tem aberto as portas. Ana Paula Valadão, líder do ministério de louvor Diante do Trono2 Mesmo que já tivesse algum antecedente, em 2010, a Rede Globo se aproximou dos cantores evangélicos de modo distinto. Em junho, as cantoras Aline Barros e Fer- nanda Brum, ao participarem do Domingão do Faustão, foram convidadas a voltar, uma vez que, segundo o apresentador: “Agora abrimos a porteira”. Em outubro do mesmo ano, uma das bandas mais proeminentes do segmento evangélico, o ministério de louvor Diante do Trono (DT), também participou do mesmo programa. O DT já chamava bastante atenção por seus treze anos de existência (hoje, quinze), e por seus muitos CDs e DVDs gravados, todos com ampla vendagem. Em 2011, pouco mais de um ano depois dessa participação, a Globo organizou um evento de premiação dos principais cantores da música gospel3, o Troféu Promessas, 168 Religião e Sociedade, Rio de Janeiro, 33(1): 167-194, 2013 indicando principalmente os músicos ligados à Som Livre, gravadora pertencente ao grupo Globo. Na ocasião, o Diante do Trono recebeu dois prêmios e, menos de um mês depois, foi uma das bandas a participar de um show evangélico gravado no Aterro do Flamengo (um trecho de sua performance foi transmitido ao vivo pelo Jornal Nacional). -

23042015 Tese Pamela Pinto
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE INSTITUTO DE ARTES E COMUNICAÇÃO SOCIAL PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ! ! ! ! ! ! PÂMELA ARAUJO PINTO ! ! ! ! ! ! MÍDIA REGIONAL BRASILEIRA: Características dos subsistemas midiáticos das regiões Norte e Sul ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NITERÓI 2015 PÂMELA ARAUJO PINTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MÍDIA REGIONAL BRASILEIRA: Características dos subsistemas midiáticos das regiões Norte e Sul ! ! ! ! ! ! Tese apresentada ao Programa de Pós- G r a d u a ç ã o e m C o m u n i c a ç ã o d a Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial para a obtenção do Grau de Doutor. Área de concentração: Comunicação e Mediação ! Orientador: Prof. Dr. Afonso de Albuquerque ! ! ! ! Niterói 2015! PÂMELA ARAUJO PINTO ! MÍDIA REGIONAL BRASILEIRA: Características dos subsistemas midiáticos das regiões Norte e Sul ! Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial para a obtenção do Grau de Doutor. Área de concentração:! Comunicação e Mediação ! BANCA EXAMINADORA ! ! ___________________________________ Prof. Dr. Afonso de Albuquerque! - Orientador ! _________________________________ Prof. Dr. Marco Roxo (Examinador) Universidade Federal! Fluminense (UFF) ! _________________________________ Prof. Dr. Diógenes Lycarião (Examinador) Universidade Federal! Fluminense (UFF) ! _________________________________ Prof.ª Dr.ª Sonia Virgínia Moreira (Examinadora) Universidade do Estado do! Rio de Janeiro (UERJ) ! ! _________________________________ Prof. Dr. Arthur Ituassu (Examinador) Pontifícia Universidade Católica! do Rio de Janeiro (PUC-Rio) ! ! Niterói, 2015 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca Central do Gragoatá ! ! ! ! P659 Pinto, Pâmela Araujo. Mídia regional brasileira: características dos subsistemas midiáticos ! das regiões Norte e Sul / Pâmela Araujo Pinto. – 2015. 336 f. ! Orientador: Afonso de Albuquerque. ! Tese (Doutorado em Comunicação) – Universidade Federal Fluminense, Instituto de Arte e Comunicação Social, 2015. ! Bibliografia: f. -

A Experiência Do Rádio Na Formação Do Narrador De Futebol Televisivo Emmanuel Grubisich Monteiro Universidade Norte Do Paran
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XXX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Santos – 29 de agosto a 2 de setembro de 2007 A Experiência do Rádio na Formação do Narrador de Futebol Televisivo1 Emmanuel Grubisich Monteiro2 Universidade Norte do Paraná - Unopar Resumo Este artigo apresenta o resultado de uma pesquisa qualitativa que examinou a influência do rádio na formação dos narradores de futebol televisivos, os quais iniciaram as carreiras profissionais, atuando naquele meio de comunicação. A metodologia usada foi a entrevista semi-estruturada e foram ouvidos cinco locutores na cidade de São Paulo: Éder Luiz, Milton Leite, André Henning, Silvio Luiz e Jota Junior. Portanto, este artigo se enquadra como pesquisa empírica, com a descrição de evidências por meio de trabalhos de campo. Palavras-chave Futebol; rádio; televisão; narração. Introdução O rádio é o meio de comunicação mais ágil porque não requer um grande aparato técnico para que uma informação seja veiculada. O profissional radiofônico contata a emissora usando um telefone e relata o ocorrido. Por outro lado, a Internet necessita de um computador para que alguém descreva o fato. A televisão demanda o deslocamento de pessoal para registrar a imagem, e os jornais e revistas são os mais lentos. O rádio continua sendo um importante meio de comunicação porque proporciona entretenimento e também possibilita às pessoas se informarem e aprenderem, por meio de programas de caráter educativo. Todavia, esse veículo sofreu forte impacto no passado, principalmente em 1950 com o surgimento da televisão. Grande parte dos anunciantes passou a investir na televisão e, junto com eles, migraram os principais 1 Trabalho apresentado no II Altercom – Jornada de Inovações Midiáticas e Alternativas Comunicacionais.