Universidade De Évora
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Raça Bovina Arouquesa
Jorge Daniel Brito Rocha A Raça Bovina Arouquesa Dissertação de Mestrado em Alimentação – Fontes, Cultura e Sociedade, orientada pelo Professor Doutor Norberto Santos, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 2015 Faculdade de Letras A Raça Bovina Arouquesa Ficha Técnica: Tipo de trabalho Dissertação de Mestrado Título A Raça Bovina Arouquesa Autor Jorge Daniel de Brito Rocha Orientador Doutor Norberto Nuno Pinto dos Santos Júri Presidente: Doutora Carmem Isabel Leal Soares Vogais: 1. Doutora Maria Helena da Cruz Coelho 2. Doutor Norberto Nuno Pinto dos Santos Identificação do Curso Alimentação – Fontes, Cultura e Sociedade Data da defesa 7-9-2015 Classificação 13 valores Agradecimentos Gostaria de expressar o meu obrigado a todos os que contribuíram para que este projeto chegasse a bom porto. Agradeço em primeiro lugar, o contributo e empenho do meu orientador, o Professor Doutor Norberto Santos, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Agradeço-lhe o tempo e a dedicação despendidas a este projeto, sem o qual não seria possivel. Um agradecimento à minha esposa pelo apoio, e dedicação com que sempre me ajudou. Agradeço também à Associação de Criadores de Raça Arouquesa (ANCRA), pela ajuda e informações fornecidas. Aos professores que me acompanharam ao longo deste processo o meu muito obrigado. Resumo Com este trabalho pretende-se abordar o tema da Raça Arouquesa, todas as suas características, e as mais-valias para a região. Esta dissertação tem como objetivo dar a conhecer, desde o gado bovino de raça Arouquesa, a sua carne D.O.P., até aos pratos com ela confecionados, e o turismo da região em volta desta temática, uma vez que é um tema pouco desenvolvido. -

101890 Fr Vol II 432-433
2.PÉNINSULE IBÉRIQUE ET ITALIE PORTUGAL Le Portugal, situé entre 37° et 42° de latitude N ord, repré- sente environ 15 pour cent de la superficie de la péninsuleI bé- rique.1.1 compte 38 pour cent de terres cultivables et 17 pour cent de prairies permanentes. La topographie et le climat sont sembla- bles à ceux de l'Espagne, bien que l'influence océanique y soit plus prononcée. L'été, moyennement chaud dansleszonescôtières, devient torride et sec dans le sud-est du pays. La plus grande partie des précipitations tombe en hiver. Comparé à l'importance du peuplement humain, le nombre de bovins est, au Portugal, inférieur à ce qu'il est dans tout autre pays d'Europe. De grandes étendues présentent en effet des sols et des conditions climatiques plus favorables à l'élevage des ovins qu'à celui des bovins. Les pages qui suivent se rapportent à un. certain nombre de races bovines; il existe aussi à l'intérieur de celles-ci des variétés lo- cales, légèrement différentes, mais dont les caractéres généraux res- tent semblables. TABLEAU 38. RÉPARTITION DES RACES BOVINES PORTLJGAISES Race Pourcentage Mirandesa (Ratinha) 25 Turina (pie noire portugaise) Barrosa A rouquesa 7 Alentejana 6 Mertolenga 6 M inhota 3 Algarvia Brava 1 Autres races et croisements 8 fe.O.Turina ET7.771Barrosa -FIMirandesa ou Ratinha / / / / / / / // / / / Arouqu esa / / / / / / // / / / / / // / // / / / / / / / // / / / / / / // / / / / / // / / / vziAlga rvia / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / // / / / / Alentejana / / / / / / / / / / 111111111 it It / 7/ / Minhota ESE5Mertolenga FIGURE 33. Répartition géographique des races bovines au Portugal. 68 LES BOVINS D'EUROPE Le tableau 38 donne la répartition par ordre d'importance des différentes races portugaises; la figure 33 indique leur distribution géographique. -
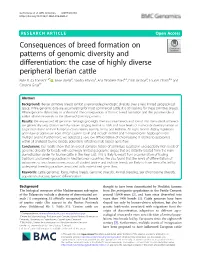
Consequences of Breed Formation on Patterns of Genomic Diversity and Differentiation: the Case of Highly Diverse Peripheral Iberian Cattle Rute R
da Fonseca et al. BMC Genomics (2019) 20:334 https://doi.org/10.1186/s12864-019-5685-2 RESEARCH ARTICLE Open Access Consequences of breed formation on patterns of genomic diversity and differentiation: the case of highly diverse peripheral Iberian cattle Rute R. da Fonseca1,2* , Irene Ureña3, Sandra Afonso3, Ana Elisabete Pires3,4, Emil Jørsboe2, Lounès Chikhi5,6 and Catarina Ginja3* Abstract Background: Iberian primitive breeds exhibit a remarkable phenotypic diversity over a very limited geographical space. While genomic data are accumulating for most commercial cattle, it is still lacking for these primitive breeds. Whole genome data is key to understand the consequences of historic breed formation and the putative role of earlier admixture events in the observed diversity patterns. Results: We sequenced 48 genomes belonging to eight Iberian native breeds and found that the individual breeds are genetically very distinct with FST values ranging from 4 to 16% and have levels of nucleotide diversity similar or larger than those of their European counterparts, namely Jersey and Holstein. All eight breeds display significant gene flow or admixture from African taurine cattle and include mtDNA and Y-chromosome haplotypes from multiple origins. Furthermore, we detected a very low differentiation of chromosome X relative to autosomes within all analyzed taurine breeds, potentially reflecting male-biased gene flow. Conclusions: Our results show that an overall complex history of admixture resulted in unexpectedly high levels of genomic diversity for breeds with seemingly limited geographic ranges that are distantly located from the main domestication center for taurine cattle in the Near East. This is likely to result from a combination of trading traditions and breeding practices in Mediterranean countries. -

Supplementary Information
Supplementary information Supplementary Notes ......................................................................................................................... 2 Supplementary Tables ........................................................................................................................ 7 Supplementary Figures ..................................................................................................................... 13 References ........................................................................................................................................ 20 1 Supplementary notes Note S1. Brief description of the Iberian native cattle breeds sampled in our study The Barrosã cattle are one of the most emblematic of the Iberian Peninsula with their magnificent lyre‐shaped horns and short face. These cattle can be found grazing in the highlands of northwestern Portugal in a collectively managed herding system named ‘vezeira’. They are medium‐sized animals, with concave profile and brown‐blond coat colour. There is marked sexual dimorphism and the males are much darker particularly in the neck and have a characteristic dark ring around the eyes. The herdbook was established in 1985 and is managed by the breeders’ association AMIBA (http://www.amiba.pt). The certified protected designation of origin (PDO) meat ‘Carne Barrosã’ is highly valued due to the intramuscular fat content and large numbers of live Barrosã cattle were exported to England from Oporto in the mid‐19th century until 1920. The milk -

Meta-Analysis of Mitochondrial DNA Reveals Several Population
Table S1. Haplogroup distributions represented in Figure 1. N: number of sequences; J: banteng, Bali cattle (Bos javanicus ); G: yak (Bos grunniens ). Other haplogroup codes are as defined previously [1,2], but T combines T, T1’2’3’ and T5 [2] while the T1 count does not include T1a1c1 haplotypes. T1 corresponds to T1a defined by [2] (16050T, 16133C), but 16050C–16133C sequences in populations with a high T1 and a low T frequency were scored as T1 with a 16050C back mutation. Frequencies of I are only given if I1 and I2 have not been differentiated. Average haplogroup percentages were based on balanced representations of breeds. Country, Region Percentages per Haplogroup N Reference Breed(s) T T1 T1c1a1 T2 T3 T4 I1 I2 I J G Europe Russia 58 3.4 96.6 [3] Yaroslavl Istoben Kholmogory Pechora type Red Gorbatov Suksun Yurino Ukrain 18 16.7 72.2 11.1 [3] Ukrainian Whiteheaded Ukrainian Grey Estonia, Byelorussia 12 100 [3] Estonian native Byelorussia Red Finland 31 3.2 96.8 [3] Eastern Finncattle Northern Finncattle Western Finncattle Sweden 38 100.0 [3] Bohus Poll Fjall cattle Ringamala Cattle Swedish Mountain Cattle Swedish Red Polled Swedish Red-and-White Vane Cattle Norway 44 2.3 0.0 0.0 0.0 97.7 [1,4] Blacksided Trondheim Norwegian Telemark Westland Fjord Westland Red Polled Table S1. Cont. Country, Region Percentages per Haplogroup N Reference Breed(s) T T1 T1c1a1 T2 T3 T4 I1 I2 I J G Iceland 12 100.0 [1] Icelandic Denmark 32 100.0 [3] Danish Red (old type) Jutland breed Britain 108 4.2 1.2 94.6 [1,5,6] Angus Galloway Highland Kerry Hereford Jersey White Park Lowland Black-Pied 25 12.0 88.0 [1,4] Holstein-Friesian German Black-Pied C Europe 141 3.5 4.3 92.2 [1,4,7] Simmental Evolene Raetian Grey Swiss Brown Valdostana Pezzata Rossa Tarina Bruna Grey Alpine France 98 1.4 6.6 92.0 [1,4,8] Charolais Limousin Blonde d’Aquitaine Gascon 82.57 Northern Spain 25 4 13.4 [8,9] 1 Albera Alistana Asturia Montana Monchina Pirenaica Pallaresa Rubia Gallega Southern Spain 638 0.1 10.9 3.1 1.9 84.0 [5,8–11] Avileña Berrenda colorado Berrenda negro Cardena Andaluzia Table S1. -

Redalyc.Growth Hormone Alui Polymorphism Analysis in Eight
Archivos de Zootecnia ISSN: 0004-0592 [email protected] Universidad de Córdoba España Reis, C.; Navas, D.; Pereira, M.; Cravador, A. Growth hormone alui polymorphism analysis in eight portuguese bovine breeds. Archivos de Zootecnia, vol. 50, núm. 190, 2001, pp. 41-48 Universidad de Córdoba Córdoba, España Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49519007 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative GROWTH HORMONE ALUI POLYMORPHISM ANALYSIS IN EIGHT PORTUGUESE BOVINE BREEDS ANçLISIS DEL POLIMORFISMO ALUI DE LA HORMONA DE CRECIMENTO EN OCHO RAZAS BOVINAS PORTUGUESAS Reis, C.1, D. Navas2, M. Pereira3 and A. Cravador1 1Universidade do Algarve. UCTA. Campus de Gambelas. 8000-810 Faro. Portugal. E-mail: [email protected] / [email protected] 2Esta•‹o ZootŽcnica Nacional, Departamento de Bovinicultura. Fonte Boa. 2000-763 Vale de SantarŽm. Portugal. E-mail: [email protected] 3Esta•‹o ZootŽcnica Nacional. Departamento de Ovinicultura. Fonte Boa. 2000-763 Vale de SantarŽm. Portugal. E-mail: [email protected] ADDITIONAL KEYWORDS PALABRAS CLAVE ADICIONALES Somatotropin. Polymorphism. Meat production. Somatotropina. Polimorfismo. Producci—n de car- PCR-RFLP. ne. PCR-RFLP. SUMMARY RESUMEN A total of 195 bulls of eight Portuguese beef Un total de 195 bovinos pertenecientes a cattle breeds (Alentejana, Arouquesa, Barros‹, ocho razas productoras de carne portuguesas Maronesa, Marinhoa, Mertolenga, Mirandesa (Alentejana, Arouquesa, Barros‹, Maronesa, and Preta) were genotyped for the GH AluI Marinhoa, Mertolenga, Mirandesa y Preta) fue- polymorphism by the polymerase chain reaction ron genotipados utilizando PCR-RFLP para el and restriction length polymorphism (PCR- polimorfismo CH AluI. -

Sistemas Agrários E Melhoramento Dos Bovinos De Raça Mirandesa.Pdf
Sistemas Agrários e Melhoramentos dos Bovinos de Raça Mirandesa… 1 Fernando de Sousa SSistemas agrários e melhoramento dos bovinos de raça mirandesa O caso da freguesia de Paçó 38 38 Fernando de Sousa SSistemas agrários e melhoramento dos bovinos de raça mirandesa O caso da freguesia de Paçó SÉRIE EDIÇÃO DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA 4 Fernando de Sousa Título: Sistemas agrários e melhoramento dos bovinos de raça mirandesa. O caso da freguesia de Paçó Autor: Fernando de Sousa Edição: Instituto Politécnico de Bragança · 1998 Apartado 38 · 5300 Bragança · Portugal Tel. (073) 331 570 · 330 3200 · Fax (073) 25 405 · http://www.ipb.pt Execução: Serviços de Imagem do Instituto Politécnico de Bragança (direcção gráfica, Atilano Suarez; paginação, Luís Ribeiro; montagem, Maria de Jesus; impressão, António Cruz, acabamento, Isaura Magalhães) Tiragem: 500 exemplares Depósito legal nº 128 418/98 ISBN 972-745-051-2 Aceite para publicação em 1994 Sistemas Agrários e Melhoramentos dos Bovinos de Raça Mirandesa… 5 Agradecimentos A realização desta dissertação de mestrado foi possível graças à colaboração de um grande número de pessoas que, de formas diversas, nos auxiliaram em diferentes etapas do trabalho. O nosso agradecimento dirige-se em primeiro lugar ao Senhor Engenheiro António Fragata, nosso orientador, pelo muito que nos ensinou e incentivou, pelas preciosas sugestões que nos fez e pela excelente revisão do manuscrito, manifestando sempre uma elevada disponibilidade de tempo, paciência e profunda amizade. A todos os agricultores da freguesia de Paçó, em especial ao António Oliveira presidente da Junta de Freguesia. A sua eficaz colaboração foi preciosa para a compreensão das raízes das suas práticas, dos fundamentos dos seus sistemas de produção pecuários e também, para a identificação e hierarquisação dos bloqueios ao seu funcionamento e aos seus projectos de evolução. -

Caracterização Morfológica Da População Bovina Jarmelista
DGV Direcção Geral de Veterinária CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DA POPULAÇÃO BOVINA JARMELISTA Fevereiro 2006 A POPULAÇÃO BOVINA JARMELISTA CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DA POPULAÇÃO BOVINA JARMELISTA Protocolo de colaboração: Junho de 2004 Instituições Participantes Direcção Geral de Veterinária (DGV) Direcção Regional de Agricultura da Beira Interior (DRABI) Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas / Estação Zootécnica Nacional / Estação Nacional de Melhoramento de Plantas (INIA/EZN/) Associação de Criadores de Ruminantes do Concelho da Guarda (ACRIGUARDA) Equipa técnica: Maria de Fátima Sobral (DGV) Carmen Roberto (INIA/EZN) Dolores Navas (INIA/ ENMP) José Manuel Nunes (ACRIGUARDA) Paulo Poço (ACRIGUARDA) Sabina Mónica Duarte (ACRIGUARDA) i A POPULAÇÃO BOVINA JARMELISTA RESUMO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS Foi efectuada a inventariação e identificação da população bovina Jarmelista através da identificação dos criadores e explorações, determinação do tamanho da população, distribuição etária, proporção entre sexos e recolha da informação disponível sobre a origem e genealogia do efectivo. Foi analisada a diversidade morfológica de trinta e nove fêmeas Mirandesas e de todos os animais identificados como Jarmelistas num total de vinte e quatro fêmeas e dois machos. Para a caracterização morfológica foram utilizados 185 caracteres morfológicos para as fêmeas e 170 caracteres para os machos recorrendo aos métodos de análise de dados/taxonomia numérica. Os resultados obtidos neste estudo, foram analisados em conjunto com resultados anteriormente obtidos para cinco raças bovinas autóctones de fêmeas da região Sul de Portugal - Algarvia (AG), Alentejana (AL), Garvonesa (GA), Mertolenga (ME), Preta (PR) - e doze raças autóctones de machos: Algarvia, Alentejana, Arouquesa (AR), Barrosã (BA), Cachena (CA), Garvonesa, Marinhoa (MA), Maronesa (MO), Mertolenga, Minhota (MN), Mirandesa (MI) e Preta. -

RSI December 2012 Volume IV Number 2
2 H.A.R.S. - RSI J – ΚΠΕ - R ICR – ZRW Editorial Board 2011 – 2012 The Board of the HELLENIC Regional Science Inquiry Journal PROFESSOR PANAGIOTIS LIARGOVAS Department of Economics ASSOCIATION OF REGIONAL University of Peloponnese, Greece SCIENTISTS H.A.R.S. 2011-2012 Managing Editor PROFESSOR THEODORE PELAGIDIS PROFESSOR MARIA GIAOUTZI [H.A.R.S. is a Think Tank of groups of people with Department of Maritime Studies Department of Rural and Surveying Engineering, National multidisciplinary work in the fields of Regional Science, University of Piraeus, Greece Technical which occurs with the selfless contribution of University of Athens, Greece participants who offer their work to the global scientific PROFESSOR EFSTATHIOS TSACHALIDIS community] Department of Forestry and Environmental Hon. Managing Editor Management Democritus University of Thrace, President and Chair, Journals Management Greece PROFESSOR PETER NIJKAMP Committee (RSI J – ΚΠΕ - R ICR – ZRW) Free University Faculty of Economics and Business PROFESSOR MOH’D AHMAD AL-NIMR Administration, Department of Spatial Economics Mechanical Engineering Department Dr Christos Ladias Amsterdam, the Netherlands Jordan University of Science and Technology, Irbid – Jordan Legal Committee Editors PROFESSOR IOANNIS MAZIS Lukas Apostolidis, Associate Professor Dimitrios PROFESSOR IOANNIS MOURMOURIS Department of Turkish and Modern Asian Studies Panagiotopoulos, Assistant Professor Panagiotis Department of International Economic Relations and National and Kapodistrian Kribas, Dr Leandros Lefakis, -

Sustentabilidade Dos Sistemas Intensivos De Produção Animal
Banco Português de Germoplasma Animal e Tecnologias da Reprodução AEM Horta Investigador Coordenador Unidade de Recursos Genéticos Reprodução e Melhoramento Animal Instituto Nacional de Recursos Biológicos – IP, INIA Santarém Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas Introdução Portugal possui um património genético animal extremamente rico e diversificado Raças autóctones reconhecidas Bovinos - 15 Ovinos - 15 Caprinos - 5 Suínos - 3 Equídeos - 4 Aves - 3 Maioria das raças estão consideradas em risco de extinção BPGA - Objectivos Assegurar a preservação dos Recursos Genéticos Animais Bovinos, ovinos, caprinos e suínos Garantir a conservação de raças em risco de extinção Promover a manutenção da variabilidade genética intra-racial, contrariando a erosão genética que se tem verificado Divulgar o património genético autóctone. BPGA - Organização Projecto AGRO 438 Recolha de sémen, embriões e DNA Parceiros do Projecto INRB – ex-EZN: Vale de Santarém Direcção Geral de Veterinária DRAP Norte Merelim - Braga FERA – S. Torcato DRAP Alentejo Hde Abóbada Universidade de Évora: Évora BPGA – Sémen bovino Raça Nº machos Nº doses Alentejana 40 43870 Algarvia 4 2005 Arouquesa 18 23030 Barrosã 39 12077 Cachena 12 4045 Garvonesa 9 2767 Jarmelista 3 1039 Maronesa 13 9973 Marinhoa - - Mertolenga 28 13288 Minhota 20 43330 Mirandesa 17 7818 Preta 18 8167 Ramo Grande 5 3500 Total 226 174 909 BPGA – Sémen ovino e caprino Raça Nº machos Nº doses Ch Gal Mirand 10 1808 Saloia 2 363 S Estrela 14 1698 Mer B Baixa 7 -

Bovinos / Veal and Beef 53
Enquadramento dos Recursos genéticos Animais no Noroeste Atlântico JOSÉ PEDRO PINTO DE ARAÚJO Grupo Disciplinar de Ciências Agronómicas e Veterinárias Resumo desta contribuição • Recursos Genéticos • Sistemas produtivos • Criadores • Bem-estar animal • Qualidade dos produtos World population prospects (https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf Increase: 1.8% / year ≈ adicionalmente 83 milhões hab /year. • 8.5 billiões: 2030 • 9.7 » : 2050 • 11.2 » : 2100. Year 1950 2015 2030 2050 2100 Mundo (Biliões) 2,5 7,3 8,5 9,7 11,2 Var. (2015/30) 15,7 Portugal (*1000) 8 417 10 350 9 845 9 216 7 407 Var. (2015/30) -4,9 3 World meat projections (OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025 http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/data/oecd-agriculture-statistics_agr-data-en) WORLD 2016 2017 2018 2019Var 2016/252020 2021 2022 2023 2024 2025 BEEF AND VEAL + 12,5 Production kt cwe 69 106 70 029 70 891 72 239 73 141 74 185 75 164 75 974 76 894 77 766 Consumption kt cwe 68 832 69 718 70 598 71 934 72 836 73 874 74 851 75 666 76 586 77 461 PIGMEAT + 10,6 Production kt cwe 118 402 119 920 121 533 123 045 124 468 125 838 127 115 128 528 129 833 131 001 Consumption kt cwe 118 398 119 742 121 337 122 833 124 261 125 640 126 914 128 325 129 628 130 797 + 13,9 POULTRY MEAT Production kt rtc 115 192 117 630 119 321 120 886 122 758 124 393 126 059 127 889 129 568 131 255 Consumption kt rtc 115 247 117 608 119 321 120 895 122 766 124 392 126 058 127 888 129 565 131 255 + 20,5 SHEEP MEAT Production kt cwe 14 473 14 778 15 076 15 426 15 800 16 229 16 571 16 844 17 113 17 438 Consumption kt cwe 14 492 14 805 15 107 15 453 15 818 16 229 16 562 16 844 17 105 17 430 TOTAL MEAT Per capita kg rwt 34,3 34,4 34,6 34,7 34,8 34,9 35,0 35,1 35,2 35,3 consumption (1) + 2,9 4 Balanço aprov. -

Livro De Atas
Livro de Atas UID/SOC/04011/2013 UID/CVT/00772/2013 Raças Autóctones, Economia Local e Paisagem Rural - Livro de Atas do Congresso Ibérico Organizadores: Manuel Luís Tibério; Ana Alexandra Marta-Costa; Rita Payan Carreira; José Manuel Lorenzo Rodriguez; Sónia Abreu Editora: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro ISBN: 978-989-704-217-1 ÍNDICE ÍNDICE ............................................................................................................... I COMISSÃO ORGANIZADORA ...................................................................................... 1 COMISSÃO CIENTÍFICA ............................................................................................ 1 RAÇAS AUTÓCTONES, MULTIFUNCIONALIDADE E ESPECIALIZAÇÃO PRODUTIVA .................. 11 LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA TERNERA GALLEGA: VALORIZACIÓN DE UNA CARNE DE CALIDAD BASADA EN EL ORIGEN ..................................................................................... 13 RAÇAS AUTÓCTONES, MULTIFUNCIONALIDADE E ESPECIALIZAÇÃO PRODUTIVA ............................... 15 PARÂMETROS REPRODUTIVOS EM GANADARIAS BRAVAS PORTUGUESAS ...................................... 17 AVALIAÇÃO DA CRIOPRESERVAÇÃO E POSTERIOR CAPACIDADE FECUNDANTE DE SÉMEN DE TOURO DA RAÇA BRAVA NOS AÇORES A PARTIR DA RECOLHA POST-MORTEM.................................................. 21 INDICADORES PRODUTIVOS DA RAÇA AUTÓCTONE OVINA CHURRA DO MINHO ................................ 23 EFEITO DA DEPRESSÃO CONSANGUÍNEA NO PESO DE CARCAÇA E NO PESO DE CARCAÇA POR DIA DE IDADE