José Da Cunha Taborda
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Memória De Vieira Portuense (1810-Ca.1865)
Revista da Faculdade de Letras CIÊNCIAS E TÉCNICAS DO PATRIMÓNIO Porto 2013 Volume XII, pp. 293-304 Galeria breve: memória de Vieira Portuense (1810-ca.1865) Agostinho ARAÚJO FLUP/DCTP - CITCEM Resumo Figura nuclear do Neoclassicismo, o desenhador, pintor, gravador e professor Francisco Vieira Júnior (1765-1805) foi entre nós o artista que, em escolhido e não fugaz percurso cosmopolita, mais fecundamente soube colher instrução atualizada e desafio profissional. Sensível e metódico, desenvolveu o seu talento buscando sempre harmonizar conhecimento e imaginação, solidez e finura, Natureza e História, missão cultural e autenticidade íntima. Um sentimentalismo afável, alguma melancolia, a doença fatal aos quarenta anos, ajudaram ainda à rápida formação em seu redor de um devocionário post-mortem, muito para além do notável equilíbrio de créditos formais e estéticos de toda a sua operosidade. Palavras-chave: Mecenato; ensino artístico; coleções; exposições Abstract Francisco Vieira Junior (1765-1805) was a painter, and also an academic teacher, who became a fundamental pivot of the arrival of Neoclassicism to Portugal. Its progressive and selected training path, internationally determined (Italy, Germany, England), was soon followed by a large and applauded professional practice. Versatile in many genres, he devoted himself more to the study of Nature and History, cultivating scholarship and creativity. Very balanced in its technical qualities and aesthetic options, Vieira synthesized a stylish and sentimental eclecticism. His attitude was always methodical but open and friendly. When he died, forty years old only, some major institutional projects were frustrated. But the uniqueness and consistency of his life and work, in the national context, explain why a rapidly growing devotion was formed around his image. -
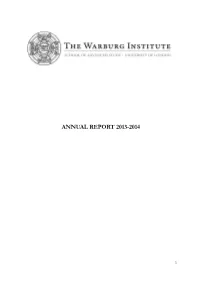
Annual Report 2013-2014
ANNUAL REPORT 2013-2014 1 The Warburg Institute exists principally to further the study of the classical tradition, that is of those elements of European thought, literature, art and institutions which derive from the ancient world. It houses an Archive, a Library and a Photographic Collection. It is one of the ten member Institutes of the School of Advanced Study of the University of London. The classical tradition is conceived as the theme which unifies the history of Western civilization. The bias is not towards ‘classical’ values in art and literature: students and scholars will find represented all the strands that link medieval and modern civilization with its origins in the ancient cultures of the Near East and the Mediterranean. It is this element of continuity that is stressed in the arrangement of the Library: the tenacity of symbols and images in European art and architecture, the persistence of motifs and forms in Western languages and literatures, the gradual transition, in Western thought, from magical beliefs to religion, science and philosophy, and the survival and transformation of ancient patterns in social customs and political institutions. The Warburg Institute is concerned mainly with cultural history, art history and history of ideas, especially in the Renaissance. It aims to promote and conduct research on the interaction of cultures, using verbal and visual materials. It specializes in the influence of ancient Mediterranean traditions on European culture from the Middle Ages to the modern period. Its open access library has outstanding strengths in Byzantine, Medieval and Renaissance art, Arabic, Medieval and Renaissance philosophy, the history of religion, science and magic, Italian history, the history of the classical tradition, and humanism. -

Places of Prayer in the Monastery of Batalha Places of Prayer in the Monastery of Batalha 2 Places of Prayer in the Monastery of Batalha
PLACES OF PRAYER IN THE MONASTERY OF BATALHA PLACES OF PRAYER IN THE MONASTERY OF BATALHA 2 PLACES OF PRAYER IN THE MONASTERY OF BATALHA CONTENTS 5 Introduction 9 I. The old Convent of São Domingos da Batalha 9 I.1. The building and its grounds 17 I. 2. The keeping and marking of time 21 II. Cloistered life 21 II.1. The conventual community and daily life 23 II.2. Prayer and preaching: devotion and study in a male Dominican community 25 II.3. Liturgical chant 29 III. The first church: Santa Maria-a-Velha 33 IV. On the temple’s threshold: imagery of the sacred 37 V. Dominican devotion and spirituality 41 VI. The church 42 VI.1. The high chapel 46 VI.1.1. Wood carvings 49 VI.1.2. Sculptures 50 VI.2. The side chapels 54 VI.2.1. Wood carvings 56 VI.3. The altar of Jesus Abbreviations of the authors’ names 67 VII. The sacristy APA – Ana Paula Abrantes 68 VII.1. Wood carvings and furniture BFT – Begoña Farré Torras 71 VIII. The cloister, chapter, refectory, dormitories and the retreat at Várzea HN – Hermínio Nunes 77 IX. The Mass for the Dead MJPC – Maria João Pereira Coutinho MP – Milton Pacheco 79 IX.1. The Founder‘s Chapel PR – Pedro Redol 83 IX.2. Proceeds from the chapels and the administering of worship RQ – Rita Quina 87 X. Popular Devotion: St. Antão, the infante Fernando and King João II RS – Rita Seco 93 Catalogue SAG – Saul António Gomes SF – Sílvia Ferreira 143 Bibliography SRCV – Sandra Renata Carreira Vieira 149 Credits INTRODUCTION 5 INTRODUCTION The Monastery of Santa Maria da Vitória, a veritable opus maius in the dark years of the First Republic, and more precisely in 1921, of artistic patronage during the first generations of the Avis dynasty, made peace, through the transfer of the remains of the unknown deserved the constant praise it was afforded year after year, century soldiers killed in the Great War of 1914-1918 to its chapter room, after century, by the generations who built it and by those who with their history and homeland. -

The History of Science in Portugal (1930-1940): the Sphere of Action of a Scientific Community.*
The History of Science in Portugal (1930-1940): The sphere of action of a scientific community.* Maria de Fátima Nunes Évora University History and Philosophy of Science Study Centre [email protected] Abstract The History of Science in Portugal (1930-1940) explains the study and the fixation of the social construction of a scientific memory, recalling Maurice Halbawachs. Practices of cultural representation, civic manifestation and festive rituals were also present in the celebration of the memories of the history of scientific activity in Portugal, the scientific community and scientific institutions, from the late 19th century to the mid-20th century. We pointed out three steps; first the memory of the history of science in Portugal through the images manufactured by foreigners, especially by the Italian scientific review Archeion; second the domestic manufacture of a national memory of scientific culture and the role-played by the Portuguese Group of History of Science; third moment, the Commemorations of 1940 and the 8th Congress of the History of Portuguese Scientific Activity coordinated by Joaquim de Carvalho the famous professor of Philosophy from Coimbra’s University. The Portuguese scientific community entered the workshop of the History of Science just as it found it in the period (1930-1940), revealing a ‘brave new world’ for the field of the cultural and social construction of the scientific memory and showing us today how scientists in Portugal as professionals and intellectuals play identity games! Keywords Scientific Culture; Commemorations; Cultural Practices; Portuguese 20th Century – New State 1. The Memory of Science in Portugal * Funded by Historical Studies of Scientific Images in Portugal, 17th to 20th centuries: POCTI/3545/2000 FCT, III Community Support Framework and FEDER. -
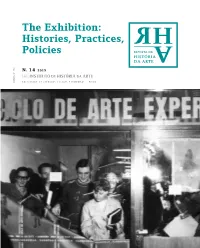
The Exhibition: Histories, Practices, Policies
The Exhibition: Histories, Practices, Policies N. 1 4 2019 issn 1646-1762 issn faculdade de ciências sociais e humanas – nova Revista de História da Arte N. 14 2019 The Exhibition: Histories, Practices and Politics BOARD (NOVA/FCSH) Margarida Medeiros (ICNOVA/NOVA/FCSH) Joana Cunha Leal Nuno Faleiro Rodrigues (CEAA, ESAP) Alexandra Curvelo Pedro Flor (IHA/NOVA/FCSH) Margarida Brito Alves Pedro Lapa (FLUL) Pedro Flor Raquel Henriques da Silva (IHA/NOVA/FCSH) SCIENTIFIC COORDINATION – RHA 14 Sandra Leandro (IHA/NOVA/FCSH; UE) Joana Baião (IHA/NOVA/FCSH; CIMO/IPB) Sandra Vieira Jürgens (IHA/NOVA/FCSH) Leonor de Oliveira (IHA/NOVA/FCSH; Courtauld Institute Sarah Catenacci (Independent art historian, Rome) of Art) Sofia Ponte (FBAUP) Susana S. Martins (IHA/NOVA/FCSH) Susana Lourenço Marques (FBAUP; IHA/NOVA/FCSH) Tamara Díaz Bringas (Independent researcher and curator, Cuba) EDITORIAL COORDINATION Victor Flores (CICANT/ULHT) Ana Paula Louro Joana Baião ENGLISH PROOFREADING Leonor de Oliveira KennisTranslations Lda. Susana S. Martins Thomas Williams REVIEWERS (IN ALPHABETICAL ORDER) PUBLISHER Alda Costa (Universidade Eduardo Mondlane, Maputo) Instituto de História da Arte (NOVA/FCSH) Ana Balona de Oliveira (IHA/NOVA/FCSH) DESIGN Ana Carvalho (CIDEHUS/UE) José Domingues Carlos Garrido Castellano (University College Cork) ISSN Giulia Lamoni (IHA/NOVA/FCSH) 1646-1762 Gregory Scholette (Queens College/City University of New York) Helena Barranha (IHA/NOVA/FCSH; IST/UL) © copyright 2019 Hélia Marçal (Tate Modern, London) The authors and the Instituto de História da Arte (NOVA/ João Carvalho Dias (Calouste Gulbenkian Foundation) FCSH) José Alberto Gomes Machado (CHAIA/UE) © cover photo Katarzyna Ruchel-Stockmans (Vrije Universiteit Brussel) View of Graciela Carnevale’s 1968 action Encierro Laura Castro (School of Arts/UCP) (Confinement), Rosario, Argentina. -

Lisbon, What the Tourist Should See
Fernando Pessoa Lisbon, what the tourist should see ... illustrated and geolocalized http://lisbon.pessoa.free.fr 1 of 48 What the Tourist Should See Over seven hills, which are as many points of observation whence the most magnificent panoramas may be enjoyed, the vast irregular and many-coloured mass of houses that constitute Lisbon is scattered. For the traveller who comes in from the sea, Lisbon, even from afar, rises like a fair vision in a dream, clear-cut against a bright blue sky which the sun gladdens with its gold. And the domes, the monuments, the old castles jut up above the mass of houses, like far-off heralds of this delightful seat, of this blessed region. The tourist's wonder begins when the ship approaches the bar, and, after passing the Bugio lighthouse 2 - that little guardian-tower at the mouth of the river built three centuries ago on the plan of Friar João Turriano -, the castled Tower of Belém 3 appears, a magnificent specimen of sixteenth century military architecture, in the romantic-gothic-moorish style (v. here ). As the ship moves forward, the river grows more narrow, soon to widen again, forming one of the largest natural harbours in the world with ample anchorage for the greatest of fleets. Then, on the left, the masses of houses cluster brightly over the hills. That is Lisbon . Landing is easy and quick enough ; it is effected at a point of the bank where means of transport abound. A carriage, a motor-car, or even a common electric trail, will carry the stranger in a few minutes right to the centre of the city. -

War, Empire and Slavery, 1770–1830 War, Culture and Society, 1750–1850
War, Empire and Slavery, 1770–1830 War, Culture and Society, 1750–1850 Series Editors: Rafe Blaufarb (Tallahassee, USA), Alan Forrest (York, UK), and Karen Hagemann (Chapel Hill, USA) Editorial Board: Michael Broers (Oxford UK), Christopher Bayly (Cambridge, UK), Richard Bessel (York, UK), Sarah Chambers (Minneapolis, USA), Laurent Dubois (Durham, USA), Etienne François (Berlin, Germany), Janet Hartley (London, UK), Wayne Lee (Chapel Hill, USA), Jane Rendall (York, UK), Reinhard Stauber (Klagenfurt, Austria) Titles include: Richard Bessel, Nicholas Guyatt and Jane Rendall (editors) WAR, EMPIRE AND SLAVERY, 1770–1830 Alan Forrest and Peter H. Wilson (editors) THE BEE AND THE EAGLE Napoleonic France and the End of the Holy Roman Empire, 1806 Alan Forrest, Karen Hagemann and Jane Rendall (editors) SOLDIERS, CITIZENS AND CIVILIANS Experiences and Perceptions of the Revolutionary and Napoleonic Wars, 1790–1820 Karen Hagemann, Gisela Mettele and Jane Rendall (editors) GENDER, WAR AND POLITICS Transatlantic Perspectives, 1755–1830 Marie-Cécile Thoral FROM VALMY TO WATERLOO France at War, 1792–1815 Forthcoming: Michael Broers, Agustin Guimera and Peter Hick (editors) THE NAPOLEONIC EMPIRE AND THE NEW EUROPEAN POLITICAL CULTURE Alan Forrest, Etienne François and Karen Hagemann (editors) WAR MEMORIES The Revolutionary and Napoleonic Wars in Nineteenth and Twentieth Century Europe Leighton S. James WITNESSING WAR Experience, Narrative and Identity in German Central Europe, 1792–1815 Catriona Kennedy NARRATIVES OF WAR Military and Civilian Experience in Britain and Ireland, 1793–1815 Kevin Linch BRITAIN AND WELLINGTONíS ARMY Recruitment, Society and Tradition, 1807–1815 War, Culture and Society, 1750–1850 Series Standing Order ISBN 978–0–230–54532–8 hardback 978–0–230–54533–5 paperback (outside North America only) You can receive future titles in this series as they are published by placing a standing order. -

IN the Kingdom of the Baroque Everyone CAN Take a SWING the SOUND of the NEW GENERATION
MY OWN LISBON MAFra Palace and monastery IN the Kingdom OF the BaroQue A golFing Paradise EVeryone can taKE A swing InterView – BuraKA Som Sistema The sound OF the new generation ART THEATRE DANCE MUSIC NIGHT ART THEATRE DANCE MUSIC NIGHT INDEX 4 Lisboa inFluences the sounds OF the new generation The different cultures that cross 12 each other in the Lisboa streets influence the rhythms of the A Journey MY OWN LISBON new generations of musicians. through The magazine-guide for visitors to Lisbon Buraka Som Sistema exists, the streets Nº 4 barely, because the group was OF Lisboa raised in the Portuguese capital, OWNED BY but its development is taking Turismo de Lisboa Praça Martim Moniz is the place across the globe. Rua do Arsenal, 15 8 starting point for a unique 1100-038 Lisboa journey through the streets T: +351 210 312 700; F: +351 210 312 899 of Lisboa by means of one E-mail: [email protected] MAFra www.visitlisboa.com of the capital’s symbols: the Palace and mythical tram 28. Monastery DIRECTOR Paula Oliveira A little less than fifty kilometres EDITOR from Lisboa, the imposing building that houses the Mafra Palace and Monastery, the most important monument of the Portuguese Baroque era, rises Edifício Lisboa Oriente Av. Infante D. Henrique, 333H, Esc. 49 majestically. 1800-282 Lisboa T: +351 21 850 81 10; F: +351 21 853 04 26 Email: [email protected] PRINTING Sogapal 100.000 copies portuguese, spanish, english, french, german, italian Registration nº 231744/05 20 Pombaline Baixa 1 November 1755, All Saints’ Day, a religious holiday. -

ULFBA TES 250 VOL. 2.Pdf
UNIVERSIDADE DE LISBOA FACULDADE DE BELAS-ARTES DESENHO ROMÂNTICO PORTUGUÊS CINCO ARTISTAS DESENHAM EM SINTRA Eduardo Manuel Alves Duarte DOUTORAMENTO EM HISTÓRIA DA ARTE Tese Orientada pelo Prof. Doutor José Fernandes Pereira 2006 ÍNDICE VOLUME I Agradecimentos.................................................................................................................................... i Arquivos................................................................................................................................................ iv PREFÁCIO .......................................................................................................................................... 1 INTRODUÇÃO.................................................................................................................................... 9 1. A breve história de uma palavra....................................................................................................... 9 2. Portugal e romantismo....................................................................................................................... 16 3. Romantismo e liberalismo................................................................................................................. 21 4. Historiografia do romantismo............................................................................................................ 25 5. Um rápido esboço do nosso romantismo........................................................................................... 37 6. Romântico, -

Political and Aesthetic Ideas in the Correspondence Related To
Miguel Figueira de Faria This paper is based on the corre- spondence of artists Domingos António de Sequeira (1768–1837) and Political and Aesthetic Ideas Francisco Vieira Portuense (1765–1805) and other epistolographic documents concerning them. In those days correspondence between in the Correspondence Related to Portuguese artists was scarce. The set of documents under study refers 1 to the active and passive letters exchanged between artists and their Domingos Sequeira and Vieira Portuense respective patrons or liaison officers during their training period in Rome. In Sequeira’s case, I have included letters to and from his family exchanged at the end of his career. The main participants in the correspondence were as follows: “On this occasion I would like to inform you of a letter Sir João de Almeida sent me in which Portugal’s ambassadors to Rome, João de Almeida de Melo e Castro [...] he tells me that I should think about returning to Lisbon [...] in order to set up a Portuguese (1756–1814) and his successor, Alexandre de Sousa Holstein (1751– school there.” 1803), the Jewels Keeper of Queen Maria I, João António Pinto da Silva, Letter from Domingos Sequeira to João Pinto da Silva2 the consul in Genoa, John Piaggio, and officials from Portuguese lega- tions, José Pereira Santiago,4 Luís Álvares da Cunha, Augusto Molloy, and Abbot Gaetano Ceni, besides other actors in this range of influence, “I must tell you that here in Lisbon you will have little to do as there is no taste for painting, and like Secretary of State Luis Pinto de Sousa Coutinho and the Bishop of consequently painters here do things of little merit, such as painting walls and ceiling frescos […] Macau – the recipients of works sent to Lisbon by the artists – and even and besides only a few portraits are made, a style which I am unsure you will be up to.”3 officialManuel de Figueiredo. -

Art Theory in Eighteenth- Century Portugal1
The discourse on utility: art theory in eighteenth- century Portugal1 Foteini Vlachou The writing of texts relating to art in Portugal before the second half of the eighteenth century was principally characterized by discontinuity.2 It was only after, roughly, the mid-eighteenth century that this area of cultural production witnessed a burst of activity,3 although assertions regarding the texts’ lack of originality or alignment with developments elsewhere in Europe still persist.4 1 I would like to thank the anonymous reviewer of this text for their input and close reading of its main argument, as well as the journal’s editor for the care and commitment in bringing it forth for publication. Unless otherwise indicated, translations are mine. This article results from a postdoctoral fellowship at the Instituto de História Contemporânea (FCSH/NOVA – financed by FEDER Funds through the COMPETE Program and by National Funds through the FCT–Fundação para a Ciência e a Tecnologia, in the context of the project UID/HIS/04209/2013). 2 Francisco de Holanda is the obvious exception here. Although his manuscripts were not published before the end of the nineteenth century, they circulated among Portuguese and Spanish intellectuals. Cyrillo Volkmar Machado had access to them, and Pedro Rodríguez Campomanes knew a Spanish translation of Holanda’s ‘Da Pintura Antigua’, belonging to the sculptor Felipe de Castro, which he refers to in his Discurso sobre la educación popular de los artesanos, y su fomento, Madrid, 1775, 99–100. The other notable exception would be Félix da Costa Meessen’s The Antiquity of the Art of Painting [1696], which was first published in a facsimile edition with an English translation in 1967 (introd. -

Museums, Monuments and Sites
Museums, Monuments and Sites Casa Museu Miguel Torga Centro Português do Surrealismo Address: Praceta Fernando Pesssoa, nº 33030 Coimbra Address: Praça D. Maria II4760-111 Vila Nova de Telephone: +351 239 781 345 Famalicão Telephone: +351 252 301 650 Fax: +351 252 301 669 E-mail: [email protected] Website: http://www.turism odecoimbra.pt/company/casa-museu-miguel-torga/ E-mail: [email protected] Website: https://www.cupertino.pt/ Timetable: ; Other informations: Characteristics and Services: Monday to Friday: 10:00 a.m. to 12:30 p.m. and 2:00 p.m. to Guided Tours; 6:00 p.m. Accessibility: Saturdays and holidays: 14h00 - 18h00 (during the period of Disabled access; Reserved parking spaces; Accessible route to temporary exhibitions) the entrance: Total; Accessible entrance: Partial; Reception area Closed on Sundays, weekends, August and on January 1; Good suitable for people with special needs; Accessible areas/services: friday; 1st May; August 15th; 8, 24 and 25 December. Toilets, Auditorium; Care skills: Visual impairment, Hearing Characteristics and Services: impairment, Motor disability, Mental disability; Shops; Guided Tours; Accessibility: Disabled access; Accessible route to the entrance: Total; Miguel Torga House Museum Accessible entrance: Total; Reception area suitable for people with special needs; Accessible circulation inside: Total; The Miguel Torga House Museum was inaugurated on 12 August Accessible areas/services: Shop, Toilets, Auditorium; Accessible 2007. Its main aim is to provide the visitor with knowledge of the information: Information panels; Poet's work as shown through one of the most emblematic places of his life, namely his own home. Museu de Cerâmica Artística da Fundação Castro Miguel Torga, the greatest name in 20th century Portuguese literature, lived in this house since the early 1950s, until January Alves 1995.