Universidade De Brasília Emerson Dionisio Gomes De
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Fabio Fonseca O Bestiário Medieval Na Gravura De
FABIO FONSECA O BESTIÁRIO MEDIEVAL NA GRAVURA DE GILVAN SAMICO Brasília/2011 1 FABIO FONSECA O BESTIÁRIO MEDIEVAL NA GRAVURA DE GILVAN SAMICO Texto apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Artes do Instituto de Artes da Universidade de Brasília. Linha de Pesquisa de Teoria e História da Arte. Orientadora professora Dra. Maria Eurydice de Barros Ribeiro Brasília/2011 2 Fabio Fonseca O bestiário medieval na gravura de Gilvan Samico Dissertação apresentada ao Instituto de Artes da Universidade de Brasília como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Artes Visuais. Linha de Pesquisa: Teoria e História da Arte. Orientadora professora Dra. Maria Eurydice de Barros Ribeiro. Profª. Dra. Maria Eurydice de Barros Ribeiro – UnB/IdA Presidente Profª. Dra. Maria Filomena Coelho – UnB/HIS Examinadora Prof. Dr. Pedro Andrade Alvim – UnB/IdA Examinador Brasília/2011 3 Agradecimentos Agradeço às instituições que apoiaram a realização do mestrado. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela bolsa de mestrado que possibilitou seu desenvolvimento. A Fundação Universidade de Brasília (FUB) pelo apoio concedido, por meio de editais disponibilizados pelo Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação, para apresentação de trabalho em evento científico e pelo financiamento da entrevista feita com o artista. A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF) pelo apoio concedido por meio de edital para apresentação de trabalho em evento científico. Agradeço à professora Dra. Elisa de Souza Martinez e à professora Dra. Sara Amélia Almarza, pelas leituras e discussões em suas disciplinas e pelas considerações precisas feitas na banca de qualificação, que contribuíram de modo fundamental com o desenvolvimento dessa pesquisa. -

HERITAGE UNDER SIEGE in BRAZIL the Bolsonaro Government Announced the Auction Sale of the Palácio Capanema in Rio, a Modern
HERITAGE UNDER SIEGE IN BRAZIL the Bolsonaro Government announced the auction sale of the Palácio Capanema in Rio, a modern architecture icon that was formerly the Ministry of Education building FIRST NAME AND FAMILY NAME / COUNTRY TITLE, ORGANIZATION / CITY HUBERT-JAN HENKET, NL Honorary President of DOCOMOMO international ANA TOSTÕES, PORTUGAL Chair, DOCOMOMO International RENATO DA GAMA-ROSA COSTA, BRASIL Chair, DOCOMOMO Brasil LOUISE NOELLE GRAS, MEXICO Chair, DOCOMOMO Mexico HORACIO TORRENT, CHILE Chair, DOCOMOMO Chile THEODORE PRUDON, USA Chair, DOCOMOMO US LIZ WAYTKUS, USA Executive Director, DOCOMOMO US, New York IVONNE MARIA MARCIAL VEGA, PUERTO RICO Chair, DOCOMOMO Puerto Rico JÖRG HASPEL, GERMANY Chair, DOCOMOMO Germany PETR VORLIK / CZECH REPUBLIC Chair, DOCOMOMO Czech Republic PHILIP BOYLE / UK Chair, DOCOMOMO UK OLA ODUKU/ GHANA Chair, DOCOMOMO Ghana SUSANA LANDROVE, SPAIN Director, Fundación DOCOMOMO Ibérico, Barcelona IVONNE MARIA MARCIAL VEGA, PUERTO RICO Chair, DOCOMOMO Puerto Rico CAROLINA QUIROGA, ARGENTINA Chair, DOCOMOMO Argentina RUI LEAO / MACAU Chair, DOCOMOMO Macau UTA POTTGIESSER / GERMANY Vice-Chair, DOCOMOMO Germany / Berlin - Chair elect, DOCOMOMO International / Delft ANTOINE PICON, FRANCE Chairman, Fondation Le Corbusier PHYLLIS LAMBERT. CANADA Founding Director Imerita. Canadian Centre for Architecture. Montreal MARIA ELISA COSTA, BRASIL Presidente, CASA DE LUCIO COSTA/ Ex Presidente, IPHAN/ Rio de Janeiro JULIETA SOBRAL Diretora Executiva, CASA DE LUCIO COSTA, Rio de Janeiro ANA LUCIA NIEMEYER/ BRAZIL -

O Verde Na Metrópole: a Evolução Das Praças E Jardins Em Curitiba (1885-1916)
APARECIDA VAZ DA SILVA BAHLS O VERDE NA METRÓPOLE: A EVOLUÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS EM CURITIBA (1885-1916) Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Mestre. Curso de Pós-Graduação em História, Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Paraná. Orientadora: Prof.a Dr.a Maria Luiza Andreazza. Co-orientador: Prof. Dr. Magnus Roberto de Mello Pereira CURITIBA 1998 AGRADECIMENTOS À Fundação Cultural de Curitiba, sem a qual este trabalho não poderia ter se concretizado, em especial à Professora Oksana Boruszenko, Diretora do Patrimônio Histórico-Cultural. Aos professores Etelvina Maria de Castro Trindade, Magnus Roberto de Mello Pereira e Maria Luiza Andreazza, pela orientação e apoio. Aos funcionários dos arquivos pesquisados: Arquivo Público do Paraná, Biblioteca Pública do Paraná, Casa da Memória e, especialmente, a Helena Soares, do Museu Paranaense. A meus pais, pelo incentivo, e aos parentes e amigos: Aarão, Adão, Afonso, André, Antony, Edward, Fernanda, Gabriel, Gisele, Isabel, Marcelo e Solange. Com amor, ao meu marido Allan, pela compreensão, apoio e auxílio nos momentos difíceis. SUMÁRIO INTRODUÇÃO 01 PARTE I - A CIDADE E O VERDE 09 1 O VERDE NO SURGIMENTO DO URBANISMO MODERNO 10 1.1 A FÁBRICA EA CIDADE 11 1.2 A CIDADE E SUAS TRANSFORMAÇÕES NA ERA INDUSTRIAL 14 1.3 MORAR NA CIDADE INDUSTRIAL 17 1.4 0 PODER PÚBLICO E OS PROBLEMAS URBANOS 21 1.5 AS NOVAS CONCEPÇÕES URBANÍSTICAS 30 1.60 VERDE NA METRÓPOLE 37 2 O VERDE E O DESENVOLVIMENTO DO URBANISMO NO BRASIL 49 2.1 AS TRANSFORMAÇÕES URBANAS NO BRASIL OITOCENTISTA... -

PRESIDENTE DA REPUBLICA Ernesto Geisel
PRESIDENTE DA REPUBLICA - Ernesto Geisel MINISTRO DA EDUCAÇAO E CULTURA - Euro Brandão PRESIDENTE DA FUNARTE - Jose Candido de Carvalho CONSELHO CURADOR DA FUNARTE: Raimundo Jose de Miranda Souza (Presidente) Raymundo Faoro Maximo Ivo Domingues Clenicio da Silva Duarte Robson de Almeida Lacerda Waldir Trigueiro da Gama Jose Augusto da Silva Reis Andre Spitzman Jordan Raul Christiano de Sanson Portela Sumário: Histórico - 1 Considerações gerais - 3 Artes plásticas - 5 Música - 13 Folclore - 31 Projetos integrados - 37 Documentacao e pesquisa - 45 Salas da funarte - 57 Restauração e conservação - 63 Histórico: Visando a uma participação coordenada dos mecanismos culturais, sem interferir na livre criatividade, e atuando dentro de um programa de realização voltado para a tarefa de levar á todos os brasileiros uma cultura acessivel, criou-se em 8 de agosto de 1973 o Programa de Ação Cultural, PAC, vinculado á estrutura do Departamento de Assuntos Culturais do MEC. Despertando o interesse para uma area do Ministério da Educação e Cultura que até então não era considerada prioritaria, procurou o PAC ampliar e diversificar as programações nas areas culturais que abrangia, dirigindo sua atuação no sentido da interiorização da cultura mediante um sistema de cooperação entre orgãos culturais publicos, privados e universidades. Tendo alcançado este plano repercussão altamente positiva como propulsor de atividades culturais, sentiu-se necessidade de reformular sua estrutura atraves de uma dinamica nova que evitasse os entraves administrativos, acelerando sua operacionalidade. Instituiu-se entao, pela Lei 6.312 de 16 de dezembro de 1975, a Fundação Nacional de Arte, com a finalidade de promover, incentivar e amparar, em todo o territorio nacional, a pratica, o desenvolvimento e a difusao das atividades artisticas. -

A Educação Ambiental Através Da Arte: Contribuições De Frans Krajcberg
UNIVERSIDADE DE SOROCABA PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO Adriana Teixeira de Lima A EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DA ARTE: CONTRIBUIÇÕES DE FRANS KRAJCBERG Sorocaba/SP 2007 Adriana Teixeira de Lima A EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DA ARTE: CONTRIBUIÇÕES DE FRANS KRAJCBERG Dissertação apresentada à Banca Examinadora do Programa de Pós- Graduação em Educação da Universidade de Sorocaba, como exigência parcial para obtenção do título de Mestre em Educação. Orientador: Prof. Dr. Marcos Antonio dos Santos Reigota Sorocaba/SP 2007 Adriana Teixeira de Lima Ficha Catalográfica Lima, Adriana Teixeira de L696e A educação ambiental através da arte: contribuições de Frans Kajcberg / Adriana Teixeira de Lima. -- Sorocaba, SP, 2007. 247 f.; il. Orientador: Dr. Marcos Antonio dos Santos Reigota. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade de Sorocaba, Sorocaba, SP, 2007. Contém anexos 1. Educação ambiental. 2. Krajcberg, Frans, 1921 - . 3. Arte na educação. I. Reigota, Marcos Antonio dos Santos, orient. II. Universidade de Sorocaba. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DA ARTE: CONTRIBUIÇÕES DE FRANS KRAJCBERG Dissertação aprovada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Sorocaba. Aprovado em: BANCA EXAMINADORA: Ass. _______________________________ _ 1º Exam.: Profª. Drª. Andréa Focesi Pelicioni – UniFMU/São Paulo Ass. _______________________________ _ 2º Exam.: Profª. Drª. Eliete Jussara Nogueira – UNISO/Sorocaba Em memória de Carolina Fonseca Ribeiro de Lima, minha avó paterna. A meus filhos Paulo Sérgio e Ana Paula. Aos professores/as que instigaram meu caminhar. Ao Professor Marcos Reigota que orientou-me na descoberta de identidades. AGRADECIMENTOS A Deus. Força maior e presente em todos os momentos da minha vida. -

TESE José Bezerra De Brito Neto.Pdf
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA – DOUTORADO LINHA DE PESQUISA: CULTURA E MEMÓRIA “QUEM SE ASSOCIA SE AFIA”: HISTÓRIA(S) SOBRE A PROFISSIONALIZAÇÃO DOS ARTISTAS PLÁSTICOS EM PERNAMBUCO RECIFE 2017 JOSÉ BEZERRA DE BRITO NETO “QUEM SE ASSOCIA SE AFIA”: HISTÓRIA(S) SOBRE A PROFISSIONALIZAÇÃO DOS ARTISTAS PLÁSTICOS EM PERNAMBUCO Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), como parte dos requisitos para à obtenção do título de Doutor em História. Orientadora: Profª. Drª. Regina Beatriz Guimarães Neto Linha de Pesquisa: Cultura e Memória RECIFE 2017 Catalogação na fonte Bibliotecária Maria do Carmo de Paiva, CRB4-1291 B862q Brito Neto, José Bezerra. “Quem se associa se afia” : história(s) sobre a profissionalização dos artistas plásticos em Pernambuco / José Bezerra Brito Neto. – 2017. 274 f. : il. ; 30 cm. Orientadora: Profª. Drª. Regina Beatriz Guimarães Neto. Tese (doutorado) - Universidade Federal de Pernambuco, CFCH. Programa de Pós-graduação em História, 2017. Inclui referências, apêndices e anexos. 1. História. 2. Artes. 3. Artistas. 4. Associações profissionais – Recife (PE). I. Guimarães Neto, Regina Beatriz (Orientadora). II. Título 981.34 CDD (22. ed.) UFPE (BCFCH2017-264) JOSÉ BEZERRA DE BRITO NETO “QUEM SE ASSOCIA SE AFIA”: HISTÓRIA(S) SOBRE A PROFISSIONALIZAÇÃO DOS ARTISTAS PLÁSTICOS EM PERNAMBUCO Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), como requisito parcial para à obtenção do título de Doutor em História Aprovada em 03/10/2017 BANCA EXAMINADORA: ___________________________________________________________________________ Orientadora- Profª. Drª. Regina Beatriz Guimarães Neto- UFPE __________________________________________________________________________ Prof. Dr. Francisco Cabral Alambert Júnior – USP __________________________________________________________________________ Prof. -

O QUE SE VÊ NO CERRADO Por Agnaldo Farias
O QUE SE VÊ NO CERRADO por Agnaldo Farias Se é fato que um artista muda, que fique claro que ele muda em função de sua obra, por imposições dela, por caminhos que ela só concede ao ser construída, o que se faz frequentando materiais e instru- mentos, e é por eles que ela vai se abrindo em alternativas que o artista sequer imaginava de antemão, até porque, nesses casos, nunca se sabe exatamente o que se quer. Parafraseando Paul Klee, “o artista sabe tudo, mas só quando acaba”. Assim será mais acertado afirmar que o artista não muda por si só mas, sim, na construção de sua obra. Formulação que serve para dissipar de uma vez por todas esse grande mal en- tendido que consiste em supor que de um lado estamos nós e de outro o mundo e, mais do que isso, que pre- valecemos sobre ele. Convém não esquecer que o mundo, ponto de meu apoio em sentido amplo, é o que me move. Movo-me nele e por causa dele. E é por seu intermédio, no contato com a matéria variada, dando-me conta de suas idiossincrasias, aprendendo sua maneira de ser, que eu me faço. Como argumenta Joseph Brodsky, a biografia de um poeta “está em suas vogais e sibilantes, em sua métrica, em suas rimas e metáforas”( 1 ), raciocínio que, em se tratando de um músico, deve ser pensado na maneira com que ele lida com os timbres, alturas e durações, prevendo sua florescência nos instrumentos musicais, em seu controle do silêncio e em sua capacidade de articulá-lo com o som; no pintor traduz-se numa história pessoal que se monta já a partir da escolha do tamanho do papel ou da tela, do campo – não necessariamente branco -, retesado ou não em bastidores de madeira, de pé, fixado sobre o planos vertical da parede ou aberto sobre o chão como uma piscina aparentemente seca, inenfática somente para aqueles que não sabem ver, e que ele ousa desafiar armado de cores que podem vir em pó ou misturadas ao óleo, solvente, pincel, lápis, mão, sabe-se lá do que mais, dado que virtualmente infinitos os meios que se pode fazer uso com a intenção de fazer com que algo medre ali. -

A Arte Como Objeto De Políticas Públicas
FAVOR CORRIGIR O TAMANHO DA LOMBADA DE ACORDO COM A MEDIDA DO MIOLO n. 13 2012 REVISTA OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL ITAÚ NÚMERO A arte como objeto de políticas públicas Banco de dados e pesquisas como instrumentos de construção de políticas O mercado das artes no Brasil .13 Artista como trabalhador: alguns elementos de análise itaú cultural avenida paulista 149 [estação brigadeiro do metrô] fone 11 2168 1777 [email protected] www.itaucultural.org.br twitter.com/itaucultural youtube.com/itaucultural Foto: iStockphoto Centro de Documentação e Referência Itaú Cultural Revista Observatório Itaú Cultural : OIC. – n. 13 (set. 2012). – São Paulo : Itaú Cultural, 2012. Semestral. ISSN 1981-125X 1. Política cultural. 2. Gestão cultural. 3. Arte no Brasil. 4. Setores artísticos no Brasil. 5. Pesquisa 6. Produção de conhecimento I. Título: Revista Observatório Itaú Cultural. CDD 353.7 .2 n. 132012 SUMÁRIO .06 AOS LEITORES Eduardo Saron .08 O BANCO DE DaDos DO ItaÚ Cultural: sobre O PassaDO E O Futuro Fabio Cypriano .23 CoNHECER PARA atuar: A IMPortÂNCIA DE ESTUDos E PESQuisas NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A Cultura Ana Letícia Fialho e Ilana Seltzer Goldstein .33 SOBRE MOZart: soCioloGIA DE UM GÊNIO, DE Norbert ELIAS Dilma Fabri Marão Pichoneri .39 AS ESPECIFICAÇÕES DO MERCADO DE artes Visuais NO BRASIL: ENTREVista COM GeorGE KORNIS Isaura Botelho .55 Arte, Cultura E SEUS DEMÔNios Ana Angélica Albano .63 QuaNDO O toDO ERA MAIS DO QUE A soma DAS Partes: ÁLBUNS, SINGLES E os rumos DA MÚSICA GRAVADA Marcia Tosta Dias .75 CINEMA PARA QUEM PRECisa Francisco Alambert .85 O Direito ao teatro Sérgio de Carvalho .93 MÚSICA, DANÇA E artes Visuais: ASPECtos DO TRABALHO artÍSTICO EM DISCUSSÃO Liliana Rolfsen Petrilli Segnini .3 Revista Observatório Itaú Cultural n. -

Paulonascimentoverano.Pdf
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Escola de Comunicações e Artes Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação PAULO NASCIMENTO VERANO POR UMA POLÍTICA CULTURAL QUE DIALOGUE COM A CIDADE O caso do encontro entre o MASP e o graffiti (2008-2011) São Paulo 2013 PAULO NASCIMENTO VERANO POR UMA POLÍTICA CULTURAL QUE DIALOGUE COM A CIDADE O caso do encontro entre o MASP e o graffiti (2008-2011) Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, como requisito para obtenção do título de mestre em Ciência da Informação. Orientadora: Profª Drª Lúcia Maciel Barbosa de Oliveira Área de concentração: Informação e Cultura São Paulo 2013 Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa desde que citada a fonte. PAULO NASCIMENTO VERANO POR UMA POLÍTICA CULTURAL QUE DIALOGUE COM A CIDADE O caso do encontro entre o MASP e o graffiti (2008-2011) Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, como requisito para obtenção do título de mestre em Ciência da Informação. BANCA EXAMINADORA _____________________________________________________ a a Prof Dr Lúcia Maciel Barbosa de Oliveira (orientadora) Universidade de São Paulo _____________________________________________________ Universidade de São Paulo _____________________________________________________ Universidade de São Paulo CLARICE, CLARIDADE, CLARICIDADE. AGRADECIMENTOS Sou profundamente grato à Profa Dra Lúcia Maciel Barbosa de Oliveira pela oportunidade dada para a realização deste estudo. Sua orientação sempre presente e amiga, o diálogo aberto, as aulas ministradas, as indicações bibliográficas, a leitura atenta e exigente durante todas as fases desta dissertação, dos esboços iniciais à versão final. -

Temporada 2014 32 Assinaturas 144
MINISTÉRIO DA CULTURA, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E SECRETARIA DA CULTURA APRESENTAM 2014 TEMPORADA ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO TEMPORADA 2014 32 ASSINATURAS 144 Capa_Assinatura_4.0.indd 1 25/10/13 11:40 Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo prepara uma temporada inesquecível com grande satisfação, e plena certeza da importância em dar continuidade ao tra- para celebrar, em 2014, seus 60 anos de existência. balho desta entidade, que me dirijo ao público da Orquestra Sinfônica do Estado A É uma oportunidade especial para desfrutar da beleza e da técnica desta que é Éde São Paulo, pela primeira vez, na condição de presidente do seu Conselho a melhor orquestra sinfônica do Brasil e, por sua excelência, reconhecida internacional- Administrativo. mente como uma das melhores do mundo. Não é missão fácil suceder o ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso, que, Num testemunho da força e do acerto do modelo de gestão implantado pela Fundação Osesp, ao longo dos últimos oito anos desempenhou esta função com muito empenho e competência. a orquestra vê fortalecida sua vocação de promover transformações culturais e sociais profundas. Uma coisa é certa: daremos continuidade ao amparo, criação e fomento de novas Têm destaque, em sua programação, os concertos a preço popular, os concertos ma- ideias que ampliem a visibilidade da instituição e fortaleçam seu vínculo com a socie- tinais gratuitos e as apresentações ao ar livre. E é motivo de grande orgulho o Osesp dade. Seguiremos com o propósito de excelência e disseminação da cultura, que per- Itinerante e os programas educativos da Fundação. -
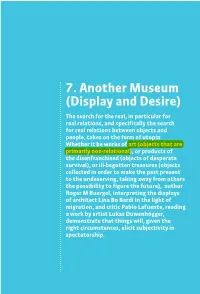
7. Another Museum (Display and Desire)
7. Another Museum (Display and Desire) The search for the real, in particular for real relations, and specifically the search for real relations between objects and people, takes on the form of utopia. Whether it be works of art (objects that are primarily non-relational), or products of the disenfranchised (objects of desperate survival), or ill-begotten treasures (objects collected in order to make the past present to the undeserving, taking away from others the possibility to figure the future), author Roger M Buergel, interpreting the displays of architect Lina Bo Bardi in the light of migration, and critic Pablo Lafuente, reading a work by artist Lukas Duwenhögger, demonstrate that things will, given the right circumstances, elicit subjectivity in spectatorship. agency, ambivalence, analysis: approaching the museum with migration in mind — 177 The Migration of a Few Things We Call − But Don’t Need to Call − Artworks → roger m buergel → i In 1946, 32-year-old Italian architect Lina Bo Bardi migrated to Brazil. She was accompanying her husband, Pietro Maria Bardi, who was a self- taught intellectual, gallerist and impresario of Italy’s architectural avant garde during Mussolini’s reign. Bardi had been entrusted by Assis de Chateaubriand, a Brazilian media tycoon and politician, with creating an art institution of international standing in São Paulo. Te São Paulo Art Museum (MASP) had yet to fnd an appropriate building to house its magnifcent collection of sculptures and paintings by artists ranging from Raphael to Manet. Te recent acquisitions were chosen by Bardi himself on an extended shopping spree funded by Assis Chateaubriand, who had taken out a loan from Chase Manhattan Bank in an impoverished, chaotic post-war Europe. -

A Visceral Azulejaria De Adriana Varejão / Priscila Beatriz Alves Andreghetto
A visceral azulejaria de Adriana Varejão UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULSITA “JULIO DE MESQUITA FILHO” INSTITUTO DE ARTES – IA/UNESP Priscila Beatriz Alves Andreghetto Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes, área de concentração Artes Visuais, linha de pesquisa Abordagens Teóricas, Histórias e Culturais da Arte, no Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, sob orientação do Prof. Dr. José Leonardo do Nascimento como requisito para obtenção do título de mestre. São Paulo, junho 2015 Ficha catalográfica preparada pelo Serviço de Biblioteca e Documentação do Instituto de Artes da UNESP A558h Andreghetto, Priscila Beatriz Alves, 1960 A visceral azulejaria de Adriana Varejão / Priscila Beatriz Alves Andreghetto. - São Paulo, 2015. 175 f. : il. Orientador: Prof. Dr. José Leonardo do Nascimento Dissertação (Mestrado em Artes) – Universidade Estadual Paulista, Instituto de Artes. 1. Varejão, Adriana. 2. Arte e história. 3. Arte brasileira – Período colonial. 4. Trabalhos em azulejo. 5. Mestiçagem. I. Nascimento, José Leonardo do. II. Universidade Estadual Paulista, Instituto de Artes. III. Título CDD 709.81 Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Artes Visuais pela banca composta pelos professores: BANCA _______________________________________________________ Prof. Dr. José Leonardo do Nascimento Orientador Departamento de Artes Plásticas - Instituto de Artes de São Paulo _______________________________________________________ Profa. Dra. Neide Antônia Marcondes Faria Universidade de São Paulo - Departamento de Artes Plásticas ______________________________________________________ Prof. Dr. Oscar Alejandro F. D’Ambrosio Pesquisador Independente - Instituto de Artes de São Paulo Local de defesa: Instituto de Artes, UNESP, Campus São Paulo Ao Orandyr.