No Senado Federal (1983-1990)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
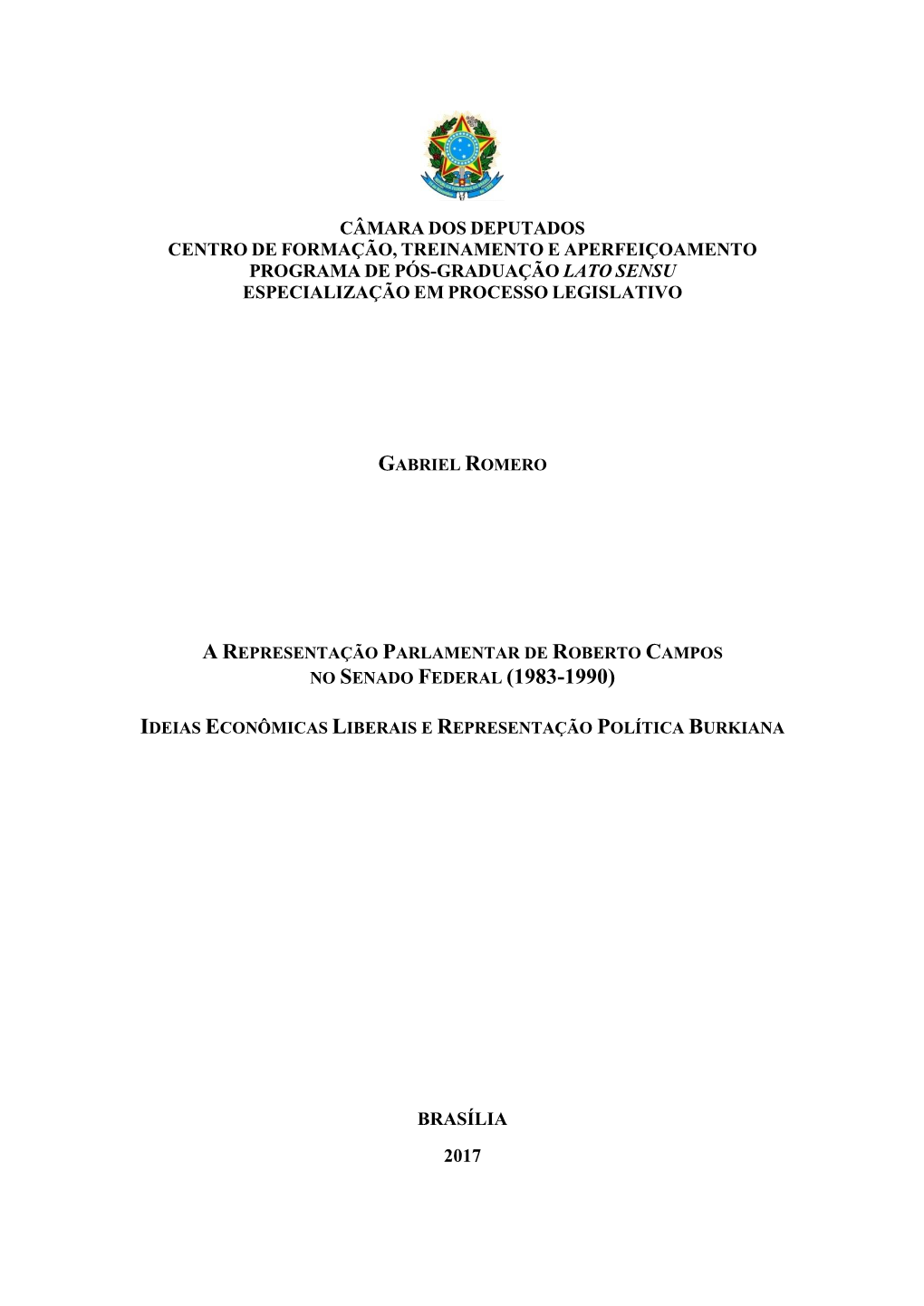
Load more
Recommended publications
-

Memórias Históricas Da Faculdade De Medicina Da Bahia 1916 – 1923 ─────1925 – 1941 Anexo 1
MEMÓRIAS HISTÓRICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA 1916 – 1923 ─────1925 – 1941 ANEXO 1 Memórias da Participação da FMB em Acontecimentos Notáveis do Século XIX Epidemia de “Cholera morbus” de 1855 Guerra do Paraguai Abolicionismo Canudos CRISTINA MARIA MASCARENHAS FORTUNA Salvador – Bahia – Brasil 2 0 1 2 ÍNDICE - Agradecimentos 3 - Introdução 4 - A Epidemia de “Cholera morbus” de 1855 na Bahia e a FMB 5 - A Guerra do Paraguai e a FMB 70 - O Movimento Abolicionista no Brasil e a FMB 153 - Canudos e a FMB 187 AGRADECIMENTOS A Profa. Achilea Lisboa Bittencourt, filha do Farmacêutico Achilles Farias Lisboa, pelas informações e material fornecido sobre a fascinante História de seu ilustre genitor. A Profa. Julieta Gonçalves Diniz, guardiã das preciosas memórias do notável clã dos Gonçalves Diniz, em que várias gerações tiveram importantes participações na História da FMB. Ao Dr. José Roberto Campos de Barros, bisneto do Dr. Antônio Joaquim de Barros Sobrinho pelas informações fornecidas do admirável Abolicionista que foi seu bisavô. A Sra. Rosa Carmela Orrico Dalforno responsável pela totalidade da digitação. 3 INTRODUÇÃO Ao ser fundada, em 18 de fevereiro de 1808, a ‘Escola de Cirurgia da Bahia”, desde o início de sua existência e nas sucessivas alterações que sofreu, que a transformaram no “Colégio Médico Cirúrgico da Bahia” (1816) e “Faculdade de Medicina da Bahia” (1832), contribuiu para a formação de homens que teriam papéis relevantes em episódios que moldariam as transformações e a história do povo brasileiro. Alguns deles, inclusive, participando de vários destes fatos históricos. Para a preservação de nomes relacionados a FMB que tiveram presença em notáveis acontecimentos do século XIX procedemos este levantamento, já que muitas fontes primárias da FMB estão em precaríssimo estado de conservação podendo, em pouco tempo, estarem irremediavelmente perdidas. -

O PFL Sob a Ótica Do Carlismo E Do Macielismo
Universidade Católica de Pernambuco Pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação Curso de especialização em Ciências Políticas. As faces de um partido: o PFL sob a ótica do Carlismo e do Macielismo. Waldomiro de Souza Borges Orientador: Prof. Dr. José Afonso Chaves Recife/PE 2019. 1 Waldomiro de Souza Borges As faces de um partido: o PFL sob a ótica do Carlismo e do Macielismo. Trabalho de conclusão de curso apresentado ao programa de pós- graduação em Ciências Políticas da Universidade Católica de Pernambuco como requisito à obtenção do título de especialista. Orientador: Prof. Dr. José Afonso Chaves. Recife/PE 2019 2 Dedico este trabalho a uma mão que sempre me segurou em importante fase de minha vida acadêmica. Que foi luz em meio a um nevoeiro de incertezas, que da forma mais simples e significativa acreditou que sempre em minha potencialidade. À essa mão amiga, dedico esta pesquisa. Gustavo Krause. 3 4 Agradecimentos Agradeço a Deus pela permissão de concluir esse importante curso de Pós- graduação. Uma caminhada não tão fácil, mas que me trouxe grande aprendizado. Agradeço a minha mãe que sempre foi meu porto seguro, e aos amigos que estiveram comigo em mais um passo de minha formação: Katarina Sampaio, Vitor Duarte, Manuela Mattos, Dalila, João Maria, Victor “ARAPUÔ e a todos que fizeram parte da 10º Turma do curso de Ciências Políticas da Universidade Católica de Pernambuco. Meus agradecimentos especiais ao meu mestre a quem foi dedicado este trabalho, o senhor Gustavo Krause e a sua filha e minha amiga, Priscila Krause. Que Deus abençoe a todos. -

Universidade Estadual Do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF Centro De Ciências Do Homem Curso De Graduação Em Administração Pública
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF Centro de Ciências do Homem Curso de Graduação em Administração Pública ANÁLISE SITUACIONAL SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO CLÍNICO DO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UENF DURANTE A CRISE FINANCEIRA ESTADUAL (2014 – 2018) LAIRA THAMYS DE ARAUJO SILVA Campos dos Goytacazes – RJ 2018 LAIRA THAMYS DE ARAUJO SILVA ANÁLISE SITUACIONAL SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO CLÍNICO DO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UENF DURANTE A CRISE FINANCEIRA ESTADUAL (2014 – 2018) Monografia apresentada ao curso de graduação em Administração Pública do Centro de Ciências do Homem, da Universidade Estadual do Norte Fluminense – Darcy Ribeiro, como parte dos requisitos para a obtenção do título de bacharel em Administração Pública. Orientador: Prof. Dr. Leonardo Rogério Miguel Coorientadora: Profa. Dra. Joseane de Souza Campos dos Goytacazes - RJ 2018 LAIRA THAMYS DE ARAUJO SILVA ANÁLISE SITUACIONAL SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO CLÍNICO DO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UENF DURANTE A CRISE FINANCEIRA ESTADUAL (2014 – 2018) Monografia apresentada ao curso de graduação em Administração Pública do Centro de Ciências do Homem, da Universidade Estadual do Norte Fluminense – Darcy Ribeiro, como parte dos requisitos para a obtenção do título de bacharel em Administração Pública. Aprovada em 11 de julho de 2018 BANCA EXAMINADORA _________________________________________________________ Profa. Dra. Ana Bárbara Freitas Rodrigues (LMPA/ CCTA – UENF) ________________________________________________________ Profa. Dra. Denise Cunha Tavares Terra (LGPP/ CCH – UENF) ________________________________________________________ Profa. Dra. Joseane de Souza (LGPP/ CCH – UENF) (coorientadora) ________________________________________________________ Prof. Dr. Leonardo Rogério Miguel (LCL/ CCH – UENF) (orientador) Campos dos Goytacazes – RJ 2018 Dedico à minha filha, Luna, que um dia compreenderá o valor desta conquista para nossas vidas. -

Perfis Parlamentares 03
PERFIS PARLAMENTARES 3 NUNES MACHADO )(042) 1\-N DOS DEPUTADOS CÂMARA DOS DEPUTADOS MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Presidente: MARCO MACIEL 1'? Vice-Presidente :JOÃO LINHARES 2º Vice-Presidente: ADHEMAR SANTILLO 1° Secretário: DJALMA BESSA 2'? Secretário: JADER BARBALHO 3º Secretário : JOÃO CLI-MACO 4º Secretário : JOSÉ CAMARGO SUPLENTES DE SECRETÁRIOS 1'? Suplente: DIOGO NOMURA 2º Suplente: NORBERTO SCHMIDT 3'? Suplente: PEIXOTO FILHO 4° Suplente : ANTON 10 MORAIS SECRETARIA-GERAL DA MESA Secretário-Geral: PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA. DIRETORIA-GERAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Diretor-Geral: JOSÉ FERREIRA DE AQUINO Série Perfis Parlamentares: José de Alencar 2 -- Carlos Peixoto Filho Capa: Layout de Arnaldo Machado Camargo Filho, com artefinalização de Ary Mariz Nunes Machado Nasceu em Goiana, PE, em 15 de agosto de 1809 e faleceu em Recife, em 2 de fevereiro de 1849, aos trinta e nove anos de idade,em plena Revolução Pernambucana, durante um ataque ao Recife. PERFIS PARLAMENTARES 3 Nunes Machado DISCURSOS PARLAMENTARES Seleção e Introdução de VAMIREH CHACON CÂMARA DOS DEPUTADOS BRASfLIA - 1978 CÂMARA DOS DEPUTADOS DIRETORIA LEGISLATIVA Diretor: G. Humberto Barbosa CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO Diretora: Cordélia R. Cavalcanti Diretor em exerci'cio: Mário Teles de Oliveira COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES Diretor: Mário Teles de Oliveira Diretor em exerc(cio: Aristeu Gonçalves de Melo COLABORARAM NA ELABORAÇÃO DESTE TRABALHO: Maria Laura Coutinho (Organização dos· originais); Arimar de Oliveira Freitas, Aristeu Gon çalves de Melo, Arnaud Rosa de Oliveira, Jairo Terezinho Leal Vianna, João Rodrigues Amorim, José Estevão de Medeiros Tavares, José Lyra Barroso de Ortegal, José M~ de Andrade Córdova, Luiz de Oliveira Pinto, Raimundo Floriano de Albuquerque e Silva, Samuel Malheiros, Sônia Lacerda Fleury, Walter Gouvea Costa, Wellington Franco de Oliveira e Yvette Vieira Pinto de Almeida (Atualização ortográfica e revisão); Nilda Fernandes da Silva (Composição); An1bal Rodrigues Coelho, Aurora Gonçalves Barbosa, Virgi'nia Astrid de A. -

UF Código Do Município Nome Do Município Código INEP Nome Da Escola Rede
UF Código do Município Nome do Município Código INEP Nome da Escola Rede AC 1200104 BRASILEIA 12016365 ESC FRANCISCO PEDRO DE ASSIS Estadual AC 1200138 BUJARI 12009466 ESC JOSE CESARIO DE FARIAS Municipal AC 1200203 CRUZEIRO DO SUL 12000370 ESC CORA CORALINA Estadual AC 1200302 FEIJO 12004766 ESC PEDRO MOTA LEITAO Municipal AC 1200336 MANCIO LIMA 12000655 ESC GLORIA SORIANO ROSAS Municipal AC 1200336 MANCIO LIMA 12001961 ESC BELARMINO DE MENDONCA Estadual AC 1200351 MARECHAL THAUMATURGO 12002828 ESC MARNIZIA CRUZ Municipal AC 1200385 PLACIDO DE CASTRO 12010154 ESC ELIAS MANSOUR SIMAO Municipal AC 1200385 PLACIDO DE CASTRO 12010340 ESC JOSE VALMIR DE LIMA Municipal AC 1200385 PLACIDO DE CASTRO 12010391 ESC MANOEL BARROS Estadual AC 1200385 PLACIDO DE CASTRO 12010855 ESC LIGIA CARVALHO DA SILVA Municipal AC 1200807 PORTO ACRE 12018546 ESC NILCE MACHADO DA ROCHA Municipal AC 1200393 PORTO WALTER 12003050 ESC BORGES DE AQUINO Estadual AC 1200393 PORTO WALTER 12020400 ESC MANOEL MOREIRA PINHEIRO Municipal AC 1200401 RIO BRANCO 12014001 ESC SANTO ANTONIO II Estadual AC 1200401 RIO BRANCO 12021245 ESC CLAUDIO AUGUSTO F DE SALES Estadual AC 1200427 RODRIGUES ALVES 12025615 ESC SANTA CLARA Municipal AC 1200427 RODRIGUES ALVES 12027120 ESC PADRE RAIMUNDO AGNALDO P TRINDADE Municipal AC 1200435 SANTA ROSA DO PURUS 12029009 ESC DR CELSO COSME SALGADO Municipal AL 2700102 AGUA BRANCA 27000095 ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR SEBASTIAO ALVES BEZERRA Estadual AL 2700102 AGUA BRANCA 27000613 ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA Municipal AL 2700102 -

Trajetória Política De Marco Maciel Receberá Homenagem Pefelista Exerceu O Cargo De Vice-Presidente Da República, Entre Outros
Diário Oficial Estado de Pernambuco Ano LXXXIII z NO 179 Poder Legislativo Recife, terça-feira, 14 de novembro de 2006 FERNANDO SILVA FERNANDO SILVA PIMENTEL - Requerimento para realizar Grande Expediente Especial em dezembro ROMÁRIO - Hoje, seu discurso abordará o tema no Plenário da Assembléia Trajetória política de Marco Maciel receberá homenagem Pefelista exerceu o cargo de vice-presidente da República, entre outros s 40 anos de vida Pimentel, que elaborou a acrescentando que, inde- Colégio da PM pública do senador iniciativa enquanto exercia pendentemente da posição ROBERTO SOARES OMarco Maciel (PFL) interinamente a Presidência político-partidária ou Assembléia levaram o 2º vice-presiden- da Casa, afirmou ter to- ideológica, Marco Maciel A Legislativa vai te da Alepe, deputado Rai- mado a decisão para re- representa uma referência mediar a negociação mundo Pimentel (PSDB), a forçar o caráter suprapar- ética e moral da política no entre o Colégio da apresentar um requeri- tidário do ato e, assim, Brasil. “Todos sonhamos, Polícia Militar e o mento para a realização de ressaltar a ascendência de ao fim de nossa vida públi- Governo do Estado, no um Grande Expediente Es- Maciel sobre o meio po- ca, poder ser alvo de ho- que se refere aos pecial, previsto para o dia lítico do País. "Acho fun- menagens como as dedica- instrutores que atuam 11 de dezembro, a fim de damental que um deputado das ao senador", elogiou. no educandário. reverenciar a "trajetória ir- que não seja do PFL preste Marco Maciel começou Ontem, o presidente da retocável" do pefelista. O tributo ao senador. Outras a militar na política ainda Casa, deputado presidente da Mesa Dire- homenagens virão, como a como aluno da Univer- Romário Dias (PFL), tora da Alepe, Romário do presidente Romário sidade Federal de Pernam- em reunião com o Dias (PFL), considerou a Dias", declarou. -

Petrônio Portella
SENADO FEDERAL SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES SUBECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS O SENADO QUE HONRARAM Petrônio Portella Petrônio Petrônio Portella CAPA: Cosme Rocha Brasília 2010 Brasília 2010 01640 CAPA.indd 1 07/07/2010 08:38:42 OS: 01640\ 2010\2ª PROVA\Cosme\3002\PS90 Senado Federal Mesa Diretora Biênio 2009/2010 Senador José Sarney PRESIDENTE SENADO FEDERAL SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES Senador Marconi Perillo Senador João Claudino 1o VICE-PRESIDENTE 2o SECRETÁRIO Senadora Serys Slhessarenko Senador Mão Santa DIRETOR a o 2 VICE-PRESIDENTE 3 SECRETÁRIO Florian Augusto Coutinho Madruga Senador Heráclito Fortes Senadora Patrícia Saboya o a 1 SECRETÁRIO 4 SECRETÁRIA DIRETOR DA SUBSECRETARIA INDUSTRIAL José Farias Maranhão DIRETOR DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SUPRIMENTO SUPLENTES DE SECRETÁRIO DE MATÉRIAS-PRIMAS E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO Luiz Carlos da Costa Senador César Borges DIRETORA DA SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS Anna Maria de Lucena Rodrigues Senador Adelmir Santana Senador Cícero Lucena DIRETOR DA SUBSECRETARIA DE ANAIS Senador Gerson Camata Flávio Romero Cunha Lima Haroldo Feitosa Tajra DIRETOR-GERAL Claudia Lyra Nascimento SECRETÁRIA-GERAL DA MESA 01640 CAPA.indd 2 07/07/2010 08:38:42 Senado Federal Mesa Diretora Biênio 2009/2010 Senador José Sarney PRESIDENTE SENADO FEDERAL SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES Senador Marconi Perillo Senador João Claudino 1o VICE-PRESIDENTE 2o SECRETÁRIO Senadora Serys Slhessarenko Senador Mão Santa DIRETOR a o 2 VICE-PRESIDENTE 3 SECRETÁRIO -

"A Influência De Roberto Campos Na Economia Brasileira (1945-2001)"
BRUNO BEZERRA CAVALCANTI GODOI A INFLUÊNCIA DE ROBERTO CAMPOS NA ECONOMIA BRASILEIRA (1945-2001) Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História Econômica da Universidade de São Paulo, para obtenção do grau de Mestre em História Econômica. Orientador: Prof. Dr. Nelson Hideiki Nozoe São Paulo – SP 2007 ii BRUNO BEZERRA CAVALCANTI GODOI A INFLUÊNCIA DE ROBERTO CAMPOS NA ECONOMIA BRASILEIRA (1945-2001). Dissertação submetida à Comissão Examinadora designada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em História Econômica da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo como requisito para obtenção do grau de Mestre em História Econômica. Aprovada em 10 de fevereiro de 2007. BANCA EXAMINADORA ________________________________ Prof. Dr. Nelson Hideiki Nozoe Faculdade de Economia e Administração – Universidade de São Paulo Orientador ________________________________ Prof. Dr. Júlio Pires Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. ________________________________ Prof. Dr. José Flávio Motta Faculdade de Economia e Administração – Universidade de São Paulo iii AGRADECIMENTOS Essa dissertação possui a participação de várias pessoas, sem as quais não poderia tê- la realizado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao meu pai, José Maria Godoi e à minha mãe, Maria Auxiliadora, por terem me motivado a fazer o programa de pós-graduação mesmo nos momentos mais difíceis e por sua orientação na seleção e ao longo da pós. Igualmente importante foi o meu orientador, Prof. Nelson Nozoe, que sempre mostrou boa vontade em me ajudar com um tema metodologicamente tão nebuloso, como a história dos pensadores econômicos e da minha orientadora de iniciação científica, Profa. Maria Luiza Tucci Carneiro, por ter introduzido a mim nos métodos de trabalHo do pesquisador, muitas vezes desconhecido para os alunos de graduação. -

Casimiro Ribeiro I (Depoimento, 1975/1979)
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL (CPDOC) Proibida a publicação no todo ou em parte; permitida a citação. A citação deve ser textual, com indicação de fonte conforme abaixo. RIBEIRO, Casimiro Antônio. Casimiro Ribeiro I (depoimento, 1975/1979). Rio de Janeiro, CPDOC, 1981. 121 p. dat. CASIMIRO RIBEIRO I (depoimento, 1975/1979) Rio de Janeiro 1981 Ficha Técnica tipo de entrevista: história de vida entrevistador(es): Antônio Cláudio Sochaczewski; Aspásia Alcântara de Camargo; Israel Beloch; Pedro Malan; Reinaldo Roels Júnior; Roberto Ruiz de Gamboa levantamento de dados: Aspásia Alcântara de Camargo; Reinaldo Roels Júnior pesquisa e elaboração do roteiro: Aspásia Alcântara de Camargo; Reinaldo Roels Júnior sumário: Reinaldo Roels Júnior conferência da transcrição: Ignez Cordeiro de Farias; Maria Cristina Guido copidesque: Maria Teresa Lopes Teixeira; Reinaldo Roels Júnior técnico de gravação: Clodomir Oliveira Gomes local: Rio de Janeiro - RJ - Brasil data: 05/03/1975 a 20/07/1979 duração: 9h 10min fitas cassete: 09 páginas: 121 Entrevista realizada no contexto da pesquisa "Trajetória e desempenho das elites políticas brasileiras", parte integrante do projeto institucional do Setor de História Oral do CPDOC, em vigência desde sua criação em 1975. temas: Banco Central do Brasil, Banco do Brasil, Casimiro Ribeiro, Câmbio, Economia, Economistas, Fundo Monetário Internacional, Governo João Goulart (1961-1964), Governo Juscelino Kubitschek (1956-1961), Inflação, Teoria Econômica 3 Sumário -

Tent of State
<7 POL 2-3 BRAZ Depa 'tent of State CONFIDENTIAL 45 Action ,ESA820SUA19 U-2 rP RUEHCR ARA DE RUESUA 57 4 22/2325Z P: ZEA — Info = ;2222112 EMBASSY RIODEJANEIRQ^ n o SS TO SECSTATE "wASHD'C STATE GRMC ' G 33 BT ,u 1 SP . f CONFIDENTIAL PRIORITYiSEONE OFTWO 23S03APRIL 22 O L 8 PM rr • — H ro CAP SUBJECT: MEETING WITH ROBERTO CAMPOS 0) E AMBASSADOR AND KUBISH HAD LONG MEETING LAST NIGHT WITH NEW IGA MINISTER FOR PLANNING AND ECONOMIC COORDINATION, ROBERTO CAMPOS. o AID CAMPOS APPOINTMENT HAD BEEN . ANNOUNCED APRIL 20. P SUMMARY OF DISCUSSION FOLLOWS: US IA 1. ORGANIZATION. CAMPOS SAID HE WAS A MINISTER WITHOUT NSC MINISTRY OR STAFF. SAID DIOGO GASPAR HAD ENDEAVORED UNSUCCESS• INR FULLY CENTRALIZE GOB PLANNING FUNCTIONS UNDER ACESSORIA TECNICA CIA IN EXECUTIVE OFFICE OF PRESIDENT. PLAN HAD NOT WORKED AND WITH NSA DIOGO'S DEPARTURE SEVERAL MONTHS AGO, GOB ECONOMIC PLANNING TRSY AND COORDINATING ORGANIZATIONS HAD FALLEN INTO SHAMBLES. SAID COPLA.N, FOR EXAMPLE, VIRTUALLY NON-EXISTENT AND THAT PLANNING COUNCIL HAD ONLY SECRETARIAL AND CLERICAL EMPLOYEES. EXPECTED MOVE INTO HIS OWN NEW OFFICES THIS MORNING AND TO. BEGIN ORGANIZING MINISTRY. SAID SUDENE, SPVEA AND OTHER REGIONAL PLANNING BODIES WOULD REPORT TO HIM. ALSO SAID ENDEAVORING TO GET JOSE LUIZ BULHOES PEDREIRA AS VICE' MINISTER. 2. REFORMS. CAMPOS SAID THAT IN ADDITION BUILDING ECONOMIC STAFF, ANOTHER TOP PRIORITY WOULD BE TO MOVE QUICKLY ON "IN- STATUTIONAL" AND ALSO "COSMETIC" REFORMS. HE FELT IT OF HIGHEST IMPORTANCE TO TAKE FULL ADVANTAGE OF 30-DAY PROVISION ATO INSTITUTIONAL TO MAKE MAXIMUM PROGRESS WITH CONGRESS. -

O ISEB E a Construção De Brasília: Correspondências Míticas 487
O ISEB e a construção de Brasília: correspondências míticas 487 O ISEB E A CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA: correspondências míticas Márcio de Oliveira* Resumo: Este artigo trata da relação entre o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), a construção da atual capital do Brasil, a cidade de Brasília e as ideologias nacionalistas. O estudo analisa com brevidade a produção bibliográfica dos professores Alberto Guerreiro Ramos e Hélio Jaguaribe, e, com maior profundidade, a produção de Roland Corbisiser (diretor do Instituto entre 1955 e 1959). Afirma-se que entre o ISEB e o nacionalismo desenvolvimentista kubitschekiano havia muitos pontos em comum. Mas teria havido mais do que uma concordância de forma e de conteúdo entre as idéias defendidas pelo governo JK e aquelas defendidas por intelectuais do ISEB. Examinando a história do Instituto, as circunstâncias sociopolíticas predominantes durante o mandato de JK (1956-61) e as teses empregadas para defender a transferência da capital, nota-se o apoio de muitos intelectuais à construção da capital. Não obstante, conclui-se que não há relação de causalidade ou determinância entre as principais teses do ISEB e a política do governo JK em relação a Brasília. Correspondências e cumplicidades míticas explicam melhor a realidade que fez unir esses atores em torno do tema geral da construção da nação. Palavras-chave: ISEB, Brasília, nacional-desenvolvimentismo. * Doutor em Sociologia pela Universidade de Paris V; coordenador do Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Paraná (UFPR). E-mail: [email protected] Este trabalho tem por origem a minha tese de doutorado em Sociologia: Étude sur l´imaginaire brésilien: le mythe de la nation et la ville de Brasília, defendida na Universidade de Paris V. -

Print 106 . DISCURSO DE POSSE DO
DISCURSO DE POSSE DO ACADÊMICO MARCO MACIEL E DISCURSO DE RECEPÇÃO DO ACADÊMICO MARCOS VILAÇA - . " ._-..- .~- : .' ".,~ .. ' ACADEMIA 8RASrtEIRA DE LETRAS 2004 DISCURSO DE POSSE DO ACADÊMICO MARCO MACIEL E DISCURSO DE RECEPÇÃO DO ACADíMCIO MARCOS VILAÇA ACADBMIA BRASILBIR.A DB LETR.AS 2004 Cadeira 39 Academia Bruileira de Letras Patrono F. A. de Vamhagen........(1816-1878) Oliveira Uma (1867-1928) "_ Alberto de Faria (1865-1931) Rocha Pombo (1857-1933) Rodolfo Garda (1873-1~9) Elmano Cardim (1891-19'79) Otto l...IU'a Resende (1922-1992) Roberto Marinho (I9(M..2003) ""''' Mo=Mad<1 Eleito em 18.12.2003 e f'l!Cebido em 3.5.2004 arco Maciel tomou posse no dia 3 de maio de 2004, passando a ocupar a cadeira 39, que pertenceu a M Roberto Marinho, falecido em 6 de agosto de 2003. Nacerimônia, nosalão nobre do PetitTrianon, Marco Maciel foi recebido pelo acadêmico Marcos Vinidos Vilaça. Advogado e professor de Direito Internacional na Universidade Católica de Pernambuco, Marco Maciel foi vice-presidente da República, por duas vezes; presidentedaCâmarados Deputados;ministro da Educação; ministro-chefe da Casa Civil da Pre sidência da República; deputado estadual; deputado federal, também por duas vezes; governador de Pemambuco; e atualmente exerce seu terceiro man dato de senador. Membro da Academia Pernambucana de Letras e da Academia Brasileira deCiêndas Políticas, Marco Maciel tem quatro livros publicados, além de plaquetes com discursos e palestras versando espe c::ialD'\ente sobre educaçlO, cultura e questões ins titucionais. Discurso de posse do acadêmico Marco Maciel a imortal peça Dúflogo das Cannelitas, o sempre lembrado escritor francês George Bernanos- tão ligado ao Brasil pelo N tempo emque viveuno interior deMinas Gerais, durante a ocupação de seu país pelas tropas alemãs - fez a superiora do Convento diur estas sábias palavras: "0 que chamamos acaso talvez seja a16gica de Deus".