(Carlo Ginzburg) ISSN: 2175-5892
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
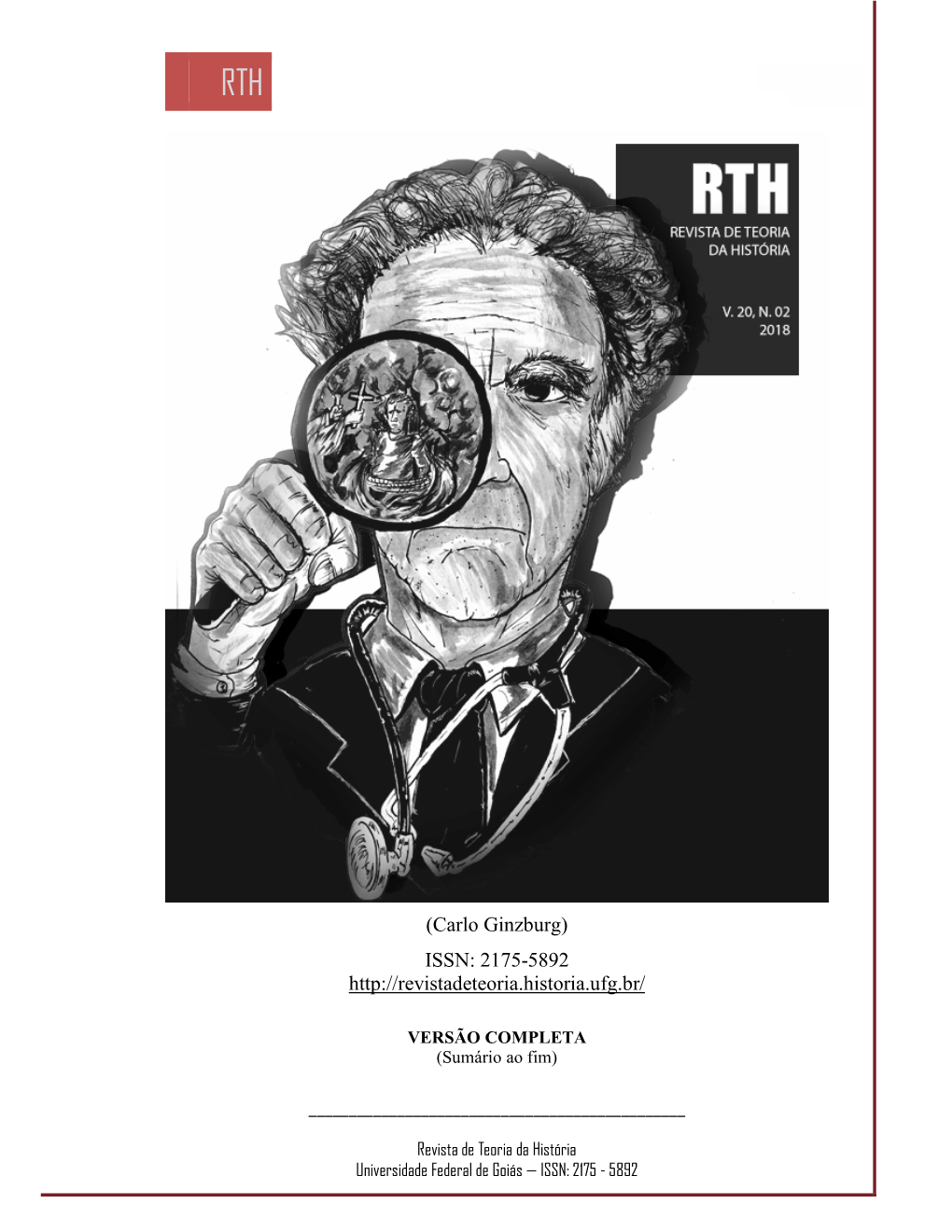
Load more
Recommended publications
-

Special List 412: Nineteenth-Century Brazilian Imprints
special list 412 1 RICHARD C.RAMER Special List 412 Nineteenth-Century Brazilian Imprints 2 RICHARDrichard c. C.RAMER ramer Old and Rare Books 225 east 70th street . suite 12f . new york, n.y. 10021-5217 Email [email protected] . Website www.livroraro.com Telephones (212) 737 0222 and 737 0223 Fax (212) 288 4169 May 17, 2021 Special List 412 Nineteenth-Century Brazilian Imprints Items marked with an asterisk (*) will be shipped from Lisbon. SATISFACTION GUARANTEED: All items are understood to be on approval, and may be returned within a reasonable time for any reason whatsoever. VISITORS BY APPOINTMENT special list 412 3 Special List 412 Nineteenth-Century Brazilian Imprints INDEX OF PRINTING PLACES Rio de Janeiro ................................ Pages 4-132, Items 1-146 Bahia ....................................... Pages 133-142, Items 147-153 Pernambuco ........................... Pages 143-148, Items 154-160 Recife ...................................... Pages 149-156, Items 161-167 Maranhão ............................... Pages 157-160, Items 168-172 Ouro Preto ....................................... Page 161, Items 173-174 São Paulo ................................ Pages 162-164, Items 175-177 Santo Amaro (São Paulo) .......................Page 165, Item 178 Ceará ................................................ Pages 165-166, Item 179 Pará . ...................................... Pages 167-184, Items 180-184 4 richard c. ramer Item 1 special list 412 5 Special List 412 Nineteenth-Century Brazilian Imprints ☞ Rio de Janeiro, 1808 Changes Status of Cabo Verde—Early Rio de Janeiro Imprint *1. [PORTUGAL. Laws. D. João, Prince Regent of Portugal 1799-1816, then D. João VI King of Portugal and Brazil, 1816-1826]. Decreto. Con- vindo muito ao bem do Estado nas circunstancias actuaes, muito mais graves do que no tempo, em que as Ilhas de Cabo Verde se governavão com Capitania General, que aquellas Ilhas sejão novamente regidas por hum Governador e Capitão General …. -

HISTÓRIA DA LITERATURA BRASILEIRA José Veríssimo
1 MINISTÉRIO DA CULTURA Fundação Biblioteca Nacional Departamento Nacional do Livro HISTÓRIA DA LITERATURA BRASILEIRA José Veríssimo À memória cada vez mais amada e mais saudosa de meus pais José Veríssimo de Matos e Ana Flora Dias de Matos consagro este livro, remate da minha vida literária, que lhes deve o seu estímulo inicial. José Veríssimo Dias de Matos Rio (Engenho Novo), 11 de julho de 1915 3 Índice Geral INTRODUÇÃO PERÍODO COLONIAL Capítulo I A PRIMITIVA SOCIEDADE COLONIAL Capítulo II PRIMEIRAS MANIFESTAÇÕES LITERÁRIAS Os Versejadores Os prosistas I Portugueses II Brasileiros Capítulo III O GRUPO BAIANO Capítulo IV GREGÓRIO DE MATOS Capítulo V ASPECTOS LITERÁRIOS DO SÉCULO XVIII Capítulo VI A PLÊIADE MINEIRA I Os Líricos II Os Épicos Capítulo VII OS PREDECESSORES DO ROMANTISMO I Os Poetas II Prosadores Capítulo VIII O ROMANTISMO E A PRIMEIRA GERAÇÃO ROMÂNTICA Capítulo IX MAGALHÃES E O ROMANTISMO Capítulo X OS PRÓCERES DO ROMANTISMO I Porto Alegre II Teixeira e Sousa III Pereira da Silva IV Varnhagen V Norberto VI Macedo Capítulo XI GONÇALVES DIAS E O GRUPO MARANHENSE Capítulo XII A SEGUNDA GERAÇÃO ROMÂNTICA. OS PROSADORES Capítulo XIII A SEGUNDA GERAÇÃO ROMÂNTICA. OS POETAS I Álvares de Azevedo II Laurindo Rabelo III Junqueira Freire IV Casimiro de Abreu V Poetas Menores 4 Capítulo XIV OS ÚLTIMOS ROMÂNTICOS I Prosadores II Poetas Capítulo XV O MODERNISMO Capítulo XVI O NATURALISMO E O PARNASIANISMO Capítulo XVII O TEATRO E A LITERATURA DRAMÁTICA Capítulo XVIII PUBLICISTAS, ORADORES, CRÍTICOS Capítulo XIX MACHADO DE ASSIS Índice Onomástico 5 Introdução A LITERATURA QUE SE escreve no Brasil é já a expressão de um pensamento e sentimento que se não confundem mais com o português, e em forma que, apesar da comunidade da língua, não é mais inteiramente portuguesa. -

Vanderléia Da Silva Oliveira Teixeira E Sousa E O
VANDERLÉIA DA SILVA OLIVEIRA TEIXEIRA E SOUSA E O ROMANCE-FOLHETIM: UMA LEITURA DE O FILHO DO PESCADOR (1843) VANDERLÉIA DA SILVA OLIVEIRA TEIXEIRA E SOUSA E O ROMANCE-FOLHETIM: UMA LEITURA DE O FILHO DO PESCADOR (1843) Dissertação apresentada à Faculdade de Ciências e Letras de Assis – UNESP, para a obtenção do título de Mestre em Letras (Área de Concentração: Literaturas de Língua Portuguesa). Orientadora: Prof. Dra. Sílvia Maria Azevedo Assis - SP 2002 Sistema de Bibliotecas da Unopar – Londrina/PR - Setor de Tratamento da Informação - Oliveira, Vanderléia da Silva O45T Teixeira e Sousa e o romance-folhetim: uma leitura de O Filho do Pescador (1843) / Vanderléia da Silva Oliveira. Assis, 2002. 224p. : il. Anexos Dissertação de Mestrado – Faculdade de Ciências e Letras de Assis - Universidade Estadual Paulista. 1- Literatura brasileira – crítica e interpretação 2- Romance- folhetim 3- Teixeira e Sousa, Antonio Gonçalves – 1812-1861 – romancista brasileiro 4- O Filho do Pescador – crítica e interpretação. CDU-869.0(81) VANDERLÉIA DA SILVA OLIVEIRA TEIXEIRA E SOUSA E O ROMANCE-FOLHETIM: UMA LEITURA DE O FILHO DO PESCADOR (1843) COMISSÃO JULGADORA DISSERTAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE MESTRE Presidente e Orientador: Dra. SÍLVIA MARIA AZEVEDO – Unesp/Assis-SP 2º Examinador: Dra. KARIN VOLOBUEF – Unesp/Araraquara-SP 3º Examinador: Dr. JOSÉ CARLOS ZAMBONI - Unesp/Assis-SP Assis, SP, ........ de......................... de 2002. DADOS CURRICULARES VANDERLÉIA DA SILVA OLIVEIRA NASCIMENTO 06.10.1970 – Bandeirantes – PR FILIAÇÃO João da Silva -

Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul Instituto De Letras Programa De Pós-Graduação Em Letras Mestrado Em Literatura Brasileira
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL INSTITUTO DE LETRAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS MESTRADO EM LITERATURA BRASILEIRA O LUGAR (IN)CERTO DE DOMINGOS CALDAS BARBOSA: DOS ACORDES DA VIOLA À CONSTRUÇÃO DA BRASILIDADE EM ALHEIAS CAMPINAS NARA ABRANTES TIMM PORTO ALEGRE JULHO - 2004 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL INSTITUTO DE LETRAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS MESTRADO EM LITERATURA BRASILEIRA O LUGAR (IN) CERTO DE DOMINGOS CALDAS BARBOSA: DOS ACORDES DA VIOLA À CONSTRUÇÃO DA BRASILIDADE EM ALHEIAS CAMPINAS NARA ABRANTES TIMM Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para obtenção do Grau de Mestre em Literatura Brasileira. PROFESSORA DOUTORA MARIA DO CARMO CAMPOS Orientadora da Dissertação de Mestrado PORTO ALEGRE JULHO - 2004 AGRADECIMENTOS Para a concretização deste trabalho precisei de ajuda, colaboração, apoio e compreensão. Do universo de graças que devo, registro as que rendo a Deus, a minha família, a minha incansável orientadora Professora Doutora Maria do Carmo Campos. RESUMO O presente trabalho está centrado em aspectos da música e da literatura do século XVIII no Brasil colonial. Mais especificamente focaliza algumas questões relevantes sobre as etnias que convergiram na formação do complexo histórico, étnico e sócio - cultural do período, com vistas ao exame das condições da produção poético-musical na colônia em fins do século XVII e XVIII. A pesquisa aborda manifestações musicais desse espaço de tempo, principalmente modinhas e lundus, destacando a produção poética de Domingos Caldas Barbosa. Partindo das vertentes que forjaram o amálgama característico da formação do Brasil, concentramo-nos no exame da poética de Caldas Barbosa, cuja produção literária na obra “Viola de Lereno” revela estar o autor inteiramente inserido na sedimentação de uma brasilidade literária anterior ao século XIX. -

A Trajetória Do Negro Na Literatura Brasileira DOMÍCIO PROENÇA FILHO
A T RAJETÓRIA DO N EGRO NA L ITERATURA B RASILEIRA A trajetória do negro na literatura brasileira DOMÍCIO PROENÇA FILHO PRESENÇA DO NEGRO na literatura brasileira não escapa ao tratamento marginalizador que, desde as instâncias fundadoras, marca a etnia no A processo de construção da nossa sociedade. Evidenciam-se, na sua trajetória no discurso literário nacional, dois posi- cionamentos: a condição negra como objeto, numa visão distanciada, e o negro como sujeito, numa atitude compromissada. Tem-se, desse modo, literatura sobre o negro, de um lado, e literatura do negro, de outro. O negro como objeto: a visão distanciada A visão distanciada configura-se em textos nos quais o negro ou o descen- dente de negro reconhecido como tal é personagem, ou em que aspectos ligados às vivências do negro na realidade histórico-cultural do Brasil se tornam assunto ou tema. Envolve, entretanto, procedimentos que, com poucas exceções, indiciam ideologias, atitudes e estereótipos da estética branca dominante. Assim dimensionada, a matéria negra, embora só ganhe presença mais significativa a partir do século XIX, surge na literatura brasileira desde o século XVII, nos versos satíricos e demolidores de Gregório de Matos, como os do “Juízo anatômico dos achaques que padecia o corpo da República em todos os seus membros e inteira definição do que em todos os tempos é a Bahia”, poema de que vale lembrar a seguinte passagem, a propósito, manifestamente reveladora: Que falta nesta cidade?... Verdade. Que mais por sua desonra?... Honra. Falta mais que se lhe ponha?... Vergonha. O demo a viver se exponha, Por mais que a fama a exalta Numa cidade onde falta Verdade, honra, vergonha. -

Atas Da Academia Brasileira De Letras 1920 E 1921
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ ESCOLA DE COMUNICAÇÃO – ECO INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IBCTI PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – PPGCI ANA MARIA RUTTIMANN Informação e memória: Atas da Academia Brasileira de Letras 1920 e 1921 Rio de Janeiro 2015 1 ANA MARIA RUTTIMANN Informação e memória: Atas da Academia Brasileira de Letras 1920 e 1921 Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, convênio entre o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e a Universidade Federal do Rio de Janeiro/Escola de Comunicação, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Ciência da Informação. Orientador: Geraldo Moreira Prado Coorientadora: Rosali Fernandez de Souza Rio de Janeiro 2015 2 ANA MARIA RUTTIMANN Informação e memória: Atas da Academia Brasileira de Letras 1920 e 1921 Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Ciência da Informação, convênio entre o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e a Universidade Federal do Rio de Janeiro/Escola de Comunicação, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Ciência da Informação. Aprovada em: ___________________________________________________________ Prof. Dr. Geraldo Moreira Prado (Orientador) PPGCI/IBCTI – ECO/UFRJ ___________________________________________________________ Prof.ª Dr.ª Rosali Fernandez de Souza (Co-orientadora) PPGCI/IBCTI – ECO/UFRJ Prof.ª Dr.ª Lena Vania Ribeiro Pinheiro PPGCI/IBCTI – ECO/UFRJ Prof.ª Dr.ª Icleia Thiesen Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO 3 DEDICATÓRIA Dedico esta dissertação a meu pai, que apesar de não estar mais entre nós, é sempre presente, como modelo e exemplo, que me ensinou o amor pelos livros, pela catalogação e investigação científica desde criança, começando por nossa singela coleção de selos, até a organização da sua própria biblioteca e documentos, memórias de uma vida. -

A Sede Do Jornal Do Commercio, O Grande Órgão Da Imprensa
A sede do Jornal do Commercio, o grande órgão da imprensa brasileira ligado ininterruptamente à Academia Brasileira de Letras desde que foi fundada, em 1897, e que teve entre seus colaboradores o jornalista Urbano Duarte, fundador da Cadeira 12. Guardados da Memória A Academia Brasileira e o Jornal do Commercio João Luso Jornal do Commercio não tem apenas como toda a imprensa, Pseudônimo de acompanhado a Academia Brasileira de Letras. A ela, e desde Armando Erse O (1875-1950), a sua fundação, o já então chamado Velho Órgão se ligou por víncu- português radicado los de inteligência e afeto que, nem por um só momento, haviam de no Brasil. Contista, se desprender. Por um esforço e um sentimento comum logo as duas teatrólogo, jornalista, Casas, a de Pierre Planchet e a de Machado de Assis, confraterniza- colaborador em vam. Do Jornal do Commercio se dizia que era o Senado da Imprensa; a diversos periódicos Academia vinha a ser o Senado das Letras. Se percorrermos as cole- paulistas, entrou para o Jornal do ções da folha em outros tempos tão avara do espaço para homenagens Commercio em 1901. e encômios, veremos que, para a Ilustre Companhia, sempre as suas Foi membro da ABI, colunas se dilataram generosa e prazenteiramente. Para ela se reserva- da SBAT e correspondente da vam ali adjetivos de raro emprego e só para ocorrências ou persona- ABL. O artigo aqui gens excepcionais; e, certamente, algumas fórmulas de louvor que publicado saiu na nunca haviam logrado acesso àquelas páginas severas, agora para lá su- Ilustração Brasileira – Dezembro de 1946. -

TRIUNFAL RETORNO DE MACHADO DE ASSIS Sinto-Me Honrado Por
TRIUNFAL RETORNO DE MACHADO DE ASSIS Sinto-me honrado por aqui me encontrar para redigir como que sucinto prólogo a uma obra psicografada, cujo autor espiritual se encarregou, ele mesmo, o velho Machado de Assis, de aqui apor dois prolóquios — “Duas Palavras”, datadas de agosto de 958, e “Mais uma Palavra”— que antecedem o primeiro e belíssimo capítulo, intitulado “Ela”, o mesmo “Ela” da primeira poesia que ele fez e publicou, na “Marmota Fluminense”, aos dezesseis anos de idade. Este livro, fruto de dedicada tarefa mediúnica — tenho certeza — se tornará um best-seller, chamando a atenção de grande parte dos críticos literários, como aconteceu após o lançamento do Parnaso de Além-Túmulo, em julho de 93, enfeixando produções poéticas de grandes vates do Brasil e de Portugal, e a chegada ao público ledor, em 95, do Falando à Terra, ambos psicografados pelo inesquecível médium e amigo, Francisco Cândido Xavier (90-00), editados pela Federação Espírita Brasileira. Neste último, de prosadores, comparecem quarenta ilustres personalidades brasileiras e de outras nacionalidades, inclusive a inglesa; doze famosos representantes da Igreja Católica; seis espiritistas, além de um médium português, desencarnado, no Rio de Janeiro. Dentre os Espíritos comunicantes, destacam-se: Rui Barbosa (849-93), com belíssima “Oração ao Brasil”; Frei André 9 de Cristo; Frei Bartolomeu dos Mártires; Antônio Americano do Brasil; Padre Bento Pereira; Deodoro da Fonseca; Frei Fabiano de Cristo; Farias Brito; Frei Francisco do Monte Alverne; Francisco Vilela Barbosa, Marquês de Paranaguá; Inácio Bittencourt; Madre Joana Angélica de Jesus; Padre João de Brito; Arcebispo Joaquim Arcoverde; Leopoldo Fróis; Luís Olímpio Teles de Menezes; Frei Mâncio da Cruz; Mariano José Pereira da Fonseca, Marquês de Maricá; Múcio Teixeira; Paulo Barreto; Roberth Southey; Romeu do Amaral Camargo; Padre Sousa Caldas; Teresa D’Ávila, e Viana de Carvalho. -
Romantismo No Brasil / Antonio Candido.—São Paulo : Humanitas / FFLCH / SP, 2002
ANTONIO CANDIDO O Romantismo no Brasil 1 USP – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Reitor: Prof. Dr. Adolpho José Melfi Vice-Reitor: Prof. Dr. Hélio Nogueira da Cruz FFLCH – FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS Diretor: Prof. Dr. Francis Henrik Aubert Vice-Diretor: Prof. Dr. Renato da Silva Queiroz VENDAS LIVRARIA HUMANITAS-DISCURSO Av. Prof. Luciano Gualberto, 315 – Cid. Universitária 05508-900 – São Paulo – SP – Brasil Tel: 3091-3728 / 3091-3796 HUMANITAS – DISTRIBUIÇÃO Rua do Lago, 717 – Cid. Universitária 05508-900 – São Paulo – SP – Brasil Telefax: 3091-4589 e-mail: [email protected] http://www.fflch.usp.br/humanitas Humanitas FFLCH/USP – março 2002 ISBN 85-7506-050-3 O Romantismo no Brasil ANTONIO CANDIDO São Paulo, 2002 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO • FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS Copyright 2002 da Humanitas FFLCH/USP É proibida a reprodução parcial ou integral, sem autorização prévia dos detentores do copyright. Serviço de Biblioteca e Documentação da FFLCH/USP Ficha catalográfica: Márcia Elisa Garcia de Grandi CRB 3608 C217 Candido, Antonio O romantismo no Brasil / Antonio Candido.—São Paulo : Humanitas / FFLCH / SP, 2002. 105p. ISBN 85-7506-050-3 1. Literatura brasileira (História e Crítica) 2. Romantismo (Literatu- ra) I. Título CDD 869.909 HUMANITAS FFLCH/USP e-mail: [email protected] Telefax: 3091-4593 Editor Responsável Prof. Dr. Milton Meira do Nascimento Coordenação Editorial Mª. Helena G. Rodrigues – MTb n. 28.840 Digitação e Diagramação Selma Mª. Consoli Jacintho – MTb n. 28.839 Digitação Kátia Müller Projeto Gráfico Diana Oliveira dos Santos Capa Camila Mesquita Revisão Simone D’Alevedo ANTONIO CANDIDO Este resumo do Romantismo no Bra- sil foi escrito de dezembro de 1989 a janei- ro de 1990 e remetido em seguida à profes- sora Luciana Stegagno Picchio, da Univer- sidade de Roma “La Sapienza”, como capítulo de uma obra em quatro volumes, planejada e organizada por ela, com o título de Storia della civiltà letteraria portoghese, que será finalmente publicada, após muitas vicissitudes, pela Passagli Editora, de Flo- rença. -

2018 – 11/11/2020 Lista Aptos Prof Mag Nível Superior
Promoção sem Titulação 2017 - 2018 – 11/11/2020 Lista Aptos Prof Mag Nível Superior MATRICULA PROFESSOR(A) DESEMPENHO ANTIGUIDADE 22000130173112 ABDON VIEIRA NETO Apto Apto 22000112280017 ABEL MATIAS PEREIRA Apto Apto 22000130376110 ABELARDO COELHO DA SILVA Apto 22000130298012 ABIGAIL GAMA TAVARES Apto Apto 22000130216318 ABNER D ANGELO RIOS MORAIS Apto Apto 22000148049117 ABRAAO CAMPOS DE OLIVEIRA Apto Apto 22000112082010 ACACIA PEREIRA CRUZ PIANCO Apto 22000130379012 ACACIO LEANDRO MACIEL SIMOES Apto Apto 22000130182510 ACACIO LINO DO CARMO Apto Apto 22000130261917 ADAIANE BEZERRA VIEIRA Apto Apto 22000115933410 ADAIL ALVES MACEDO Apto Apto 22000112028113 ADAIL DOS SANTOS TEIXEIRA Apto Apto 22000130233514 ADAILTO RAIMUNDO MUNIZ DA FRANCA Apto Apto 22000130193113 ADAILZA OLIVEIRA SILVA Apto Apto 22000112123310 ADAIRTO MOREIRA DO NASCIMENTO Apto Apto 22000112170513 ADAIRTON BARBOSA FERNANDES Apto Apto 22000130372417 ADALBERTO FERREIRA DE SOUSA Apto Apto 22000111570011 ADALGISA IVONE TEIXEIRA DA SILVEIRA Apto 22000102226413 ADALGISA LUCINEIDE TEIXEIRA RAMOS Apto 22000111931715 ADALIA MARIA DE SOUZA VIEIRA ALENCAR Apto Apto 22000148077617 ADEILDO BATISTA QUEIROZ DE CASTRO Apto Apto 22000130319818 ADEIRTON FREIRE MOREIRA Apto Apto 22000112277210 ADELAIDE MALHEIRO TAVARES GOMES LINS Apto 2200011225671X ADELAIDE MARIA DE ABREU ALMEIDA Apto Apto 22000115906316 ADELAIDE SABOYA PEREIRA Apto Apto 22000116139319 ADELIZA STELLA MESQUITA E SILVA CAVALCANTE Apto Apto 2200014795021X ADELLE SABOYA PEREIRA Apto Apto 22000147977614 ADELLY CRISTINA MENDES -

Revista Brasileira Fase Ix
Revista Brasileira FASE IX • JULHO-AGOSTO-SETEMBRO 2018 • ANO I • N.° 96 ACADEMIA BRASILEIRA REVISTA BRASILEIRA DE LETRAS 2018 D IRETORIA D IRETOR Presidente: Marco Lucchesi Cícero Sandroni Secretário-Geral: Alberto da Costa e Silva C ONSELHO E D ITORIAL Primeira-Secretária: Ana Maria Machado Arnaldo Niskier Segundo-Secretário: Merval Pereira Merval Pereira Tesoureiro: José Murilo de Carvalho João Almino C O M ISSÃO D E P UBLI C AÇÕES M E M BROS E FETIVOS Alfredo Bosi Affonso Arinos de Mello Franco, Antonio Carlos Secchin Alberto da Costa e Silva, Alberto Evaldo Cabral de Mello Venancio Filho, Alfredo Bosi, P RO D UÇÃO E D ITORIAL Ana Maria Machado, Antonio Carlos Secchin, Antonio Cícero, Antônio Torres, Monique Cordeiro Figueiredo Mendes Arnaldo Niskier, Arno Wehling, Cacá R EVISÃO Diegues, Candido Mendes de Almeida, Vania Maria da Cunha Martins Santos Carlos Nejar, Celso Lafer, Cícero Sandroni, P ROJETO G RÁFI C O Cleonice Serôa da Motta Berardinelli, Victor Burton Domicio Proença Filho, Edmar Lisboa Bacha, E D ITORAÇÃO E LETRÔNI C A Evaldo Cabral de Mello, Evanildo Cavalcante Estúdio Castellani Bechara, Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Carneiro, Geraldo Holanda ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS Cavalcanti, Helio Jaguaribe, João Almino, Av. Presidente Wilson, 203 – 4.o andar Joaquim Falcão, José Murilo de Carvalho, Rio de Janeiro – RJ – CEP 20030-021 José Sarney, Lygia Fagundes Telles, Marco Telefones: Geral: (0xx21) 3974-2500 Lucchesi, Marco Maciel, Marcos Vinicios Setor de Publicações: (0xx21) 3974-2525 Vilaça, Merval Pereira, Murilo Melo Filho, Fax: (0xx21) 2220-6695 Nélida Piñon, Paulo Coelho, Rosiska Darcy E-mail: [email protected] de Oliveira, Sergio Paulo Rouanet, Tarcísio site: http://www.academia.org.br Padilha, Zuenir Ventura. -

Site De Literatura 1
WAGNERLEMOS.COM.BR – SITE DE LITERATURA 1 QUINHENTISMO Literatura informativa de origem ibérica - Ambrósio Fernandes Brandão - Diálogo das grandezas do Brasil - Gabriel Soares de Sousa (1540?-1591) - Tratado descritivo do Brasil - Pero Lopes e Sousa - Diário de navegação - Pero de Magalhães Gândavo - Tratado da Terra do Brasil, História da Província de Santa Cruz a que vulgarmente chamamos Brasil - Frei Vicente de Salvador (1564-1639) - História da Custódia do Brasil Literatura informativa de autores não-ibéricos - André de Thevet - As singularidades da França Antártica - Antonil (Giovanni Antonio Andreoni, 1650-1716?) - Cultura e opulência do Brasil - Hans Staden - Meu cativeiro entre os selvagens do Brasil - Jean de Lery - História de uma viagem feita à terra do Brasil Literatura dos Catequistas - Fernão Cardim - Tratado da Terra e da gente do Brasil - José de Anchieta (1534-1597) - Cartas, informações, fragmentos históricos e sermões: De gentis Mendis de Saa; De Beata Virgine dei Matre Maria; Arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil; e os autos: Auto da pregação universal; Na festa de São Lourenço; Na visitação de Santa Isabel - Manuel da Nóbrega - Cartas do Brasil; Diálogo sobre a conversão do gentio BARROCO Bento Teixeira (1561-1600) - Prosopopéia - Gregório de Matos Guerra (1623-1696) - Poesia sacra; Poesia lírica; Poesia satírica (2 volumes); Últimas - Manuel Botelho de Oliveira (1636-1711) - Música do Parnaso - Frei Manuel de Santa Maria Itaparica (1704-?) - Descrição da Cidade da Ilha de Itaparica; Estáquidos