Leonardo-N.º
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Manifesto 6X3 Mt Volponi 2011
Comuni di Altidona Fermo PROVINCIA DI COMUNE DI REGIONE Monte urano FERMO URBINO MARCHE Monte Vidon Corrado Porto San Giorgio Porto Sant’Elpidio Sant’Elpidio a Mare Premio Letterario Nazionale Paolo Volponi Letteratura ed impegno civile 2012IX edizione 15novembre 1dicembre PROVINCIA DI COMUNE DI REGIONE FERMO URBINO MARCHE Comuni di Altidona Fermo Monte Urano Monte Vidon Corrado Porto San Giorgio Porto Sant’Elpidio Sant’Elpidio a Mare IX edizione 2012 15novembre 1dicembre Camera di Commercio Fermo Fondazione Progetto “Città e Cultura” Porto Sant’Elpidio Centro Studi “Osvaldo Licini” Monte Vidon Corrado Il Circolo di Confusione Fermo e Porto San Giorgio Fototeca Provinciale di Fermo Altidona Belvedere L’Altritalia Periferie La Luna Unione Europea / Regione Marche PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARE E FORESTALE UNIONE EUROPEA PSR Marche 2007-2013 - Asse IV - Misura 4.2.1 - Progetto di Cooperazione Interterritoriale PRESENTAZI ONE Coordinamento progettuale: Angelo Ferracuti Giuria Tecnica: Enrico Capodaglio Angelo Ferracuti Massimo Gezzi Massimo Raffaeli Emanuele Zinato 3i libri vincitori Franco Arminio Terracarne Mondadori Alessandro Leogrande Il naufragio Feltrinelli Davide Orecchio Città distrutte Gaffi L’esperienza del premio Volponi, che giunge alla sua IX edizione, è tra le più prestigiose in ambito regionale e non solo. Il concorso delle istituzioni locali, del mondo dell’istruzione, di soggetti pubblici, privati e cooperativi, delle associazioni, insieme al legame “ideale” tra le città di Urbino e Fermo, la ricchezza del programma e il serio lavoro preparatorio, lo rendono un appuntamento annuale atteso e capace di proporre ogni anno interessanti novità nel segno di un intellettuale e scrittore originale, come pochi, qual era Paolo Volponi. -

Pubblicazioni N.58
PUBBLICAZIONI Vengono segnalate, in ordine alfabetico per autore (o curatore o parola- chiave), quelle contenenti materiali conservati nell’AP della BCLu e strettamente collegate a Prezzolini, Flaiano, Ceronetti, Chiesa, ecc. Le pubblicazioni seguite dalle sigle dei vari Fondi includono documenti presi dai Fondi stessi. Cinque secoli di aforismi , a cura di Antonio Castronuovo, “Il lettore di provincia”, a. XLVIII, fasc. 149, luglio-dicembre 2017 [ANTONIO CASTRONUOVO , Premessa ; ANDREA PAGANI , La dissimulazione onesta nell’aforisma di Tasso ; GIULIA CANTARUTTI , I clandestini ; SILVIA RUZZENENTI , Tradurre aforismi. Spunti di riflessione e Fragmente di un’autrice tedesca dell’Illuminismo ; MATTEO VERONESI , Leopardi e l’universo della ghnome; NEIL NOVELLO , Una «meta» terrestre a Zürau. Kafka alla prova dell’aforisma ; SANDRO MONTALTO , Aforisti italiani (giustamente?) dimenticati ; GILBERTO MORDENTI , Montherlant: carnets e aforismi ; MASSIMO SANNELLI , Lasciate divertire Joë Bousquet ; ANNA ANTOLISEI , Pitigrilli, un aforista nell’oblio ; SILVANA BARONI , «Ripassa domani realtà!». Pessoa aforista ; ANNA MONACO , Un nemico dell’aforisma: Albert Camus ; SILVIA ALBERTAZZI , Fotorismi: aforismi e fotografia ; MARIA PANETTA , Apologia del lettore indiscreto: Bobi Bazlen e l’aforisma «involontario» ; SIMONA ABIS , Gli aforismi di Gómez Dávila: la dignità come perversione ; FULVIO SENARDI , Francesco Burdin, aforista in servizio permanente ; ANTONIO CASTRONUOVO , L’aforista Maria Luisa Spaziani ; PAOLO ALBANI , L’aforisma tra gesto involontario -

La Rassegna Stampa Dioblique Ottobre 2012
La rassegna stampa diOblique ottobre 2012 Per gentile concessione della casa editrice 66thand2nd, pubblichiamo l’incipit del romanzo di Caroline Lunoir La mancanza di gusto © 66thand2nd 2012 – vietata la riproduzione L’odore dell’estate L’inizio delle vacanze echeggia nella stazione e nella Le mie sorelle e le mie cugine sono sparpagliate tra mia testa. Aspetto che mi vengano a prendere, lo la spiaggia e l’altro capo del mondo, o davanti a uno zaino ai miei piedi. La hall degli arrivi arde sotto un schermo. Io sono corsa qui. La casa del mio bisnon- sole impassibile. no riunisce quattro generazioni e la settimana di Intorno a me agosto splende su volti e corpi. La Fran- Ferragosto fa il tutto esaurito. cia ridente, abbronzata, a gambe nude e in maniche di Erano diverse estati che non ci tornavo. camicia, si ritrova e si cerca. La Gare de Lyon gremita Una curva a gomito e le ruote stridono sulla ghiaia e madida di sudore, alcune ore di treno con la pelle che mormora il suo benvenuto. Le portiere si apro- intirizzita dall’aria condizionata, chilometri di campi no e con un salto sono nel piazzale, quasi tutto in di grano divorati guardando dal fi nestrino, una picco- terra battuta. Strappo lo zaino di mano a Brigitte, la stazione in pietra chiara stile primo Novecento, due che naturalmente oppone una vaga resistenza, ed binari, due pensiline crepitanti di luce e ci ritroviamo entriamo nel parco. Vista dai viali alberati la casa tutti liberati dalla vita che precede le vacanze, proietta- è tutta un sorriso. -

La Narrativa Del Novecento Tra Spagna E Italia 1939-1989
La narrativa del Novecento tra Spagna e Italia 1939-1989 Alessandro Ghignoli ([email protected]) UNIVERSIDAD DE MÁLAGA Resumen Palabras clave En nuestro trabajo queremos mostrar Literatura española e italiana como en el período comprendido entre Literatura comparada 1939 y 1989, la narrativa española y la Narrativa italiana han tenido confluencias y Siglo XX momentos de contacto bastante evidentes. Haremos hincapié sobre todo en los procesos históricos y sociales de ambos países para la construcción de sus literaturas. Abstract Key words In this piece of work we want to show Spanish and Italian Literature that there are evident similarities Comparative Literature between the Spanish and Italian Narrative writings produced between the years 20th Century 1939 and 1989, and specifically in the historical and social processes of both countries during the creation of their AnMal Electrónica 39 (2015) literatures. ISSN 1697-4239 1. La Spagna all’inizio del XX secolo soffriva un ritardo sociale e politico, rispetto agli altri paesi europei, di notevole portata, situazione ereditata anche da epoche precedenti. La guerra civile del 1936-39, sarà la finalizzazione di questo periodo in un paese in cui l’unica parvenza di stabilità poteva avvenire sotto una forma di dittatura. Possiamo tranquillamente affermare che quello che successe nell’estate del 1936 fu una conseguenza di lotte secolari interne alla penisola iberica, nel febbraio sempre di quell’anno vi erano in Spagna due blocchi che si scontrarono durante le elezioni politiche, portando alla vittoria il fronte progressista, anche se in maniera abbastanza debole. Tra il 17 e il 18 luglio scoppiò la sollevazione autoritaria dei nazionalisti spagnoli con a capo un uomo che determinerà il futuro 74 Narrativa del Novecento AnMal Electrónica 39 (2015) A. -

Curriculum Vitae Tiziano Toracca ENG.Pdf
Tiziano Toracca - 06/12/2018 - 1 Dott. Tiziano Toracca Born on 26. 04. 1980, Pietrasanta (LU), Italy Italian citizen (EU) Address: Via Butese, 55, 56011, Calci (Pisa) E-mail: [email protected] [email protected] [email protected] Mobile: 0039-348.70.41833 Education and qualifications • Joint PhD in ‘Italian and Comparative Literature’ and in ‘Literary Studies’ by a PhD agreement between the University of Perugia (IT) and the University of Ghent (BE). Title of the dissertation: «Sul neomodernismo italiano: Corporale di Paolo Volponi e Petrolio di Pier Paolo Pasolini», Perugia, April 28, 2017. Promoters: Prof. Massimiliano Tortora and Prof. Mara Santi. Judgment: Excellent. • Master Degree in Italian Language and Literature, University of Pisa, May 10, 2011. Title of the thesis: «Il Pianeta irritabile di Paolo Volponi». Promoters: Prof. Luca Curti and Prof. Raffaele Donnarumma. Judgment: 110/110 summa cum laude. • Bachelor Degree in Humanities, University of Pisa, June 23, 2009. Title of the thesis: «Lettura di Corporale di Paolo Volponi». Promoter: Prof. Luca Curti. Judgement: 110/110 summa cum laude. • Master Degree in Law, University of Pisa, June 21, 2005. Title of the thesis: «L’interposizione nei rapporti di lavoro». Promoter: Prof. Oronzo Mazzotta. Judgement: 110/ 110 summa cum laude. • High School Diploma in Classical Studies, Liceo Classico Pellegrino Rossi, Massa-Carrara, July 12 1999. Judgement: 100/100. Tiziano Toracca - 06/12/2018 - 2 Current positions • Visiting Professor, Ghent University, Faculty of Arts and Philosophy, Department of Literary Studies, Blandijnberg 2, 9000 Gent (Belgium) • Cultore della materia in Italian Contemporary Literature (10/F2), Department of Humanities, University of Turin, since July 2018. -

History of Italian Mafia Spring 2019
Lecture Course SANTA REPARATA INTERNATIONAL SCHOOL OF ART Course Syllabus Semester : Spring 2019 Course Title: History of Italian Mafia Course Number: HIST 297 Meeting times: Tuesdays and Thursdays 12:40pm-4:00pm Location: Room 207, Main Campus, Piazza Indipendenza Instructor: Professor Lorenzo Pubblici Ph.D. E-mail: [email protected] Office Hours: Tuesdays, 9am-11am, but don’t hesitate writing for any problem or doubt to my email address. 1. COURSE DESCRIPTION: This course will examine the history of the Italian Mafia, starting with the Unification of Italy up to the present. The approach will be both political-historical and sociological. A discussion of the major protagonists, in the flight against the Cosa Nostra such as Giovanni Falcone and Paolo Borselino will be an integral part of this course. The course will end with a discussion of contemporary organized crime in Italy. This semester in particular, we will focus on the so-called new mafia, the ‘ndrangheta, a powerful and growing organization rooted in Calabria but present all over Europe. 2. CONTENT INTRODUCTION: The course begins with an analysis of the roots of the Italian mafia that lay within the over reliance on codes of honor and on traditional family values as a resolution to all conflicts. Historically we begin in the Middle Ages with the control of agricultural estates by the mafia, the exploitation of peasants, and the consequent migration of Sicilians towards the United States at the end of the 19th century. We then focus on the controversial relationship between the mafia and the fascist state, and the decline of organized crime under fascism. -

Zerohack Zer0pwn Youranonnews Yevgeniy Anikin Yes Men
Zerohack Zer0Pwn YourAnonNews Yevgeniy Anikin Yes Men YamaTough Xtreme x-Leader xenu xen0nymous www.oem.com.mx www.nytimes.com/pages/world/asia/index.html www.informador.com.mx www.futuregov.asia www.cronica.com.mx www.asiapacificsecuritymagazine.com Worm Wolfy Withdrawal* WillyFoReal Wikileaks IRC 88.80.16.13/9999 IRC Channel WikiLeaks WiiSpellWhy whitekidney Wells Fargo weed WallRoad w0rmware Vulnerability Vladislav Khorokhorin Visa Inc. Virus Virgin Islands "Viewpointe Archive Services, LLC" Versability Verizon Venezuela Vegas Vatican City USB US Trust US Bankcorp Uruguay Uran0n unusedcrayon United Kingdom UnicormCr3w unfittoprint unelected.org UndisclosedAnon Ukraine UGNazi ua_musti_1905 U.S. Bankcorp TYLER Turkey trosec113 Trojan Horse Trojan Trivette TriCk Tribalzer0 Transnistria transaction Traitor traffic court Tradecraft Trade Secrets "Total System Services, Inc." Topiary Top Secret Tom Stracener TibitXimer Thumb Drive Thomson Reuters TheWikiBoat thepeoplescause the_infecti0n The Unknowns The UnderTaker The Syrian electronic army The Jokerhack Thailand ThaCosmo th3j35t3r testeux1 TEST Telecomix TehWongZ Teddy Bigglesworth TeaMp0isoN TeamHav0k Team Ghost Shell Team Digi7al tdl4 taxes TARP tango down Tampa Tammy Shapiro Taiwan Tabu T0x1c t0wN T.A.R.P. Syrian Electronic Army syndiv Symantec Corporation Switzerland Swingers Club SWIFT Sweden Swan SwaggSec Swagg Security "SunGard Data Systems, Inc." Stuxnet Stringer Streamroller Stole* Sterlok SteelAnne st0rm SQLi Spyware Spying Spydevilz Spy Camera Sposed Spook Spoofing Splendide -
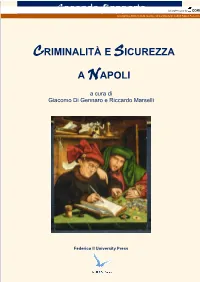
Secondo Rapporto
Studi e Ricerche in Scienze Criminologiche, Giuridiche, e Sociali View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk econdo apporto brought to you by CORE 2 S R provided by Archivio della ricerca - Università degli studi di Napoli Federico II 2 Questo Secondo Rapporto su “Criminalità e sicurezza a Napoli” si è posto l’obiet- tivo, questa volta, di indagare le ragioni della persistenza di alcuni fenomeni crimi- nali che caratterizzano la città di Napoli rispetto ad altre metropoli del Paese. Nelle prime due sezioni gli interrogativi affrontati riguardano alcuni temi quali la persi- stenza dell’agire deviante grave di minori e criminale di adulti, la formazione di ag- RIMINALITÀ E ICUREZZA gregazioni violente giovanili, la ferocia dei clan camorristici e l’adeguatezza delle politiche di deterrenza, nonostante in Italia il 41-bis e le diverse sperimentazioni in C S tema di controllo e sicurezza del territorio attive in diverse città, tra cui Napoli. La terza sezione, invece, è dedicata all’analisi del fenomeno dell’usura alla luce di una C riflessione civilistica, penalistica e vittimologica. Il filo che unisce le parti è l’interpre- RIMINALITÀ E A APOLI tazione della dinamica e dei fattori connessi a crimini che sono trasversali ai diversi N strati sociali l’esito dei quali è la produzione di una trappola della criminalità che Gennaro Di Giacomo deprime le opportunità legali e favorisce la convinzione in molti che le carriere cri- a cura di minali siano più convenienti. Giacomo Di Gennaro e Riccardo Marselli Oltre ai curatori del volume Giacomo Di Gennaro e Riccardo Marselli, hanno con- tribuito: Aldo Corvino, Maria Di Pascale, Giuseppina Donnarumma, Debora Amelia Elce, Filomena Gaudino, Fausto Lamparelli, Elia Lombardo, Elisabetta Morazio, S - ICUREZZA A Andrea Procaccini, Francesco Rattà, Luigi Rinella, Rodolfo Ruperti, Riccardo Marselli Riccardo Sgobbo, Michele Maria Spina, Pasquale Troncone. -

C.V. Di A.S., 25/01/2020 Curriculum Vitae Di Alberto Sebastiani 2020
Curriculum Vitae di Alberto Sebastiani 2020 Alberto Sebastiani Via Augusto Murri n. 6 40137 Bologna 340 7704449 [email protected] [email protected] CURRICULUM VITAE di ALBERTO SEBASTIANI Il presente CV si compone di quattro parti: I – Presentazione sintetiCa del candidato II – Elenco completo dei titoli sCientifiCi III – Elenco delle attività didattiChe, sCientifiChe e professionali IV – Elenco completo delle pubbliCazioni sCientifiChe I PRESENTAZIONE SINTETICA Alberto Sebastiani, madrelingua italiano, parla francese e inglese e si è laureato in Lettere Moderne nel 2000 all’Università di Bologna, dove ha Conseguito nel 2005 il dottorato in LinguistiCa e stilistiCa italiana (relatore Prof. Fabrizio Frasnedi). Sempre a Bologna, fin dal 2001, ha svolto attività di didattiCa e di riCerca in modo Continuativo in ambito linguistiCo e letterario, per i Corsi di LinguistiCa italiana, DidattiCa dell’italiano, Lingua e Cultura italiana e Letteratura italiana Contemporanea. Data la formazione linguistiCa, ha quasi sempre mantenuto una prospettiva stilistiCa e retoriCa sulla letteratura italiana, ma ha Compiuto anche diversi studi di ambito tematiCo e filologiCo. Ha affrontato la lingua, lo stile, gli aspetti retoriCi e la poetiCa di autori moderni e Contemporanei, legati sia alla tradizione letteraria alta, sia a quella popolare, sia a quella pop Come fumetti e altre forme di narrazione nell’ambito dei Cosiddetti “nuovi media”. Ha infatti lavorato diffusamente sulla lingua della politiCa, delle sCritture digitali, degli sms e dei blog. Dopo il dottorato ha Continuato la sua formazione presso l’Università di Bologna, vincendo due borse di studio: la prima alla SCuola Superiore di Studi UmanistiCi diretta da Umberto ECo per il progetto As you like it (?). -

Influenced Transplantation: a Study Into Emerging Mafia Groups in The
Influenced Transplantation: A Study into Emerging Mafia Groups in the United States pre-1920 Simon May Submitted version deposited in Coventry University’s Institutional Repository Original citation: May, S. (2017) Influenced Transplantation: A Study into Emerging Mafia Groups in the United States pre-1920 . Unpublished PhD Thesis. Coventry: Coventry University. Copyright © and Moral Rights are retained by the author. A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. This item cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the copyright holder(s). The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. Some materials have been removed from this thesis due to Third Party Copyright. Pages where material has been removed are clearly marked in the electronic version. The unabridged version of the thesis can be viewed at the Lanchester Library, Coventry University. Influenced Transplantation: A Study into Emerging Mafia Groups in the United States pre-1920 By Simon May May 2017 A thesis submitted in partial fulfilment of the University’s requirements for the Degree of Doctor of Philosophy 1 2 REGISTRY RESEARCH UNIT ETHICS REVIEW FEEDBACK FORM (Review feedback should be completed within 10 working days) Name of applicant: Simon May ...................................... Faculty/School/Department: [Business, Environment and Society] International Studies and Social Science .................................................................. Research project title: PHD on Organised Crime: Links between pre-prohibition mafias in the US and Sicily Comments by the reviewer 1. Evaluation of the ethics of the proposal: 2. -

Scarica Questo File
n. 14 eum x quaderni Andrea Rondini Heteroglossia n. 14| 2016 pianeta non-fiction a cura di Andrea Rondini heteroglossia Heteroglossia Quaderni di Linguaggi e Interdisciplinarità. eum edizioni università di macerata > 2006-2016 Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali. isbn 978-88-6056-487-0 edizioni università di macerata eum x quaderni n. 14 | anno 2016 eum eum Heteroglossia n. 14 Pianeta non-fiction a cura di Andrea Rondini eum Università degli Studi di Macerata Heteroglossia n. 14 Quaderni di Linguaggi e Interdisciplinarità. Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali Direttore: Hans-Georg Grüning Comitato scientifico: Mathilde Anquetil (segreteria di redazione), Alessia Bertolazzi, Ramona Bongelli, Ronald Car, Giorgio Cipolletta, Lucia D'Ambrosi, Armando Francesconi, Hans- Georg Grüning, Danielle Lévy, Natascia Mattucci, Andrea Rondini, Marcello Verdenelli, Francesca Vitrone Comitato di redazione: Mathilde Anquetil (Università di Macerata), Alessia Bertolazzi (Università di Macerata), Ramona Bongelli (Università di Macerata), Edith Cognigni (Università di Macerata), Lucia D'Ambrosi (Università di Macerata), Lisa Block de Behar (Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay), Madalina Florescu (Universidade do Porto, Portogallo), Armando Francesconi (Università di Macerata), Aline Gohard-Radenkovic (Université de Fribourg, Suisse), Karl Alfons Knauth (Ruhr-Universität Bochum), Claire Kramsch (University of California Berkeley), Hans-Georg -

CATALOGO 2017 Letteratura Italiana Del ’900 Libreria Malavasi S.A.S
CATALOGO 2017 LETTERATURA ITALIANA DEL ’900 Libreria Malavasi s.a.s. di Maurizio Malavasi & C. Fondata nel 1940 Largo Schuster, 1 20122 Milano tel. 02.80.46.07 fax 02.36.741.891 e-mail: [email protected] http: //www.maremagnum.com http: //www.libreriamalavasi.com Partita I.V.A. 00267740157 C.C.I.A.A. 937056 Conto corrente postale 60310208 Orario della libreria: 10-13,30 – 15-19 (chiuso il lunedì mattina) SI ACQUISTANO SINGOLI LIBRI E INTERE BIBLIOTECHE Negozio storico riconosciuto dalla Regione Lombardia Il formato dei volumi è dato secondo il sistema moderno: fino a cm. 10 ............ = In - 32 fino a cm. 28 ............. = In - 8 fino a cm. 15 ............ = In - 24 fino a cm. 38 ............. = In - 4 fino a cm. 20 ............ = In - 16 oltre cm. 38 .............. = In folio 89580 AMENDOLA Giorgio, Un’isola Milano, Rizzoli, 1980. In-8, brossura, pp. 251. Prima edizione. In buono stato (good copy). 9,50 € 79355 ANDREOLI Vittorino, Il matto inventato Milano, Rizzoli, 1992. In-8, cartonato editoriale, sovracoperta, pp. 232. Pri- ma edizione. In buono stato (good copy). 9,90 € 51595 ANGIOLETTI Giovanni Battista, Scrittori d’Europa Critiche e polemiche Milano, Libreria d’Italia, 1928. In-16 gr., mz. tela mod. con ang., fregi e tit. oro al dorso, conserv. brossura orig., pp. 185,(7). Pri- ma edizione. Ben conservato, con dedica autografa dell’Autore ad Anselmo Bucci. 40 € 47217 ANTOLOGIA CECCARDIANA Introduzione e scelta di Tito Rosina Genova, Emiliano degli Orfini, 1937. In-8 p., brossura (mancanze al dorso, piatto posterio- re staccato), pp. 171,(3), Prima edizione. Antologia dedicata al poeta Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, con un suo ritratto.