Manual De Reportagem
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

(June, 2018) Doctoral Thesis in Digital Media Tese De Doutoramento Em
Improving news literacy among 7 to 10 year old children: An experiment with digital gaming Iola Ribeiro Campos (Ioli Campos) Doctoral Thesis in Digital Media Tese de Doutoramento em Medias Digitais (June, 2018) Dissertation submitted in accordance with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Digital Media under scientific supervision of Professor António Granado Tese apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Doutor em Medias Digitais, realizada sob a orientação científica do Professor Doutor António Granado Financial Support from i DECLARAÇÕES Declaro que esta tese é o resultado da minha investigação pessoal e independente. O seu conteúdo é original e todas as fontes consultadas estão devidamente mencionadas no texto, nas notas e na bibliografia. O candidato, Lisboa, 4 de Junho de 2018 Declaro que esta tese se encontra em condições de ser apreciado pelo júri a designar. O orientador, Lisboa, 5 de Junho de 2018 ii To Gaspar, it all starts with a particle, iii ACKNOWLEDGEMENTS This thesis is the final product of a long and deep personal journey which, despite the great isolation it demanded, would not have been possible without the help of others. I am very grateful to all people who supported me along the way in a variety of forms. First of all, thank you to my supervisor, Professor António Granado, from FCSH- UNL, who was the first person giving me the confidence to embark on such a voyage. Thank you for always being readily available, encouraging and supportive of my work in both sides of the Atlantic. I also would like to express my appreciation to Professor Kathleen Tyner from UT Austin for her unparalleled professional mentorship, whilst I was in the United States and Portugal. -

Realidade Virtual Em Museus: Estudo De Caso Do Newsmuseum Em Sintra
Escola de Sociologia e Políticas Públicas Departamento de História Realidade virtual em museus: Estudo de caso do NewsMuseum em Sintra Sâmia Siqueira Neves da Silva Dissertação submetida como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Empreendedorismo e Estudos da Cultura, especialização em Entretenimento e Indústrias Criativas Orientadora: Doutora Maria João Vaz, Professora Auxiliar, ISCTE-IUL - Instituto Universitário de Lisboa Outubro de 2018 Escola de Sociologia e Políticas Públicas Departamento de História Realidade virtual em museus: Estudo de caso do NewsMuseum em Sintra Sâmia Siqueira Neves da Silva Dissertação submetida como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Empreendedorismo e Estudos da Cultura, especialização em Entretenimento e Indústrias Criativas Orientadora: Doutora Maria João Vaz, Professora Auxiliar, ISCTE-IUL - Instituto Universitário de Lisboa Outubro de 2018 Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal AGRADECIMENTOS Este espaço da dissertação está reservado para agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização deste trabalho. A Professora Doutora Maria João Vaz, pela orientação e contributos para a construção deste trabalho. A toda a equipe do NewsMuseum, por me receber abertamente na instituição. A Margarida Gil dos Reis, pela atenção dedicada e entrevista concedida. A todos os professores do Mestrado em Empreendedorismo e Estudos da Cultura, pelos ensinamentos repassados e contribuições acadêmicas. A Secretaria de Estado da Cultura do Distrito Federal do Brasil, pelo financiamento da bolsa de estudos para este mestrado. A toda a minha família, especialmente meus pais, por todo o amor, apoio, compreensão e carinho dedicados a mim ao longo da vida. -
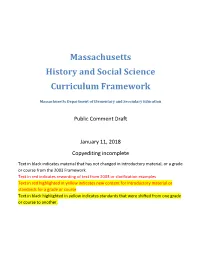
Item 2 Attachment :History and Social Science Proposed Revised Framework for Public Comment
Massachusetts History and Social Science Curriculum Framework Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education Public Comment Draft January 11, 2018 Copyediting incomplete Text in black indicates material that has not changed in introductory material, or a grade or course from the 2003 Framework. Text in red indicates rewording of text from 2003 or clarification examples Text in red highlighted in yellow indicates new content for introductory material or standards for a grade or course Text in black highlighted in yellow indicates standards that were shifted from one grade or course to another. This document was prepared by the Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education Board of Elementary and Secondary Education Members Mr. Paul Sagan, Chair, Cambridge Mr. Michael Moriarty, Holyoke Mr. James Morton, Vice Chair, Boston Mr. James Peyser, Secretary of Education, Milton Ms. Katherine Craven, Brookline Ms. Mary Ann Stewart, Lexington Dr. Edward Doherty, Hyde Park Dr. Martin West, Newton Ms. Amanda Fernandez, Belmont Ms. Hannah Trimarchi, Chair, Student Advisory Ms. Margaret McKenna, Boston Council, Marblehead Jeff Wulfson, Acting Commissioner and Secretary to the Board The Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education, an affirmative action employer, is committed to ensuring that all of its programs and facilities are accessible to all members of the public. We do not discriminate on the basis of age, color, disability, national origin, race, religion, sex, or sexual orientation. Inquiries regarding the Department’s compliance with Title IX and other civil rights laws may be directed to the Human Resources Director, 75 Pleasant St., Malden, MA, 02148, 781-338-6105. © 2018 Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education. -

Feel the City
guide/ guía 2 0 1 8 feel the city. A product of / Un producto de Turismo de Lisboa Foreword / Introducción The Lisboa Card is a La Lisboa Card es un Turismo de Lisboa product producto de Turismo de 2 0 8 1 managed by Lismarke- Lisboa gestionado por ting in collaboration with Lismarketing, en cola- D.G.P.C., CARRIS, Metro- boración con la D.G.P.C., politano de Lisboa, CP, CARRIS, Metro de Lis- Fertagus and the entities boa, CP, Fertagus y las that offer discounts. entidades que conceden The Lisboa Card is sold in descuentos. Adult and Child versions, Lisboa Card se vende en for 24h, 48h and 72h, las modalidades Adulto includes public transport e Infantil de 24h, 48h y and free entrance to 35 72h incluido transporte museums and monu- público y 35 museos y ments, and can be used monumentos gratuitos y to obtain 5% to 50% otros más de 60 lugares discounts at more than 60 con descuentos del 5% locations. al 50%. The Lisboa Card is sold at: Lisboa Card puede adqui- • Ask Me Tourist Offices, rirse en: open daily except on 25 • Oficinas de Turismo Ask December and 1 January; Me, abiertas diariamente, • Turismo de Lisboa fa- excepto el día 25 de di- cilities and shops: Pilar ciembre y el 1 de enero; 7-Bridge Experience, • Equipamientos y tiendas Lisboa Story Centre, Arco de Turismo de Lisboa: da Rua Augusta, Lisbon Pilar 7, Lisboa Story Shop (Rua do Arsenal), Centre, Arco de Rua Au- Lisbon Shop (Rua Jardim gusta, Lisbon Shop (Rua do Regedor) and Mitos e do Arsenal), Lisbon Shop Lendas de Sintra; (Rua Jardim do Regedor) y • Through the Turismo de Mitos e Lendas de Sintra; Lisboa website: • A través de la web de www.visitlisboa.com; Turismo de Lisboa: • Through online platforms www.visitlisboa.com; and Tourism Operators; • A través de plataformas • At authorised retailers online y de Operadores and partners of Turismo Turísticos; de Lisboa. -

CURRICULUM VITA Leara D
January 2018 CURRICULUM VITA Leara D. Rhodes Associate Professor, College of Journalism and Mass Communication (since 1994) Faculty member, African Studies Institute (since 1997) Faculty affiliate member, Latin American and Caribbean Studies Program (since 2002) EDUCATION Ph.D., Philosophy (Mass Communications), School of Communication and Theatre Temple University (Spring 1988-1990) “Development and Continuance of Haitian Newspapers in the United States” MA, Communications, Temple University (Fall 1986-Winter 1988) BA, Journalism, University of Georgia (Fall 1968-Spring 1972), 2nd major in Drama and Theatre EMPLOYMENT Teaching Experience Associate Professor, Department of Journalism, Henry W. Grady College of Journalism and Mass Communication University of Georgia, Fall 2000 to present UGA Oxford program, Trinity College / Oxford England, Summer 2010 and Summer 2013. Assistant Professor, Henry W. Grady College of Journalism and Mass Communication University of Georgia, September 1994 to March 2000 Assistant Professor, College of Journalism and Mass Communication, University of South Carolina, Columbia, SC. August 1990 to September 1994 Instructor, College of Journalism and Mass Communication, Temple University, Philadelphia, PA, 1987 to 1990 Graduate Teaching Assistant, College of Journalism and Mass Communication, Temple University, Philadelphia, PA, 1986 to 1987 Professional Writing and Editing Experience Community Marketing member of Morton Theatre Corporation (2017-present). Produce press releases for radio and print to programs -

Museums, Monuments and Sites
Museums, Monuments and Sites Casa Museu Miguel Torga Centro Português do Surrealismo Address: Praceta Fernando Pesssoa, nº 33030 Coimbra Address: Praça D. Maria II4760-111 Vila Nova de Telephone: +351 239 781 345 Famalicão Telephone: +351 252 301 650 Fax: +351 252 301 669 E-mail: [email protected] Website: http://www.turism odecoimbra.pt/company/casa-museu-miguel-torga/ E-mail: [email protected] Website: https://www.cupertino.pt/ Timetable: ; Other informations: Characteristics and Services: Monday to Friday: 10:00 a.m. to 12:30 p.m. and 2:00 p.m. to Guided Tours; 6:00 p.m. Accessibility: Saturdays and holidays: 14h00 - 18h00 (during the period of Disabled access; Reserved parking spaces; Accessible route to temporary exhibitions) the entrance: Total; Accessible entrance: Partial; Reception area Closed on Sundays, weekends, August and on January 1; Good suitable for people with special needs; Accessible areas/services: friday; 1st May; August 15th; 8, 24 and 25 December. Toilets, Auditorium; Care skills: Visual impairment, Hearing Characteristics and Services: impairment, Motor disability, Mental disability; Shops; Guided Tours; Accessibility: Disabled access; Accessible route to the entrance: Total; Miguel Torga House Museum Accessible entrance: Total; Reception area suitable for people with special needs; Accessible circulation inside: Total; The Miguel Torga House Museum was inaugurated on 12 August Accessible areas/services: Shop, Toilets, Auditorium; Accessible 2007. Its main aim is to provide the visitor with knowledge of the information: Information panels; Poet's work as shown through one of the most emblematic places of his life, namely his own home. Museu de Cerâmica Artística da Fundação Castro Miguel Torga, the greatest name in 20th century Portuguese literature, lived in this house since the early 1950s, until January Alves 1995. -
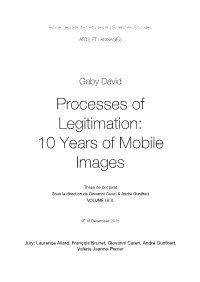
Processes of Legitimation: 10 Years of Mobile Images
École des Hautes Études en Sciences Sociales ARTS ET LANGAGES Gaby David Processes of Legitimation: 10 Years of Mobile Images Thèse de doctorat Sous la direction de Giovanni Careri & André Gunthert VOLUME I & II. 9th of December 2015 Jury: Laurence Allard, François Brunet, Giovanni Careri, André Gunthert, Valérie Jeanne-Perrier Processus de légitimation : 10 années d’images mobiles Résumé en version française Table de matières Résumé……………………………………………………………………………...……….. ii Introduction État de l’art : Images mobiles, études et taxonomies ………………………………... iii Contexte et chronologie de la recherche ………………………………………….. xvii Résumé de la thèse, études de cas et méthodologie………………………………... xxix Première partie : Le processus de légitimation des photos mobiles Les années expérimentales : émergence des artistes et journalistes citoyens ……… xxiv Deuxième partie : Quand les images mobiles deviennent ordinaires - la prise de pouvoir des utilisateurs sur le processus d’auto-légitimation De la reconnaissance entre pairs à l’auto-validation ……………………………... xxxiii Conclusion générale …………………………………………………………………….. xxxix i Résumé Comment la production et la consommation d’images mobiles privées, vernaculaires, passent-elles d’une relative confidentialité à une large exposition médiatique, voire à un habitus généralisé, véritable phénomène social ? Avec l’accroissement de l’utilisation de ces images mobiles dans la vie quotidienne, comment et où ces effets ont-ils été perçus ? Afin de comprendre les mécanismes qui ont conduit à construire l’acceptation sociale de l’image mobile, la thèse de Gaby David explore les processus de légitimation et de validation que l’imagerie mobile a subis entre 2005 et 2015. Processus de légitimation : 10 années d’images mobiles, tente de retracer l’histoire récente des processus de légitimation de ces images en la divisant en deux grandes périodes. -

Feel the City
guide/ guía 2 0 1 8 feel the city. A product of / Un producto de Turismo de Lisboa Foreword / Introducción The Lisboa Card is a La Lisboa Card es un Turismo de Lisboa product producto de Turismo de 2 0 1 8 managed by Lismarke- Lisboa gestionado por ting in collaboration with Lismarketing, en cola- D.G.P.C., CARRIS, Metro- boración con la D.G.P.C., politano de Lisboa, CP, CARRIS, Metro de Lis- Fertagus and the entities boa, CP, Fertagus y las that offer discounts. entidades que conceden The Lisboa Card is sold in descuentos. Adult and Child versions, Lisboa Card se vende en for 24h, 48h and 72h, las modalidades Adulto includes public transport e Infantil de 24h, 48h y and free entrance to 37 72h incluido transporte museums and monu- público y 37 museos y ments, and can be used monumentos gratuitos y to obtain 5% to 50% otros más de 60 lugares discounts at more than 60 con descuentos del 5% locations. al 50%. The Lisboa Card is sold at: Lisboa Card puede adqui- • Ask Me Tourist Offices, rirse en: open daily except on 25 • Oficinas de Turismo Ask December and 1 January; Me, abiertas diariamente, • Turismo de Lisboa fa- excepto el día 25 de di- cilities and shops: Pilar ciembre y el 1 de enero; 7-Bridge Experience, • Equipamientos y tiendas Lisboa Story Centre, Arco de Turismo de Lisboa: da Rua Augusta, Lisbon Pilar 7, Lisboa Story Shop (Rua do Arsenal), Centre, Arco de Rua Au- Lisbon Shop (Rua Jardim gusta, Lisbon Shop (Rua do Regedor) and Mitos e do Arsenal), Lisbon Shop Lendas de Sintra; (Rua Jardim do Regedor) y • Through the Turismo de Mitos e Lendas de Sintra; Lisboa website: • A través de la web de www.visitlisboa.com; Turismo de Lisboa: • Through online platforms www.visitlisboa.com; and Tourism Operators; • A través de plataformas • At authorised retailers online y de Operadores and partners of Turismo Turísticos; de Lisboa.