Unirio Narrativa Dos Ameríndios
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Some Principles of the Use of Macro-Areas Language Dynamics &A
Online Appendix for Harald Hammarstr¨om& Mark Donohue (2014) Some Principles of the Use of Macro-Areas Language Dynamics & Change Harald Hammarstr¨om& Mark Donohue The following document lists the languages of the world and their as- signment to the macro-areas described in the main body of the paper as well as the WALS macro-area for languages featured in the WALS 2005 edi- tion. 7160 languages are included, which represent all languages for which we had coordinates available1. Every language is given with its ISO-639-3 code (if it has one) for proper identification. The mapping between WALS languages and ISO-codes was done by using the mapping downloadable from the 2011 online WALS edition2 (because a number of errors in the mapping were corrected for the 2011 edition). 38 WALS languages are not given an ISO-code in the 2011 mapping, 36 of these have been assigned their appropri- ate iso-code based on the sources the WALS lists for the respective language. This was not possible for Tasmanian (WALS-code: tsm) because the WALS mixes data from very different Tasmanian languages and for Kualan (WALS- code: kua) because no source is given. 17 WALS-languages were assigned ISO-codes which have subsequently been retired { these have been assigned their appropriate updated ISO-code. In many cases, a WALS-language is mapped to several ISO-codes. As this has no bearing for the assignment to macro-areas, multiple mappings have been retained. 1There are another couple of hundred languages which are attested but for which our database currently lacks coordinates. -

Prayer Cards | Joshua Project
Pray for the Nations Pray for the Nations Abkhaz in Ukraine Abor in India Population: 1,500 Population: 1,700 World Popl: 307,600 World Popl: 1,700 Total Countries: 6 Total Countries: 1 People Cluster: Caucasus People Cluster: South Asia Tribal - other Main Language: Abkhaz Main Language: Adi Main Religion: Non-Religious Main Religion: Unknown Status: Minimally Reached Status: Minimally Reached Evangelicals: 1.00% Evangelicals: Unknown % Chr Adherents: 20.00% Chr Adherents: 16.36% Scripture: New Testament Scripture: Complete Bible www.joshuaproject.net www.joshuaproject.net Source: Apsuwara - Wikimedia "Declare his glory among the nations." Psalm 96:3 "Declare his glory among the nations." Psalm 96:3 Pray for the Nations Pray for the Nations Achuar Jivaro in Ecuador Achuar Jivaro in Peru Population: 7,200 Population: 400 World Popl: 7,600 World Popl: 7,600 Total Countries: 2 Total Countries: 2 People Cluster: South American Indigenous People Cluster: South American Indigenous Main Language: Achuar-Shiwiar Main Language: Achuar-Shiwiar Main Religion: Ethnic Religions Main Religion: Ethnic Religions Status: Minimally Reached Status: Minimally Reached Evangelicals: 1.00% Evangelicals: 2.00% Chr Adherents: 14.00% Chr Adherents: 15.00% Scripture: New Testament Scripture: New Testament www.joshuaproject.net www.joshuaproject.net Source: Gina De Leon Source: Gina De Leon "Declare his glory among the nations." Psalm 96:3 "Declare his glory among the nations." Psalm 96:3 Pray for the Nations Pray for the Nations Adi in India Adi Gallong in India -

Indigenous and Tribal Peoples of the Pan-Amazon Region
OAS/Ser.L/V/II. Doc. 176 29 September 2019 Original: Spanish INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS Situation of Human Rights of the Indigenous and Tribal Peoples of the Pan-Amazon Region 2019 iachr.org OAS Cataloging-in-Publication Data Inter-American Commission on Human Rights. Situation of human rights of the indigenous and tribal peoples of the Pan-Amazon region : Approved by the Inter-American Commission on Human Rights on September 29, 2019. p. ; cm. (OAS. Official records ; OEA/Ser.L/V/II) ISBN 978-0-8270-6931-2 1. Indigenous peoples--Civil rights--Amazon River Region. 2. Indigenous peoples-- Legal status, laws, etc.--Amazon River Region. 3. Human rights--Amazon River Region. I. Title. II. Series. OEA/Ser.L/V/II. Doc.176/19 INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS Members Esmeralda Arosemena de Troitiño Joel Hernández García Antonia Urrejola Margarette May Macaulay Francisco José Eguiguren Praeli Luis Ernesto Vargas Silva Flávia Piovesan Executive Secretary Paulo Abrão Assistant Executive Secretary for Monitoring, Promotion and Technical Cooperation María Claudia Pulido Assistant Executive Secretary for the Case, Petition and Precautionary Measure System Marisol Blanchard a.i. Chief of Staff of the Executive Secretariat of the IACHR Fernanda Dos Anjos In collaboration with: Soledad García Muñoz, Special Rapporteurship on Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights (ESCER) Approved by the Inter-American Commission on Human Rights on September 29, 2019 INDEX EXECUTIVE SUMMARY 11 INTRODUCTION 19 CHAPTER 1 | INTER-AMERICAN STANDARDS ON INDIGENOUS AND TRIBAL PEOPLES APPLICABLE TO THE PAN-AMAZON REGION 27 A. Inter-American Standards Applicable to Indigenous and Tribal Peoples in the Pan-Amazon Region 29 1. -

MAT-0FINAL Novo
NOT ALL IN ONE RHYTHM: A CRITICAL ANALYSIS OF THE MEDIA DISCOURSE AGAINST THE INDIGENOUS RE-EXISTENCE OF THE MARAKÁ’NÀ VILLAGE IN KÛÁNÃPARÁ by Alexandre Cursino A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Master of Arts Graduate Department of Leadership, Higher and Adult Education Ontario Institute for Studies in Education University of Toronto © Copyright by Alexandre Cursino 2016 NOT ALL IN ONE RHYTHM: A CRITICAL ANALYSIS OF THE MEDIA DISCOURSE AGAINST THE INDIGENOUS RE-EXISTENCE OF THE MARAKÁ’NÀ VILLAGE IN KÛÁNÃPARÁ Master of Arts 2016 Alexandre Cursino Department of Leadership, Higher and Adult Education University of Toronto Abstract Indigenous people created the re-existence known as Maraká’nà village, by re-occupying the sacred territory of a building in Kûánãpará (Rio de Janeiro) located next to the popular Maracanã stadium. The village became a meeting place for re-existences that encompass issues of Indigenous sovereignty, sacred land right, spirituality practices, decolonizing education, and the creation of the first Intercultural Indigenous University in Pindorama. It challenged the economic and social impacts of the neoliberal sports mega-events, which raised tensions during the organization of sports mega-events. These tensions were amplified through media discourse, by perpetuating violent treatment of Indigenous peoples, and naturalizing the dominant elite. Employing a transdisciplinary methodology that combines Critical Discourse Analysis and Critical Political Economy, this study examines the media discourse that obstructs the Indigenous re-existence of Maraká’nà by favoring capitalist structures. Despite demonstrating unbalanced power relations, the findings show unbalanced power relations Maraká'nà and media discourses. -

Rieli Franciscato
Entrevista com Rieli Franciscato, sertanista e indigenista, Coordenador da Frente de Proteção Etnoambiental Uru-Eu-Wau-Wau Interview awarded by Rieli Franciscato, sertanista and indigenista, Coordinator of the Uru-Eu-Wau-Wau Ethno-Environmental Protection Front Apresentação por Ana Suelly Arruda Câmara Cabral Rieli Franciscato dialoga com Antenor Vaz sobre a formação de indigenistas para o trabalho de campo com povos indígenas isolados, tendo como referência a sua própria história. Fala da política do não contato implantada na segunda metade da década de 1980, mas que só se consolida com o desenvolvimento de uma metodologia inovadora para o estudo de referências de povos indígenas isolados. Rieli Franciscato e Antenor Vaz explicam que essa metodologia consiste na identificação, localização, registro e mapeamento de referências desses povos, as quais são indispensáveis para subsidiar a definição territorial dos mesmos. Rieli fala de como se tornou um sertanista, de sua vivência com os Tuparí e com outros povos de Rondônia. Fala também da importância do conhecimento pelos sertanistas/indigenistas de línguas indígenas nas situações de contatos eventuais com povos em isolamento voluntário. A entrevista, concedida por Rieli Franciscato a Ana Suelly A. C. Cabral, Antenor Vaz e Ariel Pheula do Couto e Silva, nos dias 5 e 6 de abril de 2015, no Laboratório de Línguas e Literaturas Indígenas / UnB é uma contribuição para a história do indigenismo e das políticas públicas voltadas para a proteção de índios isolados e de recente contato no Brasil. 133 Entrevista com Rieli Franciscato, sertanista e indigenista... Entrevista / Interview: Rieli Franciscato Antenor Vaz: Sobre a minha participação nos trabalhos de localização dos índios isolados da Reserva Biológica do Guaporé, e na Coordenação de Estudos Indigenistas – CEI, na FUNAI, sempre me preocupava em criar condições de continuidade dos trabalhos. -

Environmental Shielding Is Contrast Preservation
Phonology 35 (2018). Supplementary materials Environmental shielding is contrast preservation Juliet Stanton New York University Supplementary materials These supplementary materials contain four appendices and a bibli- ography: Appendix A: List of shielding languages 1 Appendix B: Additional information on shielding languages 4 Appendix C: List of non-shielding languages 37 Appendix D: Summary of vowel neutralisation survey 45 References 49 The materials are supplied in the form provided by the author. Appendices for “Environmental shielding is contrast preservation” Appendix A: list of shielding languages Key for appendices A-C Shaded = shielding occurs in this context Not shaded = shielding not known to occur in this context The language names provided in appendices A-C are those used by SAPhon. Evidence = type of evidence found for a vocalic nasality contrast, in addition to the author’s description. (MP = minimal or near-minimal pairs; NVNE: nasal vowels in non-nasal environments; –: no additional evidence available) Shielding contexts V-V?˜ (Evidence) Language Family Source Appendix B NV VN]σ V]σN Yes MP Ache´ Tup´ı Roessler (2008) #1, p. 4 Yes MP Aguaruna Jivaroan Overall (2007) #2, p. 4 Yes MP Amahuaca Panoan Osborn (1948) #3, p. 5 Yes MP Amarakaeri Harakmbet Tripp (1955) #4, p. 5 Yes MP Amundava Tup´ı Sampaio (1998) #5, p. 6 Yes MP Andoke (Isolate) Landaburu (2000a) #6, p. 6 Yes MP Apiaka´ Tup´ı Padua (2007) #7, p. 7 Yes MP Apinaye´ Macro-Ge Oliveira (2005) #8, p. 7 Yes – Arara´ do Mato Grosso Isolate da Rocha D’Angelis (2010) #9, p. 8 Yes MP Arikapu´ Macro-Ge Arikapu´ et al. -

Universidade De Brasília Instituto De Relações Internacionais Programa De Pós-Graduação Em Relações Internacionais
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS RODOLFO ILÁRIO DA SILVA POVOS INDÍGENAS EM ISOLAMENTO VOLUNTÁRIO NA AMAZÔNIA BRASILEIRA: O SEXTO SÉCULO DE GENOCÍDIOS E DIÁSPORAS INDÍGENAS BRASÍLIA 2017 RODOLFO ILÁRIO DA SILVA POVOS INDÍGENAS EM ISOLAMENTO VOLUNTÁRIO NA AMAZÔNIA BRASILEIRA: O SEXTO SÉCULO DE GENOCÍDIOS E DIÁSPORAS INDÍGENAS Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade de Brasília como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Relações Internacionais. Área de Concentração: Política Internacional e Comparada Orientador: Prof. Dr. Alcides Costa Vaz BRASÍLIA 2017 RODOLFO ILÁRIO DA SILVA POVOS INDÍGENAS EM ISOLAMENTO VOLUNTÁRIO NA AMAZÔNIA BRASILEIRA: O SEXTO SÉCULO DE GENOCÍDIOS E DIÁSPORAS INDÍGENAS Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade de Brasília como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Relações Internacionais. BANCA EXAMINADORA __________________________________________________ Presidente - Prof. Dr. Alcides Costa Vaz (Orientador) Universidade de Brasília (UnB) __________________________________________________ Profª. Drª. Cristina Yumie Aoki Inoue (Examinadora) Universidade de Brasília (UnB) __________________________________________________ Prof. Dr. João Nackle Urt (Examinador) Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) __________________________________________________ Prof. Dr. Cristhian Teófilo da Silva (Examinador) Universidade -

O Tronco Tupi E As Suas Famílias De Línguas. Classificação E Esboço Tipológico
In Noll, Volker & Wolf Dietrich (org.). 2010. O português e o tupi no Brasil. São Paulo: Editora Contexto. O tronco tupi e as suas famílias de línguas. Classificação e esboço tipológico Wolf Dietrich Famílias linguísticas e troncos linguísticos O que se chama “tupi” na tradição brasileira a partir do século XIX corres- ponde a uma realidade linguística complexa. O tupinambá, em que se baseiam as línguas gerais da época colonial, a língua brasílica, a língua geral paulista e a língua geral amazônica, extinto desde a primeira metade do século XVIII (cf. Rodrigues, 1996: 57), foi uma das línguas da grande família linguística tupi-guarani. Essa se chama tupi-guarani, nas classificações dos especialistas, porque o tupi(nambá) e o guarani foram as primeiras línguas documentadas da família e assim serviram como definição. Para a definição do conceito de “família linguística”, sejam citadas as palavras de Aryon Rodrigues: As línguas do mundo são classificadas em famílias segundo o critério genético. De acordo com esse critério, uma família linguística é um grupo de línguas para as quais se formula a hipótese de que têm uma origem comum, no sentido de que todas as línguas da família são manifestações diversas, al- teradas no correr do tempo, de uma só língua anterior. As línguas românicas ou neolatinas – português, espanhol, catalão, francês, romanche, italiano, romeno – constituem uma família, cujos membros derivam de uma língua ancestral bem conhecida historicamente – o latim. Para a maioria das famílias linguísticas, porém, as línguas ancestrais são pré-históricas, não se tendo delas 10 O português e o tupi no Brasil nenhuma documentação. -

Bactris Gasipaes) in South America
A SOCIAL HISTORY OF THE PEACH PALM (BACTRIS GASIPAES) IN SOUTH AMERICA Emily Frazier TC 660H Plan II Honors Program The University of Texas at Austin May 13, 2020 ___________________________________________ Patience Epps, Ph.D. Department of Linguistics Supervising Professor ___________________________________________ Lina del Castillo, Ph.D. Department of History Second Reader 1 ABSTRACT Author: Emily Frazier Title: A social history of the peach palm (Bactris gasipaes) in South America Supervising Professor: Patience Epps, Ph.D.; Second Reader: Lina del Castillo, Ph.D. Genetic, linguistic, and cultural clues about domesticated plants provide insights into the histories of the people who have developed and used them. This study examines these clues for the peach palm (Bactris gasipaes), a fruiting palm that is native to South America, but was domesticated and dispersed more widely around the continent by indigenous peoples prior to European arrival there. This project interprets the distribution of peach palm terms in indigenous South American languages in comparison to both genetic work on wild and domesticated peach palm varieties (Clement et al., 2017) as well as ethnographic work and historical information on the significance of the peach palm in different indigenous groups. In its linguistic component, this project analyzes lexical data in South American indigenous languages using dictionaries, other published materials, and communication with experts. Ethnographies of indigenous groups illustrate the ceremonial and ritual uses of the peach palm, and may provide additional information about the distribution of peach palm use practices. Finally, this project examines the peach palm’s status in the context of its historical trajectory to identify possible explanations for its lack of global importance, especially compared to other New World crops. -

Muhammad Naqib NIM 100910101069
Digital Repository Universitas Jember DAMPAK INDUSTRIALISASI BRASIL TERHADAP INDIGENOUS PEOPLES DI HUTAN AMAZON (THE EFFECT OF BRAZIL’S INDUSTRIALIZATION ON INDIGENOUS PEOPLES IN AMAZON FOREST) SKRIPSI Oleh: Muhammad Naqib NIM 100910101069 JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER 2015 Digital Repository Universitas Jember DAMPAK INDUSTRIALISASI BRASIL TERHADAP INDIGENOUS PEOPLES DI HUTAN AMAZON (THE EFFECT OF BRAZIL’S INDUSTRIALIZATION ON INDIGENOUS PEOPLES IN AMAZON FOREST) SKRIPSI diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial Oleh: Muhammad Naqib NIM 100910101069 JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER 2015 i Digital Repository Universitas Jember PERSEMBAHAN Skripsi ini saya persembahkan untuk: 1. Ayah tercinta Ir. Abdul Kadir dan Ibu tercinta Maimunah; 2. Adik-adikku tercinta Fatimatur Rodhiah, Chodijah Alchumairo, dan Ahmad Syafiq; 3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi; 4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. ii Digital Repository Universitas Jember MOTO “A winner is a dreamer who never gives up” (Seorang Pemenang ada seorang pemimpi yang tidak pernah menyerah) By Nelson Mandela* * Auj Lazaro. 2013. Nelson Mandela Quotes: Top 5 Quotations of the South African Leader Worth Remembering. Diakses dari http://www.latinpost.com/articles/4469/20131206/nelson-mandela-quotes- top-5-quotations-south-african-leader-worth.htm diakses pada 10 Februari 2015 iii Digital Repository Universitas Jember PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Muhammad Naqib NIM : 100910101069 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Dampak Industrialisasi Brasil Terhadap Indigenous Peoples di Hutan Amazon” adalah benar- benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. -
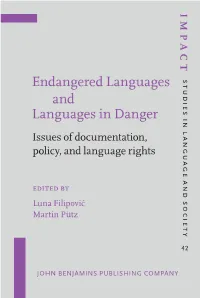
Endangered Languages and Languages in Danger IMPACT: Studies in Language and Society Issn 1385-7908
IMPACT Endangered Languages studies and Languages in Danger in language Issues of documentation, policy, and language rights and Luna F i l i p o v i ´c society Martin Pütz 42 JOHN BENJAMINS PUBLISHING COMPANY Endangered Languages and Languages in Danger IMPACT: Studies in Language and Society issn 1385-7908 IMPACT publishes monographs, collective volumes, and text books on topics in sociolinguistics. The scope of the series is broad, with special emphasis on areas such as language planning and language policies; language conflict and language death; language standards and language change; dialectology; diglossia; discourse studies; language and social identity (gender, ethnicity, class, ideology); and history and methods of sociolinguistics. For an overview of all books published in this series, please see http://benjamins.com/catalog/impact General Editors Ana Deumert Kristine Horner University of Cape Town University of Sheffield Advisory Board Peter Auer Marlis Hellinger University of Freiburg University of Frankfurt am Main Jan Blommaert Elizabeth Lanza Ghent University University of Oslo Annick De Houwer William Labov University of Erfurt University of Pennsylvania J. Joseph Errington Peter L. Patrick Yale University University of Essex Anna Maria Escobar Jeanine Treffers-Daller University of Illinois at Urbana University of the West of England Guus Extra Victor Webb Tilburg University University of Pretoria Volume 42 Endangered Languages and Languages in Danger. Issues of documentation, policy, and language rights Edited by Luna Filipović and Martin Pütz Endangered Languages and Languages in Danger Issues of documentation, policy, and language rights Edited by Luna Filipović University of East Anglia Martin Pütz University of Koblenz-Landau John Benjamins Publishing Company Amsterdam / Philadelphia TM The paper used in this publication meets the minimum requirements of 8 the American National Standard for Information Sciences – Permanence of Paper for Printed Library Materials, ansi z39.48-1984. -

Povos Indígenas No Brasil 1980/2013
POVOS INDÍGENAS NO BRASIL 1980/2013 INDIGENOUS PEOPLES IN BRAZIL Retrospectiva em imagens da luta dos Povos Indígenas no Brasil por seus direitos coletivos A visual retrospective of the struggle of Indigenous Peoples in Brazil for their collective rights Esta exposição foi instalada e aberta ao público pela primeira vez na Praça Externa do Museu Nacional do Conjunto Cultural da República, em Brasília/ DF, de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2013 This exhibition was first installed and opened to the public at the Outer Plaza of the National Museum of the Culture Complex of the Republic, Brasília/ DF, 20 November to 19 December 2013 1 APRESENTAÇÃO PRESENTATION A poio Norueguês aos N orwegian support to E sta publicação corresponde ao catálogo da ex- This is the catalogue of the exhibition Indigenous Povos Indígenas no Brasil Indigenous peoples in Brazil posição Povos Indígenas no Brasil 1980/2013, uma Peoples in Brazil 1980/2013, a visual retrospective retrospectiva em imagens da luta dos povos indíge- of the country’s Indigenous peoples’ struggle for Em 1983, a Noruega criou uma linha específica de In 1983, Norway launched a support programme nas do país por seus direitos coletivos. their collective rights. apoio aos povos indígenas. O Brasil foi o país piloto for Indigenous peoples. Brazil was the first country escolhido para receber recursos dessa iniciativa, to benefit from it, and the funding has been A maior parte das 44 fotografias selecionadas foi Most of the 44 photographs selected have que se estende até os dias atuais. uninterrupted