JULIUS CAESAR / 1953 (Júlio César)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Boxoffice Barometer (March 6, 1961)
MARCH 6, 1961 IN TWO SECTIONS SECTION TWO Metro-Goldwyn-Mayer presents William Wyler’s production of “BEN-HUR” starring CHARLTON HESTON • JACK HAWKINS • Haya Harareet • Stephen Boyd • Hugh Griffith • Martha Scott • with Cathy O’Donnell • Sam Jaffe • Screen Play by Karl Tunberg • Music by Miklos Rozsa • Produced by Sam Zimbalist. M-G-M . EVEN GREATER IN Continuing its success story with current and coming attractions like these! ...and this is only the beginning! "GO NAKED IN THE WORLD” c ( 'KSX'i "THE Metro-Goldwyn-Mayer presents GINA LOLLOBRIGIDA • ANTHONY FRANCIOSA • ERNEST BORGNINE in An Areola Production “GO SPINSTER” • • — Metrocolor) NAKED IN THE WORLD” with Luana Patten Will Kuluva Philip Ober ( CinemaScope John Kellogg • Nancy R. Pollock • Tracey Roberts • Screen Play by Ranald Metro-Goldwyn-Mayer pre- MacDougall • Based on the Book by Tom T. Chamales • Directed by sents SHIRLEY MacLAINE Ranald MacDougall • Produced by Aaron Rosenberg. LAURENCE HARVEY JACK HAWKINS in A Julian Blaustein Production “SPINSTER" with Nobu McCarthy • Screen Play by Ben Maddow • Based on the Novel by Sylvia Ashton- Warner • Directed by Charles Walters. Metro-Goldwyn-Mayer presents David O. Selznick's Production of Margaret Mitchell’s Story of the Old South "GONE WITH THE WIND” starring CLARK GABLE • VIVIEN LEIGH • LESLIE HOWARD • OLIVIA deHAVILLAND • A Selznick International Picture • Screen Play by Sidney Howard • Music by Max Steiner Directed by Victor Fleming Technicolor ’) "GORGO ( Metro-Goldwyn-Mayer presents “GORGO” star- ring Bill Travers • William Sylvester • Vincent "THE SECRET PARTNER” Winter • Bruce Seton • Joseph O'Conor • Martin Metro-Goldwyn-Mayer presents STEWART GRANGER Benson • Barry Keegan • Dervis Ward • Christopher HAYA HARAREET in “THE SECRET PARTNER” with Rhodes • Screen Play by John Loring and Daniel Bernard Lee • Screen Play by David Pursall and Jack Seddon Hyatt • Directed by Eugene Lourie • Executive Directed by Basil Dearden • Produced by Michael Relph. -

John Gassner
John Gassner: An Inventory of His Collection at the Harry Ransom Center Descriptive Summary Creator: Gassner, John, 1903-1967 Title: John Gassner Papers Dates: 1894-1983 (bulk 1950-1967), undated Extent: 151 document boxes, 3 oversize boxes (65.51 linear feet), 22 galley folders (gf), 2 oversize folders (osf) Abstract: The papers of the Hungarian-born American theatre historian, critic, educator, and anthologist John Gassner contain manuscripts for numerous works, extensive correspondence, career and personal papers, research materials, and works by others, forming a notable record of Gassner’s contributions to theatre history. Call Number: Manuscript Collection MS-54109 Language: Chiefly English, with materials also in Dutch, French, German, Greek, Hebrew, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, and Turkish Access: Open for research Administrative Information Acquisition: Purchases and gifts, 1965-1986 (R2803, R3806, R6629, G436, G1774, G2780) Processed by: Joan Sibley and Amanda Reyes, 2017 Note: The Ransom Center gratefully acknowledges the assistance of the Gladys Krieble Delmas Foundation, which provided funds to support the processing and cataloging of this collection. Repository: The University of Texas at Austin, Harry Ransom Center Gassner, John, 1903-1967 Manuscript Collection MS-54109 Biographical Sketch John Gassner was a noted theatre critic, writer, and editor, a respected anthologist, and an esteemed professor of drama. He was born Jeno Waldhorn Gassner on January 30, 1903, in Máramarossziget, Hungary, and his family emigrated to the United States in 1911. He showed an early interest in theatre, appearing in a school production of Shakespeare’s The Tempest in 1915. Gassner attended Dewitt Clinton High School in New York City and was a supporter of socialism during this era. -

Reading the Theatrical Nebentext in Ben Jonson's Workes As
From directions to descriptions: Reading the theatrical Nebentext in Ben Jonson’s Workes as an authorial outlet David J. Amelang Freie Universität Berlin, Germany ABSTRACT This article explores how certain dramatists in early modern England and in Spain, specifically Ben Jonson and Miguel de Cervantes (with much more emphasis on the former), pursued authority over texts by claiming as their own a new realm which had not been available—or, more accurately, as prominently available—to playwrights before: the stage directions in printed plays. The way both these playwrights and/or their publishers dealt with the transcription of stage directions provides perhaps the clearest example of a theatrical convention translated into the realm of readership. KEYWORDS: William Shakespeare; Ben Jonson; Lope de Vega; Miguel de Cervantes; stage directions. De indicaciones a descripciones: la De indicações a descrições: ler o Neben- lectura del Nebentext teatral en las text teatral em Workes de Ben Jonson Workes de Ben Jonson como expresión como expressão autoral* autorial RESUMEN: Este artículo analiza cómo RESUMO: Este artigo explora de que ciertos dramaturgos en las Inglaterra y forma certos dramaturgos em Inglaterra España del Renacimiento, especialmente e na Espanha do Renascimento, especi- Ben Jonson (y en menor medida tam- ficamente Ben Jonson e Miguel de Cer- bién Miguel de Cervantes), buscaron vantes (com maior ênfase no primeiro), establecer su posición autorial sobre sus procuraram estabelecer uma posição textos de una manera no disponible autoral sobre os seus textos ao reclama- hasta ese momento (o al menos no tan rem para si uma área que anteriormente claramente disponible) para escritores não estava disponível—ou, de forma de teatro: en las acotaciones escénicas de mais correta, não tão claramente dispo- las versiones impresas de sus obras. -

Novello’S Dressing Room Had Other Reports About Its Condition
1 HOME CHAT Remembering AUTUMN/FALL 2015 Graham Barry Day remembers Graham Payn on the 10th Anniversary of his death The Coward Family The business and personal friendships that sustained Noël Coward: Graham Payn Cole Lesley Lorn Lorraine Joan Hirst Noël Coward Screenplays A new publication from Barry Day featuring the screenplays of: In Which We Serve Brief Encounter The Astonished Heart Brief Encounter 70th Anniversary Showings Noël Coward On Film At The Regents Street Cinema Noël Coward: An Entertainer Abroad Exhibition at The Cadbury Research Library at Birmingham University 2 Remembering Graham Memories of Graham Payn by Barry Day Do you believe in happen-stance? course, “London Pride” coming over walk back in at any moment, even I never did. But my thirty-some year the radio into your living room. though he’d left us a decade earlier involvement with all things Coward at this point. It was fascinating but has made me wonder. I don’t know what sort of house depressing at the same time. I expected but certainly not the Ironically, it started in Jamaica. I’d unpretentious little semi-bungalow We were shown round by Miguel, the been visiting the Kingston office of at the end of what passed for a road servant who had been with him when the advertising agency I worked for leading up to the top of a mountain. he died. And then it became even and my wife and I decided to stay over But the view over the Spanish Main more depressing when Miguel made for a couple of days at a hotel on the was something else. -

Dr. Strangelove's America
Dr. Strangelove’s America Literature and the Visual Arts in the Atomic Age Lecturer: Priv.-Doz. Dr. Stefan L. Brandt, Guest Professor Room: AR-H 204 Office Hours: Wednesdays 4-6 pm Term: Summer 2011 Course Type: Lecture Series (Vorlesung) Selected Bibliography Non-Fiction A Abrams, Murray H. A Glossary of Literary Terms. Seventh Edition. Fort Worth, Philadelphia, et al: Harcourt Brace College Publ., 1999. Abrams, Nathan, and Julie Hughes, eds. Containing America: Cultural Production and Consumption in the Fifties America. Birmingham, UK: University of Birmingham Press, 2000. Adler, Kathleen, and Marcia Pointon, eds. The Body Imaged. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1993. Alexander, Charles C. Holding the Line: The Eisenhower Era, 1952-1961. Bloomington, Indiana: Indiana Univ. Press, 1975. Allen, Donald M., ed. The New American Poetry, 1945-1960. New York: Grove Press, 1960. ——, and Warren Tallman, eds. Poetics of the New American Poetry. New York: Grove Press, 1973. Allen, Richard. Projecting Illusion: Film Spectatorship and the Impression of Reality. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1997. Allsop, Kenneth. The Angry Decade: A Survey of the Cultural Revolt of the Nineteen-Fifties. [1958]. London: Peter Owen Limited, 1964. Ambrose, Stephen E. Eisenhower: The President. New York: Simon and Schuster, 1984. “Anatomic Bomb: Starlet Linda Christians brings the new atomic age to Hollywood.” Life 3 Sept. 1945: 53. Anderson, Christopher. Hollywood TV: The Studio System in the Fifties. Austin: Univ. of Texas Press, 1994. Anderson, Jack, and Ronald May. McCarthy: the Man, the Senator, the ‘Ism’. Boston: Beacon Press, 1952. Anderson, Lindsay. “The Last Sequence of On the Waterfront.” Sight and Sound Jan.-Mar. -

My Personal Trainer
JANUARy 11 - 17, 2018 VOLUME 8 ISSUE 1 It’s Your Time.... at “My Personal Trainer” This New Year Avoid the Crowded Fitness Rush and Get the Personalized Attention You Need! It’s that time of year again were millions of My Personal Trainer offers a personalized ap- Americans are kick-starting their resolutions off by proach to their clients. Rather than figuring out how joining their local fitness centers or gyms. to do on your own, the certified personal trainers are The industry knows this, and many elevate their there to guide you through each workout. Through membership fees and rates to meet the demand. motivation, accountability, and safety My Personal Once you join after paying the highest cost of the Trainer gets you the results you want in a fraction year you quickly see your not alone. The places are of the time it would take you on your own. The high packed with new faces and new members who have intensity strength training sessions are time efficient, NO idea how to properly workout. If you’re lucky you requiring only two twenty-minute sessions per week might be shown one time on how to use the equip- for excellent results. The best part is the affordability ment which you quickly forget by the next day. for a one-on-one trainer with rates ranging between Even if you remember and have a routine in $79-$159 per month based on level of commitment. mind your often-stuck waiting for the machines to Whether you have a lot of fat to lose or just want become free to use. -

Sherlock Holmes Films
Checklist of Sherlock Holmes (and Holmes related) Films and Television Programs CATEGORY Sherlock Holmes has been a popular character from the earliest days of motion pictures. Writers and producers realized Canonical story (Based on one of the original 56 s that use of a deerstalker and magnifying lens was an easily recognized indication of a detective character. This has led to stories or 4 novels) many presentations of a comedic detective with Sherlockian mannerisms or props. Many writers have also had an Pastiche (Serious storyline but not canonical) p established character in a series use Holmes’s icons (the deerstalker and lens) in order to convey the fact that they are acting like a detective. Derivative (Based on someone from the original d Added since 1-25-2016 tales or a descendant) The listing has been split into subcategories to indicate the various cinema and television presentations of Holmes either Associated (Someone imitating Holmes or a a in straightforward stories or pastiches; as portrayals of someone with Holmes-like characteristics; or as parody or noncanonical character who has Holmes's comedic depictions. Almost all of the animation presentations are parodies or of characters with Holmes-like mannerisms during the episode) mannerisms and so that section has not been split into different subcategories. For further information see "Notes" at the Comedy/parody c end of the list. Not classified - Title Date Country Holmes Watson Production Co. Alternate titles and Notes Source(s) Page Movie Films - Serious Portrayals (Canonical and Pastiches) The Adventures of Sherlock Holmes 1905 * USA Gilbert M. Anderson ? --- The Vitagraph Co. -
Farmers Market Eyes Antioch a Look Inside the New Bay Theatre
Palisadian-Post Serving the Community Since 1928 24 Pages Thursday, November 8, 2018 ◆ Pacific Palisades, California $1.50 Supporting Station 69 Mail Theft Reported in the Palisades By TRILBY BERESFORD low-up phone call, acknowledg- theft-related incident with a car- Reporter ing that many victims of mail rier during her tenure. tampering don’t report incidenc- Aside from this case, numer- ccording to the United es because they “assume nothing ous reports of tampered, lost and States Postal Service Office will happen.” stolen mail in Pacific Palisades Aof the Inspector General, an in- The Post subsequent- have surfaced through commu- dependent agency that investi- ly reached out to Post Master nity discussions on social media. gates cases of fraud, waste and Yvonne Smith, who explained In correspondence with the abuse, “a small number of em- that processing machines occa- Post, one community mem- ployees abuse the public’s trust sionally have issues that result in ber recalled sending checks in by delaying or stealing the mail.” damaged mail. the mail that were properly la- Suspected thievery recent- “Cases of mail theft and beled and addressed, but never ly surfaced in Pacific Palisades fraud are reported to the Postal received on the other end. (So when postal customer Jim Lu- Inspection Service,” she said, far, there is no evidence that the binski received three greeting confirming that this particular checks have been cashed.) cards that were ripped open with incident has been reported. After reporting this incident the money or gift cards removed Smith went on to say that to the post office supervisor, who from each colored envelope. -

Orson Welles' Intermedial Versions of Shakespeare in Theatre, Radio and Film
ORSON WELLES’ INTERMEDIAL VERSIONS OF SHAKESPEARE IN THEATRE, RADIO AND FILM by Clara Fernández-Vara B.A. English Studies, Universidad Autónoma de Madrid (Spain), 2000 Thesis Supervisor: Peter S. Donaldson Submitted to the Department of Comparative Media Studies in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Science in Comparative Media Studies at the Massachusetts Institute of Technology, September 2004. © 2004 Clara Fernández-Vara. All rights reserved The author thereby grants to MIT permission to reproduce and to distribute publicly paper and electronic copies of this thesis document in whole or in part. 2 3 INDEX ABSTRACT .......................................................................................................................... 5 INTRODUCTION ................................................................................................................ 9 PARADOXES AND AMBIGUITIES IN ORSON WELLES’ OEUVRE ............................................ 17 ORSON WELLES AS AUTEUR ............................................................................................... 23 THESIS STRUCTURE............................................................................................................ 31 CHAPTER 1: 1937-1939: THE FEDERAL THEATRE PROJECT AND FAUSTUS; THE MERCURY THEATRE AND JULIUS CAESAR .................................................. 36 THE FABRICATION OF A THEATRE STAR ............................................................................ 36 THE FEDERAL THEATRE PROJECT: THE -

January 16Th, 2010 Fred Bomar Collection Lot Description Price 9000
January 16th, 2010 Fred Bomar Collection Lot Description Price (lot of 90+) San Francisco 49ers slabbed sports cards, includes some with autographs, players include Steve Young, Joe Montana, Patrick Willis, Kevan Barlow, Terrell Owens, Frank Gore, Jerry Rice, cards include rookie 9000 cards, slabbed fabric patches, etc., note: worth inspection $ 400 (lot of 200+) American football slabbed sports cards, includes some with autographs and cards not graded, players include Antonio Freeman, Curtis Enis, Natrone Means, Doug Feute, Doug Staley, Neil Smith, Skip Hicks, Drew Bledsoe, Deion Sanders, Mark Brunell, Troy Aikman, cards include rookie cards, etc., note: worth 9001 inspection $ 225 (lot of 300+) American football slabbed sports cards, includes some with autographs and cards not graded, players include Eric Dickerson, Joey Porter, Barry Sanders, Maurice Clarett, Doug Flutie, Randall Cunningham, 9002 Matt Cassell, Matt Ryan, cards include rookie cards, etc., note: worth inspection $ 425 (lot of 25) Oakland Raiders football slabbed sports cards, includes some with autographs and cards not graded, players include Johnnie Lee Higgins, Gene Upshaw, Jamarcus Russell, Nnamdi Asomugha, Tim Brown, 9003 cards include rookie cards, etc., note: worth inspection $ 75 (lot of 50+) Basketball slabbed sports cards, includes some with autographs and cards not graded, players 9004 include Dennis Johnson, Joe Smith, Don MacLean, Bernard King, Clyde Drexler, etc., note: worth inspection $ 150 (lot of 30+) Baseball slabbed sports cards, the majority are the -
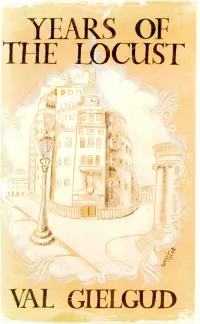
Year That the Locust
YEARS OF THE LOCUST VAL GIELGUD Most peoplehave aninsatiable curiosity asto how various sorts ofwheelsgoround. Alarge number of Mr. Giclgud's locust - eatenyears have been spentat Savoy Hill and Broadcasting House, and people who are interested in how broadcasting works should be able to satisfy a good deal of their curiosity from these pages. But Mr. Gielgud isnot only B.H.C. Director of Drama, he has been an actor, a writer, a traveller, and a devotee of Siamese cats.I le has written onall these subjects, but he has also devoted not the least importantchapters ofhisauto- biography to considered statements on the contemporary theatre, the cinema and television.The style of thesechapters may be con- tentious,but they represent the pointof viewofanindividual whose position is, to some extent, unique inthe world of modern entertainment. 9'6Net. E FAMILY gor pr.; airni BENJAMIN TERRY:---- SARAH BALLARD ACTOR 50NOP AN INNKEEPER ACTRESS AT POPtTSpA %URN NA* .4CHss.0111em MARION TERRY FRED TERRY-zJULLA NEILSON ACTRESS (0.1930) ACTOR (0363-i913) ACTRESS FLORENCE TERRY WILLIAM MORRI ACTRESS (0.1816) SOUL TOR (04934) THYILIS NEILSON-TERRY= CECIL KING ACTRESS ALTO R DENNIS NEILSON TERRY MARY GLYNXE ACTOR01934 ACTRESS HAZEL TERRY ACTRESS JOHN GIELGUI) ELEANOR GIELGLLD ACTOR 0%. 9,4) EOS IF SS WOMAN (8.1907) IT'S IN TE Glisr..ANTHONY GIELGUD JOHN GIELGilD A ssass. /83/ (8 /791) LITHUANIAN FAMILY Founded /56/ POLISH CAVALRY (Come to Enyland /837) KATE TERRY-z -ARTHUR LEWIS ACTRESS (Died 1924.) (Pied 19011 1.G.F.WATTS. R.A. ADAM GIELGLED SCULPTOR - PAINTER0817-1904) DAME WAR OFFICE WRITER FOR PALL MALL GAZETTE 2.CHARLES KELLYELLEN TERRY ACTOR (0.1885) ACTRESS 3.3AMES CAREW (1848 - 1928) ACTOR MABEL TERRY Capt. -
Who Is the Centre of the Movie Universe? Using Python and Networkx to Analyse the Social Network of Movie Stars
Who is the Centre of the Movie Universe? Using Python and NetworkX to Analyse the Social Network of Movie Stars Rhyd Lewis School of Mathematics, Cardiff University, Cardiff, Wales. [email protected], http://www.rhydlewis.eu February 27, 2020 Abstract This paper provides the technical details of an article originally published in The Conversation in February 2020 [11]. The purpose is to use centrality measures to analyse the social network of movie stars and thereby identify the most “important” actors in the movie business. The analysis is presented in a step-by-step, tutorial- like fashion and makes use of the Python programming language together with the NetworkX library. It reveals that the most central actors in the network are those with lengthy acting careers, such as Christopher Lee, Nassar, Sukumari, Michael Caine, Om Puri, Jackie Chan, and Robert De Niro. We also present similar results for the movie releases of each decade. These indicate that the most central actors since the turn of the millennium include people like Angelina Jolie, Brahmanandam, Samuel L. Jackson, Nassar, and Ben Kingsley. 1 Introduction Social network analysis is a branch of data science that allows the investigation of social structures using networks and graph theory. It can help to reveal patterns in voting preferences, aid the understanding of how ideas spread, and even help to model the spread of diseases [7, 12, 14]. A social network is made up of a set of nodes (usually people) that have links, or edges between them that describe their relationships. In this article we analyse the social network formed by movie actors.