68Db7887caa1daebbded4b0227
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Mcguire Center for Lepidoptera and Biodiversity
Supplemental Information All specimens used within this study are housed in: the McGuire Center for Lepidoptera and Biodiversity (MGCL) at the Florida Museum of Natural History, Gainesville, USA (FLMNH); the University of Maryland, College Park, USA (UMD); the Muséum national d’Histoire naturelle in Paris, France (MNHN); and the Australian National Insect Collection in Canberra, Australia (ANIC). Methods DNA extraction protocol of dried museum specimens (detailed instructions) Prior to tissue sampling, dried (pinned or papered) specimens were assigned MGCL barcodes, photographed, and their labels digitized. Abdomens were then removed using sterile forceps, cleaned with 100% ethanol between each sample, and the remaining specimens were returned to their respective trays within the MGCL collections. Abdomens were placed in 1.5 mL microcentrifuge tubes with the apex of the abdomen in the conical end of the tube. For larger abdomens, 5 mL microcentrifuge tubes or larger were utilized. A solution of proteinase K (Qiagen Cat #19133) and genomic lysis buffer (OmniPrep Genomic DNA Extraction Kit) in a 1:50 ratio was added to each abdomen containing tube, sufficient to cover the abdomen (typically either 300 µL or 500 µL) - similar to the concept used in Hundsdoerfer & Kitching (1). Ratios of 1:10 and 1:25 were utilized for low quality or rare specimens. Low quality specimens were defined as having little visible tissue inside of the abdomen, mold/fungi growth, or smell of bacterial decay. Samples were incubated overnight (12-18 hours) in a dry air oven at 56°C. Importantly, we also adjusted the ratio depending on the tissue type, i.e., increasing the ratio for particularly large or egg-containing abdomens. -

Phylogenomics Reveals Major Diversification Rate Shifts in The
bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/517995; this version posted January 11, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC 4.0 International license. 1 Phylogenomics reveals major diversification rate shifts in the evolution of silk moths and 2 relatives 3 4 Hamilton CA1,2*, St Laurent RA1, Dexter, K1, Kitching IJ3, Breinholt JW1,4, Zwick A5, Timmermans 5 MJTN6, Barber JR7, Kawahara AY1* 6 7 Institutional Affiliations: 8 1Florida Museum of Natural History, University of Florida, Gainesville, FL 32611 USA 9 2Department of Entomology, Plant Pathology, & Nematology, University of Idaho, Moscow, ID 10 83844 USA 11 3Department of Life Sciences, Natural History Museum, Cromwell Road, London SW7 5BD, UK 12 4RAPiD Genomics, 747 SW 2nd Avenue #314, Gainesville, FL 32601. USA 13 5Australian National Insect Collection, CSIRO, Clunies Ross St, Acton, ACT 2601, Canberra, 14 Australia 15 6Department of Natural Sciences, Middlesex University, The Burroughs, London NW4 4BT, UK 16 7Department of Biological Sciences, Boise State University, Boise, ID 83725, USA 17 *Correspondence: [email protected] (CAH) or [email protected] (AYK) 18 19 20 Abstract 21 The silkmoths and their relatives (Bombycoidea) are an ecologically and taxonomically 22 diverse superfamily that includes some of the most charismatic species of all the Lepidoptera. 23 Despite displaying some of the most spectacular forms and ecological traits among insects, 24 relatively little attention has been given to understanding their evolution and the drivers of 25 their diversity. -
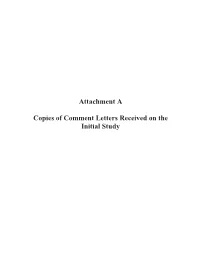
Attachment a Copies of Comment Letters Received on the Initial Study
Attachment A Copies of Comment Letters Received on the Initial Study From: Michael McWalters <[email protected]> Sent: Sunday, September 25, 2016 12:08 PM To: Berry, Whitney Subject: Alviso Top Golf Part 2 Hello Whitney, Are you the correct person to write my concerns to? Here is a list of my concerns. I live in the manufactured home park (labeled 2) for sound and noise. I’ve read many things regarding Top Golf, all of them have complaints of NOISE. Top Golf in Alexandria, SLC, Kansas City and Roseville have huge complaints regarding noise. The one is Austin sells $525,000 a month in alcohol. That is a ton of money, which this site has a new land owner and most likely will close as the new land owner wants to redevelop the land. Alexandria will most likely close and be moved as the noise is a concern to many and the land owner will not renew the lease with top golf. How will Top Golf and the City of San Jose make sure that I’m not going waking up by a live band or loud music at 11pm? Since Mayor Sam Liccardo sits on the VTA board I would expect that only 200 parking spaces should be available and EVERYONE ELSE CAN TAKE THE VTA AND BUS to attend Top Golf. That’s what your department is striving for. I am opposed to 1400 parking places, its obnoxious. Take the bus or light rail. Planning rams this car issue in apartments and now it’s time to move it to big business. -

Measuring Orthoptera Diversity
Jean Carlos Santos Geraldo Wilson Fernandes Editors Measuring Arthropod Biodiversity A Handbook of Sampling Methods Jean Carlos Santos • Geraldo Wilson Fernandes Editors Measuring Arthropod Biodiversity A Handbook of Sampling Methods Editors Jean Carlos Santos Geraldo Wilson Fernandes Department of Ecology Department of Genetics, Ecology Universidade Federal de Sergipe and Evolution São Cristóvão, Sergipe, Brazil Instituto de Ciências Biológicas Universidade Federal de Minas Gerais Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil ISBN 978-3-030-53225-3 ISBN 978-3-030-53226-0 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-030-53226-0 © Springer Nature Switzerland AG 2021 This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. The use of general descriptive names, registered names, trademarks, service marks, etc. in this publication does not imply, even in the absence of a specific statement, that such names are exempt from the relevant protective laws and regulations and therefore free for general use. The publisher, the authors, and the editors are safe to assume that the advice and information in this book are believed to be true and accurate at the date of publication. Neither the publisher nor the authors or the editors give a warranty, expressed or implied, with respect to the material contained herein or for any errors or omissions that may have been made. -

Insects As Indicators of Environmental Changing and Pollution: a Review of Appropriate Species and Their Monitoring
HOLOS Environment, v.10 n.2, 2010 - P. 250 ISSN:1519-8634 (ON-LINE) INSECTS AS INDICATORS OF ENVIRONMENTAL CHANGING AND POLLUTION: A REVIEW OF APPROPRIATE SPECIES AND THEIR MONITORING OS INSETOS INDICADORES DE ALTERAÇÃO E POLUIÇÃO AMBIENTAL: UMA REVISÃO DAS ESPÉCIES ADEQUADAS E DO SEU MONITORAMENTO José Renato Mauricio da Rocha1, Josimar Ribeiro Almeida2, Gustavo Aveiro Lins3, Alberto Durval4 1Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT. Rua. Bento Alexandre dos Santos, 717 Centro. CEP 78.280-000, Mirassol D'Oeste, MT 2UFRJ/Escola Politécnica/Cidade Universitária/bloco D/sala 204/Rio de Janeiro, RJ 3CEDERJ, SEE/RJ, CEDAE. Rua Farias Brito 50/104 - CEP 20540320, Rio de Janeiro, RJ 4Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT - Rua 213, Quadra 49, n. 13 setor 2 Bairro Tijucal, CEP 78.088-18,5 Cuiabá, MT. ABSTRACT Responses of some species to disturbances can be used as a parameter of analysis about levels of change in the environmental services. These species can be used as environmental bioindicators. Class Insecta has many appropriate species. This paper aims an analysis of bioindicator species of the impact caused by intensive agriculture, deforestation, reforestation and pollution of aquatic and terrestrial environments. Keywords: Bioindicators. Insecta. Environmental polution. Monitoring. RESUMO A resposta de algumas espécies animais e vegetais às perturbações pode ser utilizada como parâmetro de análise quanto aos níveis de alteração do funcionamento dos serviços ambientais, e por isso são consideradas bioindicadoras das alterações ambientais. No entanto, algumas espécies respondem mais fidedignamente do que outras a estas alterações. A classe Insecta possui muitos representantes adequados para este tipo de análise. -

Center for Pollinator Research
2nd International Conference on Pollinator Biology, Health and Policy August 14 - 17 2013 Pennsylvania State University Center for Pollinator Research August 14-17, 2013 | Nittany Lion Inn, University Park, Pa. 1 The conference organizers would like to thank Harland M. Patch for the graphics used on the front cover of the program booklet and the conference bags. CONTENTS 5 SCHEDULE 13 WEDNESDAY SPEAKERS 19 THURSDAY SPEAKERS 39 FRIDAY SPEAKERS 61 SATURDAY SPEAKERS 79 POSTERS 170 NOTES WEDNESDAY 2:00 PM Registration check-in begins (outside Boardroom, lower level of Nittany Lion Inn) 4:30 PM Welcome Reception (Boardroom) Keynote Session (Ballroom, main floor of NLI, open to the public) 6:00 PM Introduction Christina Grozinger, Penn State University 6:15 PM Understanding the impact of sublethal exposure to pesticides on bee colony health David Goulson, University of Stirling 7:00 PM Endocrine disruption of the social brain Heather Patisaul, North Carolina State University August 14-17, 2013 | Nittany Lion Inn, University Park, Pa. 5 THURSDAY 7:00 AM Registration check in Poster set up begins 7:30 PM Continental Breakfast (outside Ballroom) Morning Session: Behavioral Ecology Session Organizers: Christina Grozinger, Theresa Pitts-Singer (Ballroom) 8:45 AM The role of uncertainty in foraging by pollinators Dan Papaj, University of Arizona 9:20 AM Fragments, fragrance and fitness: translating pollinator sensory biology into gene flow Rob Raguso, Cornell University 9:40 AM Individual bumble bees are locavores in a Rocky Mountain meadow Jane Ogilvie, -

BETHANY BEACH FIREFLY (Photuris Bethaniensis) UNDER the ENDANGERED SPECIES ACT and to CONCURRENTLY DESIGNATE CRITICAL HABITAT
BEFORE THE SECRETARY OF THE INTERIOR PETITION FOR EMERGENCY LISTING OF THE BETHANY BEACH FIREFLY (Photuris bethaniensis) UNDER THE ENDANGERED SPECIES ACT AND TO CONCURRENTLY DESIGNATE CRITICAL HABITAT Photo by: Christopher M. Heckscher, Delaware State University NOTICE OF PETITION David Bernhardt, Secretary U.S. Department of the Interior 1849 C Street NW Washington, D.C. 20240 [email protected] Jim Kurth, Acting Director U.S. Fish and Wildlife Service 1849 C Street NW Washington, D.C. 20240 [email protected] Gary Frazer, Assistant Director U.S. Fish and Wildlife Service 1840 C Street NW Washington, D.C. 20240 [email protected] Wendi Weber, Director Region 5 U.S. Fish and Wildlife Service 300 Westgate Center Drive Hadley, MA 01035-9589 [email protected] Pursuant to Section 4(b) of the Endangered Species Act (“ESA”), 16 U.S.C. § 1533(b); Section 553(e) of the Administrative Procedure Act, 5 U.S.C. § 553(e); and 50 C.F.R. § 424.14(a), the Center for Biological Diversity and the Xerces Society for Invertebrate Conservation hereby petition the Secretary of the Interior, through the United States Fish and Wildlife Service (“FWS,” “Service”), to protect the Bethany Beach firefly (Photuris bethaniensis) on an emergency basis under the ESA. Petitioners believe that emergency listing is warranted, but should FWS fail to provide emergency protections then we urge that the petition still be considered and that a listing proposal be enacted no later than one year from the date of the petition. Based on imminent destruction of a significant portion of its range and degradation in the remaining portion, the Bethany Beach firefly is at immediate risk of extinction. -

Phylogenomics Reveals Major Diversification Rate Shifts in The
bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/517995; this version posted January 11, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC 4.0 International license. 1 Phylogenomics reveals major diversification rate shifts in the evolution of silk moths and 2 relatives 3 4 Hamilton CA1,2*, St Laurent RA1, Dexter, K1, Kitching IJ3, Breinholt JW1,4, Zwick A5, Timmermans 5 MJTN6, Barber JR7, Kawahara AY1* 6 7 Institutional Affiliations: 8 1Florida Museum of Natural History, University of Florida, Gainesville, FL 32611 USA 9 2Department of Entomology, Plant Pathology, & Nematology, University of Idaho, Moscow, ID 10 83844 USA 11 3Department of Life Sciences, Natural History Museum, Cromwell Road, London SW7 5BD, UK 12 4RAPiD Genomics, 747 SW 2nd Avenue #314, Gainesville, FL 32601. USA 13 5Australian National Insect Collection, CSIRO, Clunies Ross St, Acton, ACT 2601, Canberra, 14 Australia 15 6Department of Natural Sciences, Middlesex University, The Burroughs, London NW4 4BT, UK 16 7Department of Biological Sciences, Boise State University, Boise, ID 83725, USA 17 *Correspondence: [email protected] (CAH) or [email protected] (AYK) 18 19 20 Abstract 21 The silkmoths and their relatives (Bombycoidea) are an ecologically and taxonomically 22 diverse superfamily that includes some of the most charismatic species of all the Lepidoptera. 23 Despite displaying some of the most spectacular forms and ecological traits among insects, 24 relatively little attention has been given to understanding their evolution and the drivers of 25 their diversity. -
Environmental Determinants Affecting the Occurrence of Defoliator Caterpillars on Eucalyptus (Myrtaceae) Plantations in the Brazilian Amazonian Region
Environmental determinants affecting the occurrence of defoliator caterpillars on Eucalyptus (Myrtaceae) plantations in the Brazilian Amazonian region José C. Zanuncio1, Adalton P. Cruz1, Francisco S. Ramalho2, José E. Serrão3, Carlos F. Wilcken4, Wiane M. Silva5, Valdeir C. Santos Júnior1, and Pedro J. Ferreira-Filho6,* Abstract Lepidoptera defoliators can be very damaging to eucalyptus plantations in Brazil. The objective of this study was to evaluate how plant age, the number of rotations, the tree growth rate (m3 of wood per ha per yr), the distance of native vegetation strips from the eucalyptus plantations, and the width of these strips affect the population dynamics of Lepidoptera defoliators in eucalyptus crops. The survey of the lepidopteran species was conducted fortnightly from Sep 1992 to Aug 1994 using light traps in Eucalyptus urophylla S. T. Blake (Myrtaceae) plantations in 4 areas of the Brazilian Amazon region. In total, 1,049, 1,096, 1,020, and 853 Lepidoptera species with 4,413, 3,457, 3,226, and 2,222 individuals and 11, 11, 11, and 10 species of primary pests were recorded. The primary pest species were represented by 272, 772, 963, and 411 individuals, corresponding to 1.1, 1.0, 1.1, and 1.2% of the species and of 6.2, 22.3, 29.8, and 18.5% of the individuals collected in the 4 areas, respectively.Eupseudosoma aberrans Schaus (Arctiidae),Eupseudosoma involuta Sepp (Arctiidae), Nystalea nyseus Cramer (Notodontidae), Oxydia vesulia Cramer (Geometridae), Stenalcidia grosica Schaus (Geometridae), and Thyrinteina arnobia Stoll (Geometridae) were the most abundant and represent 83.2% of primary pests species. -
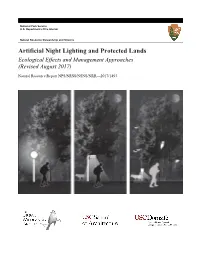
Artificial Night Lighting and Protected Lands Ecological Effects and Management Approaches (Revised August 2017)
National Park Service U.S. Department of the Interior Natural Resource Stewardship and Science Artificial Night Lighting and Protected Lands Ecological Effects and Management Approaches (Revised August 2017) Natural Resource Report NPS/NRSS/NSNS/NRR—2017/1493 ON THE COVER Example of controlling light direction to reduce environmental consequences Illustration by Leigha DelBusso Artificial Night Lighting and Protected Lands Ecological Effects and Management Approaches (Revised August 2017) Natural Resource Report NPS/NRSS/NSNS/NRR—2017/1493 Travis Longcore1,2,3 and Catherine Rich1 with illustrations by Leigha DelBusso2 1 The Urban Wildlands Group P.O. Box 24020 Los Angeles, CA 90024 2 School of Architecture University of Southern California Los Angeles, CA 90089 3 Spatial Sciences Institute Dornsife College of Letters, Arts and Sciences University of Southern California Los Angeles, CA 90089 August 2017 U.S. Department of the Interior National Park Service Natural Resource Stewardship and Science Fort Collins, Colorado The National Park Service, Natural Resource Stewardship and Science office in Fort Collins, Colorado, publishes a range of reports that address natural resource topics. These reports are of interest and applicability to a broad audience in the National Park Service and others in natural resource management, including scientists, conservation and environmental constituencies, and the public. The Natural Resource Report Series is used to disseminate comprehensive information and analysis about natural resources and related topics concerning lands managed by the National Park Service. The series supports the advancement of science, informed decision-making, and the achievement of the National Park Service mission. The series also provides a forum for presenting more lengthy results that may not be accepted by publications with page limitations. -

Hymenoptera) No Morro De Araçoiaba, Floresta Nacional De Ipanema, Iperó, SP
Universidade de São Paulo Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Diversidade de Braconidae (Hymenoptera) no Morro de Araçoiaba, Floresta Nacional de Ipanema, Iperó, SP Raquel Gonçalves Arouca Tese apresentada para obtenção do título de Doutor em Ciências. Área de concentração: Entomologia Piracicaba 2009 Raquel Gonçalves Arouca Bióloga Diversidade de Braconidae (Hymenoptera) no Morro de Araçoiaba, Floresta Nacional de Ipanema, Iperó, SP Orientador: Prof. Dr. EVÔNEO BERTI FILHO Tese apresentada para obtenção do título de Doutor em Ciências. Área de concentração: Entomologia Piracicaba 2009 Dados Internacionais de Catalogação na Publicação DIVISÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO - ESALQ/USP Arouca, Raquel Gonçalves Diversidade de Braconidae (Hymenoptera) no Morro de Araçoiaba, Floresta Nacional de Ipanema, Iperó, SP / Raquel Gonçalves Arouca. - - Piracicaba, 2009. 104 p. : il. Tese (Doutorado) - - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 2009. Bibliografia. 1. Biodiversidade 2. Braconidae 3. Florestas nacionais 4. Insetos parasitóides 5. Mata Atlântica I. Título CDD 595.798 A771d “Permitida a cópia total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte – O autor” 3 Esta tese não é só minha. Ela é fruto da confiança do Prof. Evôneo, total apoio e auxílio da Profa. Angélica, ajuda incansável (e indispensável!) no campo do técnico Airton, carinho, incentivo, encorajamento e orações dos(as) queridos(as) amigos(as). A eles e elas dedico este trabalho. 4 5 AGRADECIMENTOS À CAPES pelo suporte financeiro. Ao Prof. Evôneo Berti Filho por aceitar ser meu orientador no meio do caminho. À Profa. Angélica Maria Penteado Martins Dias por aceitar-me “co-orientar” não oficialmente e por me receber de volta tão carinhosamente e por não medir esforços para que o projeto desse certo. -

Night-Lights: Light Pollution Impacts on Fireflies and Arthropod Communities
Night-lights: Light pollution impacts on fireflies and arthropod communities Ariel Lee Firebaugh Atlanta, Georgia Bachelor of Science, Roanoke College, 2008 A Dissertation presented to the Graduate Faculty of the University of Virginia in Candidacy for the Degree of Doctor of Philosophy Department of Environmental Sciences University of Virginia April 2018 Abstract Light pollutionartificial nighttime illuminance from luminaries such as streetlights has dramatically brightened the nighttime landscape (Gaston et al. 2014), envelops an increasingly large portion of the globe, and is continuing to spread (Falchi et al. 2016a, Kyba et al. 2017). Given the biological importance of light as a resource, information source (Gaston et al. 2013), and circadian organizer of activities (Kantermann 2013, Fonken and Nelson 2014), the consequences of light pollution for living organisms are expected to be wide-ranging and complex (Gaston et al. 2014). In this dissertation, I examined light pollution impacts on arthropods, with a particular spotlight on fireflies. Fireflies are interesting model organisms for this work because many firefly species produce bioluminescent flashes that they use to communicate with potential mates during courtship prior to mating. In chapters 1 and 2, I explore light pollution effects on firefly flash courtship behaviors, movement, and local abundances. My results show that light pollution decreased firefly flash conversations and mating, attracted fireflies, and reduced local abundances of one species. Taken together, these findings suggest light pollution may create demographic traps, luring fireflies into places where they may be less likely to mate. In Chapter 3, I investigate whether firefly abundances and species richness are associated light pollution and urban land cover across large areas.