Triagemantifúngicaextratos Ferr
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Arquivo2747 1.Pdf
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DISSERTAÇÃO DE MESTRADO AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES FARMACOLÓGICAS DE Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Lucileide Batista de Oliveira Recife – PE Fevereiro, 2011 LUCILEIDE BATISTA DE OLIVEIRA AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES FARMACOLÓGICAS DE Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Dissertação apresentada ao Programa de Pós- graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Pernambuco, como parte dos requisitos para obtenção do grau de Mestre em Ciências Farmacêuticas. Área de Concentração: Avaliação e Obtenção de Produtos Naturais e Bioativos Orientadora: Profª Dra. Ivone Antônia de Souza Coorientadores: Profº Dr. Haroudo Satiro Xavier Prof° Dr. Edvaldo Rodrigues de Almeida Recife-PE Fevereiro, 2011 Oliveira, Lucileide Batista de Avaliação de atividades farmacológicas de Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. / Lucileide Batista de Oliveira. – Recife: O Autor, 2011. 105 folhas: il., fig. tab. Quadro. Graf.; 30 cm. Orientador: Ivone Antônia de Souza Coorientadores: Haroudo Satiro Xavier e Edvaldo Rodrigues de Almeida Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. CCS. Ciências Farmacêuticas, 2011. Inclui bibliografia e apêndice. 1. Mimosa tenuiflora. 2. Fitoquímica. 3. Toxidade aguda. 4. Sistema nervoso central. I. Souza, Ivone Antônia de. II. Xavier, Haroudo Satiro. III. Almeida, Edvaldo Rodrigues de. IV. Título. UFPE 615.7 CDD (20. Ed.) CCS2011-122 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO -

Kew Science Publications for the Academic Year 2017–18
KEW SCIENCE PUBLICATIONS FOR THE ACADEMIC YEAR 2017–18 FOR THE ACADEMIC Kew Science Publications kew.org For the academic year 2017–18 ¥ Z i 9E ' ' . -,i,c-"'.'f'l] Foreword Kew’s mission is to be a global resource in We present these publications under the four plant and fungal knowledge. Kew currently has key questions set out in Kew’s Science Strategy over 300 scientists undertaking collection- 2015–2020: based research and collaborating with more than 400 organisations in over 100 countries What plants and fungi occur to deliver this mission. The knowledge obtained 1 on Earth and how is this from this research is disseminated in a number diversity distributed? p2 of different ways from annual reports (e.g. stateoftheworldsplants.org) and web-based What drivers and processes portals (e.g. plantsoftheworldonline.org) to 2 underpin global plant and academic papers. fungal diversity? p32 In the academic year 2017-2018, Kew scientists, in collaboration with numerous What plant and fungal diversity is national and international research partners, 3 under threat and what needs to be published 358 papers in international peer conserved to provide resilience reviewed journals and books. Here we bring to global change? p54 together the abstracts of some of these papers. Due to space constraints we have Which plants and fungi contribute to included only those which are led by a Kew 4 important ecosystem services, scientist; a full list of publications, however, can sustainable livelihoods and natural be found at kew.org/publications capital and how do we manage them? p72 * Indicates Kew staff or research associate authors. -

A Comprehensive Review of the Ethnotraditional Uses and Biological and Pharmacological Potential of the Genus Mimosa
International Journal of Molecular Sciences Review A Comprehensive Review of the Ethnotraditional Uses and Biological and Pharmacological Potential of the Genus Mimosa Ismat Majeed 1, Komal Rizwan 2, Ambreen Ashar 1 , Tahir Rasheed 3 , Ryszard Amarowicz 4,* , Humaira Kausar 5, Muhammad Zia-Ul-Haq 6 and Luigi Geo Marceanu 7 1 Department of Chemistry, Government College Women University, Faisalabad 38000, Pakistan; [email protected] (I.M.); [email protected] (A.A.) 2 Department of Chemistry, University of Sahiwal, Sahiwal 57000, Pakistan; [email protected] 3 School of Chemistry and Chemical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China; [email protected] 4 Department of Chemical and Physical Properties of Food, Institute of Animal Reproduction and Food Research, Polish Academy of Sciences, Tuwima Street 10, 10-748 Olsztyn, Poland 5 Department of Chemistry, Lahore College for Women University, Lahore 54000, Pakistan; [email protected] 6 Office of Research, Innovation & Commercialization, Lahore College for Women University, Lahore 54000, Pakistan; [email protected] 7 Faculty of Medicine, Transilvania University of Brasov, 500019 Brasov, Romania; [email protected] * Correspondence: [email protected]; Tel.: +48-89-523-4627 Abstract: The Mimosa genus belongs to the Fabaceae family of legumes and consists of about Citation: Majeed, I.; Rizwan, K.; 400 species distributed all over the world. The growth forms of plants belonging to the Mimosa Ashar, A.; Rasheed, T.; Amarowicz, R.; genus range from herbs to trees. Several species of this genus play important roles in folk medicine. Kausar, H.; Zia-Ul-Haq, M.; In this review, we aimed to present the current knowledge of the ethnogeographical distribution, Marceanu, L.G. -

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Instituto De Biologia
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Instituto de Biologia TIAGO PEREIRA RIBEIRO DA GLORIA COMO A VARIAÇÃO NO NÚMERO CROMOSSÔMICO PODE INDICAR RELAÇÕES EVOLUTIVAS ENTRE A CAATINGA, O CERRADO E A MATA ATLÂNTICA? CAMPINAS 2020 TIAGO PEREIRA RIBEIRO DA GLORIA COMO A VARIAÇÃO NO NÚMERO CROMOSSÔMICO PODE INDICAR RELAÇÕES EVOLUTIVAS ENTRE A CAATINGA, O CERRADO E A MATA ATLÂNTICA? Dissertação apresentada ao Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas como parte dos requisitos exigidos para a obtenção do título de Mestre em Biologia Vegetal. Orientador: Prof. Dr. Fernando Roberto Martins ESTE ARQUIVO DIGITAL CORRESPONDE À VERSÃO FINAL DA DISSERTAÇÃO/TESE DEFENDIDA PELO ALUNO TIAGO PEREIRA RIBEIRO DA GLORIA E ORIENTADA PELO PROF. DR. FERNANDO ROBERTO MARTINS. CAMPINAS 2020 Ficha catalográfica Universidade Estadual de Campinas Biblioteca do Instituto de Biologia Mara Janaina de Oliveira - CRB 8/6972 Gloria, Tiago Pereira Ribeiro da, 1988- G514c GloComo a variação no número cromossômico pode indicar relações evolutivas entre a Caatinga, o Cerrado e a Mata Atlântica? / Tiago Pereira Ribeiro da Gloria. – Campinas, SP : [s.n.], 2020. GloOrientador: Fernando Roberto Martins. GloDissertação (mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Biologia. Glo1. Evolução. 2. Florestas secas. 3. Florestas tropicais. 4. Poliploide. 5. Ploidia. I. Martins, Fernando Roberto, 1949-. II. Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Biologia. III. Título. Informações para Biblioteca Digital Título em outro idioma: How can chromosome number -

SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA EM Mimosa Ophthalmocentra MART. EX BENTH Amaury Soares De Brito , Monalisa Alves Diniz Da Silva Camarg
SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA EM Mimosa ophthalmocentra MART. EX BENTH Amaury Soares de Brito 1, Monalisa Alves Diniz da Silva Camargo Pinto 2 Ariana Veras de Araújo 1, Valdeany Núbia de Souza 1, 1. Mestrandos do Curso de Pós-Graduação em Produção Vegetal da Universidade Federal Rural de Pernambuco/Unidade Acadêmica de Serra Talhada ([email protected]). 2. Professora Doutora Adjunta da Universidade Federal Rural de Pernambuco/ Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Universidade Federal Rural de Pernambuco/Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UFRPE/UAST), Caixa. Postal 063, CEP 56900-000, Serra Talhada, PE, Brasil. Recebido em: 12/04/2014 – Aprovado em: 27/05/2014 – Publicado em: 01/07/2014 RESUMO A Mimosa ophthalmocentra conhecida como jurema de imbira é uma planta comum na Caatinga, encontrada frequentemente em muitos ambientes, contudo pouco estudada. Objetivou-se verificar se suas sementes apresentam dormência e determinar um método simples e eficiente para acelerar e uniformizar a emergência de plântulas de jurema de imbira. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado com seis tratamentos e quatro repetições de 25 sementes. Após beneficiadas, as sementes foram submetidas aos seguintes tratamentos: Testemunha; Imersão em água temperatura ambiente por 12 horas; Imersão em água sanitária (comercial) por 6 horas; Imersão em H 2SO 4 por 5 e 10 minutos; imersão em soda cáustica 20% por 10 minutos. Foram avaliadas a porcentagem de emergência, índice de velocidade de emergência, tempo médio de emergência e massa seca de plântulas. As sementes de Mimosa ophthalmocentra apresentaram dormência tegumentar e o método de superação mais eficiente foi a imersão em ácido sulfúrico por 5 e 10 minutos. -

Anatomical Characterization and Technological Properties Of
www.nature.com/scientificreports OPEN Anatomical characterization and technological properties of Pterogyne nitens wood, a very interesting species of the Brazilian Caatinga biome Allana Katiussya Silva Pereira 1*, Dalton Longue Júnior 1, Ana Márcia Macedo Ladeira Carvalho 2 & Caio da Silva Mafra Neto 1 Pterogyne nitens is commonly known in northeastern Brazil as a lesser-known fast-growing species in the Caatinga biome, which is a difcult place for tree development due to the low natural fertility soils and low availability of water. Due to the importance of expanding information about the anatomical wood properties of Caatinga native species, the aim of this work was to characterize the anatomical elements, to macroscopically describe the wood and make inferences about its possible end-uses. Maceration was performed which enabled measuring fber dimensions, pore frequency and the following technological indexes: cell wall fraction, slenderness ratio, Runkel index and fexibility coefcient. Histological sections enabled describing the arrangements of the cellular elements in diferent observation sections and to determine the pore diameter. P. nitens wood has anatomical arrangements characterized by confuent axial parenchyma, being difuse-porous with the presence of tylosis and heterogeneous/stratifed rays (biseriate). The fbers were classifed as very short (length 0.81 mm), not fexible and Runkel index 0.82. The pores were few in number with a frequency of 32.9 pores/mm2, distributed in a difuse format and many were obstructed by tylosis. Based on the anatomical results and considering other technological studies, P. nitens wood is most suitable for charcoal production. Te Caatinga, the only exclusively Brazilian biome, is characterized as a developing region, as the population sufers from the social efects of having a low Human Development Index (HDI), and therefore the people are ofen searching the forests for means of subsistence. -

Anatomia Da Madeira De Mimosa Catharinensis Burkart (Leguminosae – Mimosoideae)
Biotemas, 31 (1): 11-19, março de 2018 http://dx.doi.org/10.5007/2175-7925.2018v31n1p1111 ISSNe 2175-7925 Anatomia da madeira de Mimosa catharinensis Burkart (Leguminosae – Mimosoideae) João de Deus Medeiros 1* Márcia Rosana Stefani 2 1 Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Botânica Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Trindade CEP 88040-960, Florianópolis – SC, Brasil 2 Grupo Pau-Campeche, Florianópolis – SC, Brasil * Autor para correspondência [email protected] Submetido em 20/04/2017 Aceito para publicação em 09/01/2018 Resumo Mimosa catharinensis Burkart é um arbusto lianescente, ocorrendo apenas em duas áreas restritas de restinga no leste de Santa Catarina, Brasil. O presente trabalho apresenta a primeira descrição detalhada da anatomia da madeira de M. catharinensis, baseada em dados quantitativos. A descrição é ilustrada com fotomicrografias tomadas nos três planos anatômicos. Raios muito finos, parênquima paratraqueal, fibras libriformes não septadas, dimorfismo de vasos e poros tendendo a um arranjo diagonal foram encontrados. A estrutura anatômica da madeira é comparada com referências da literatura sobre a família Leguminosae e do gênero Mimosa, considerando seus aspectos filogenéticos, taxonômicos e ecológicos. Palavras-chave: Endemismo; Mata Atlântica; Restinga Abstract Wood anatomy of Mimosa catharinensis Burkart (Leguminosae – Mimosoideae). Mimosa catharinensis Burkart is a schrubby liana, which occurs in only two restricted areas of coastal restinga in eastern Santa Catarina State, Brazil. The present work shows the first accurate description of the wood anatomy of M. catharinensis, based on quantitative features. The description is illustrated with photomicrographs taken in the three principal anatomical sections. Very fine rays, paratracheal parenchyma, libriform non-septated fibers, vessel dimorphism and pores tending toward a diagonal pattern were found. -

Anatomia Ecológica E Potencial Econômico Da
MARCELO DOS SANTOS SILVA ANATOMIA ECOLÓGICA E POTENCIAL ECONÔMICO DA MADEIRA DE ESPÉCIES NATIVAS DA MATA ATLÂNTICA, SERRA DA JIBOIA, BAHIA, BRASIL FEIRA DE SANTANA 2013 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BOTÂNICA ANATOMIA ECOLÓGICA E POTENCIAL ECONÔMICO DA MADEIRA DE ESPÉCIES NATIVAS DA MATA ATLÂNTICA, SERRA DA JIBOIA, BAHIA, BRASIL MARCELO DOS SANTOS SILVA Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Botânica da Universidade Estadual de Feira de Santana, como parte dos requisitos necessários para obtenção do título de Mestre em Botânica. ORIENTADOR: PROF. DR. FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DOS SANTOS (UEFS) CO-ORIENTADOR: PROF. DR. LAZARO BENEDITO DA SILVA (UFBA) FEIRA DE SANTANA – 2013 Ficha Catalográfica – Biblioteca Central Julieta Carteado - UEFS Silva, Marcelo dos Santos S581a Anatomia ecológica e potencial econômico da madeira de espécies nativas da Mata Atlântica, Serra da Jiboia, Bahia, Brasil / Marcelo dos Santos Silva. - Feira de Santana, 2013. 167 f. : il. Orientador: Francisco de Assis Ribeiro dos Santos Co-orientador: Lazaro Benedito da Silva Dissertação (Mestrado em Botânica) – Universidade Estadual de Feira de Santana, Departamento de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Botânica, 2013. 1. Anatomia funcional. 2. Tendências ecológicas. 3. Floresta tropical. 4. Madeira - Densidade. 5. Madeira - Qualificação econômica. 6. Tecnologia da madeira. I. Santos, Francisco de Assis Ribeiro dos. II. Silva, Lazaro Benedito da. III. Universidade Estadual de Feira de Santana. IV. Departamento de Ciências Biológicas. V. Título. CDU: 582.472 BANCA EXAMINADORA ____________________________________________________ Prof. Dr. Claudio Sergio Lisi - UFS ____________________________________________________ Profa. Dra. Kelly Regina Batista Leite - UFBA ____________________________________________________ Prof. Dr. -

Cattleyadomontepessoafelix Di
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE ETNOBOTÂNICA, FLORÍSTICA E CITOGENÉTICA NA SERRA DO JATOBÁ, NO CARIRI DA PARAÍBA, NORDESTE DO BRASIL Cattleya do Monte Pessoa Felix João Pessoa, PB 2019 CATTLEYA DO MONTE PESSOA FELIX ETNOBOTÂNICA, FLORÍSTICA, E CITOGENÉTICA NA SERRA DO JATOBÁ, NO CARIRI DA PARAÍBA, NORDESTE DO BRASIL Dissertação apresentada ao programa de pós- Graduação em Meio Ambiente da Universidade Federal da Paraíba, como parte dos requisitos para obtenção do título de mestra em Meio Ambiente. ORIENTADORA: Profa. Dra. Kallyne Machado Bonifácio Co-orientador. Prof. Dr. Reinaldo Farias Paiva de Lucena João Pessoa, PB Fevereiro de 2019 Catalogação na publicação Seção de Catalogação e Classificação F316e Félix, Cattleya do Monte Pessoa. Etnobotânica, Florística e Citogenética na Serra do Jatobá, no Cariri da Paraíba, Nordeste do Brasil / Cattleya do Monte Pessoa Félix. - João Pessoa, 2019. 200 f. Orientação: Kallyne Machado. Coorientação: Reinaldo Lucena. Dissertação (Mestrado) - UFPB/Prodema. 1. Etnobotânica. I. Machado, Kallyne. II. Lucena, Reinaldo. III. Título. UFPB/BC AGRADECIMENTOS A minha orientadora Profa. Dra. Kallyne Machado Bonifácio, por ter aceitado me orientar, pela sua confiança, conhecimentos e profissionalismo demonstrado no decorrer dessa pesquisa; Ao meu co-orientador Prof. Dr. Reinaldo Farias Paiva de Lucena pelos seus conhecimentos, ajuda, disposição, acolhimento e profissionalismo e, especialmente por haver acreditado na minha proposta; Ao Programa de Mestrado de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente por me haver recebido; A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/CAPES, pela concessão bolsa de estudos; A todos que de forma direta ou indiretamente contribuíram para a realização desse trabalho. -
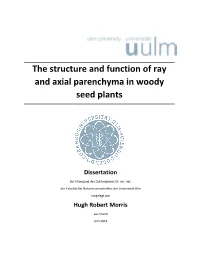
The Structure and Function of Ray and Axial Parenchyma in Woody Seed Plants
The structure and function of ray and axial parenchyma in woody seed plants Dissertation Zur Erlangung des Doktorgrades Dr. rer. nat. der Fakultät für Naturwissenschaften der Universität Ulm vorgelegt von Hugh Robert Morris aus Irland Ulm 2016 The structure and function of ray and axial parenchyma in woody seed plants Dissertation Zur Erlangung des Doktorgrades Dr. rer. nat. der Fakultät für Naturwissenschaften der Universität Ulm vorgelegt von Hugh Robert Morris aus Irland Ulm 2016 Amtierender Dekan: Prof. Dr. Peter Dürre 1. Gutachter: Prof. Dr. Steven Jansen 2. Gutachter: Prof. Dr. Stefan Binder Date of award Dr. rer. nat. (Magna Cum Laude) awarded to Hugh Robert Morris on 20th of July, 2016 Cover picture: A stitched example I made of a transverse section of Fraxinus excelsior stained for starch in Lugol’s solution Table of Contents Part I ..................................................................................................................................................................... 1 General definition and function of parenchyma cells in plants .................................................................... 2 The contents of parenchyma in relation to function .................................................................................... 2 Parenchyma of the secondary xylem: an overview ...................................................................................... 3 Symplastic pathways between the secondary phloem and xylem ............................................................... 4 The longevity -

EMERGENCE and EARLY DEVELOPMENT of SEEDLINGS of Mimosa Ophthalmocentra Mart
759 Original Article EMERGENCE AND EARLY DEVELOPMENT OF SEEDLINGS OF Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.) IRRIGATED WITH BRACKISH WATER EMERGENCIA E DESENVOLVIMENTO INICIAL DE PLÂNTULAS DE JUREMA- IMBIRA, Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth, IRRIGADAS COM ÁGUA SALOBRA Caio César Pereira LEAL 1; Salvador Barros TORRES 2; Narjara Walessa NOGUEIRA 1; Rômulo Magno Oliveira de FREITAS 1; Raul Martins de FARIAS 3 1. Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, RN, Brasil. [email protected]; 2. Professor Colaborador, Doutor, Universidade Federal Rural do Semi-Árido e Pesquisador da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte, Mossoró, RN, Brasil; 3. Engenheiro Agrônomo, Universidade Federal Rural do Semi- Árido, Mossoró, RN, Brasil. ABSTRACT : The species Jurema-imbira (Mimosa ophthalmocentra ) is typical of the Caatinga of Northeast Brazil and has medicinal properties; besides being also used by timber industry. The study aimed at assessing effects of irrigation water salinity on emergence and early development of seedlings of jurema-imbira ( Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.). For this, seeds were manually extracted from the pods of matrix plants and sown under greenhouse conditions in polystyrene trays and irrigated with brackish solutions calibrated to electrical conductivity of 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 and 5.5 dS m -1; and a treatment with tap water with salinity level of 0.5 dS m -1 was used as control. The experiment was conducted in October 2013. Parameters assessed were: seedling emergence, emergence speed, seedling height, root length, stem diameter, dry mass of shoots, dry mass of roots and total dry mass of seedling. -

Wood Anatomy of the Mimosoideae (Leguminosae)
Author – Title 1 Wood Anatomy of the Mimosoideae (Leguminosae) Jennifer A. Evans Peter E. Gasson Gwilym P. Lewis IAWA Journal, Supplement 5 Author – Title 1 Wood Anatomy of the Mimosoideae (Leguminosae) by Jennifer A. Evans, Peter E. Gasson and Gwilym P. Lewis Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey, TW9 3AB, United Kingdom IAWA Journal, Supplement 5 — 2006 Published for the International Association of Wood Anatomists at the Nationaal Herbarium Nederland, The Netherlands ISSN 0928-1541 ISBN 90-71236-63-3 ISBN 978-90-71236-63-3 NUR 941 Jennifer A. Evans, Peter E. Gasson and Gwilym P. Lewis Wood Anatomy of the Mimosoideae (Leguminosae) IAWA Journal, Supplement 5 — 2006 Published for the International Association of Wood Anatomists at the Nationaal Herbarium Nederland P.O. Box 9514 – 2300 RA Leiden – The Netherlands Cover: Inga marginata Willd. (Pennington et al. 12527) Contents page Summary .................................................................................................................. 4 Introduction ............................................................................................................. 5 Materials and Methods .......................................................................................... 7 Observations and Discussion ............................................................................... 8 A general wood anatomical description of the Mimosoideae ........................ 28 Observations and Discussion of Characters: .................................................... 28 Porosity