Historia Da Cultura Amazonense.Indb
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

O Marketing Pessoal Feito Por Integrantes De Bandas De Pagode Em Redes De Relacionamentos1
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação X Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Blumenau – 28 a 30 de maio de 2009 A Malandragem no Orkut: O Marketing Pessoal Feito Por Integrantes de Bandas de Pagode Em Redes De Relacionamentos1 Camila Reck Figueiredo2 Danielle Xavier Miron3 Najara Ferrari Pinheiro4 Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, Santa Maria, RS Centro Universitário Franciscano, UNIFRA, Santa Maria, RS Universidade de Caxias do Sul, UCS, Caxias do Sul, RS. Resumo O presente artigo aborda a relação entre internet e os espaços digitais que surgiram com seu advento: as comunidades virtuais e as redes de relacionamentos. Também constitui este artigo o marketing pessoal em perfis criados na rede de relacionamento Orkut. Para fazer este artigo, foi utilizada pesquisa bibliográfica e configurações empíricas da pesquisa da comunicação, como abordagens de teor cartográfico (mapeamento de elementos existentes na rede) e abordagens de teor textual (análise de palavras, objetos sonoros, imagens e outras linguagens). Este estudo selecionou cinco perfis de integrantes de bandas de pagode de Santa Maria/RS. Como resultado, pode-se perceber que todos os perfils analisados reafirmam a identidade de pagodeiros natos, relacionando esse grupo com mulheres, bebidas e futebol. Palavras-chave Multimídia; Tecnologia; Cultura; Orkut; Marketing Pessoal 1. Internet e Espaços Digitais O século XX ficou marcado como um período de grande evolução cientifica e tecnológica. Essa evolução gerou também mudanças para a vida humana. O desenvolvimento tecnológico, segundo Steffen (2005), se refletiu nas tecnologias de comunicação, com o surgimento e desenvolvimento do rádio, do cinema, da televisão, a popularização dos jornais, das revistas e, no final do século, com o surgimento de uma nova mídia: a Internet. -

Malandragem and Ginga
Malandragem and Ginga: Socio-cultural constraints on the development of expertise and skills in Brazilian football UEHARA, L <http://orcid.org/0000-0002-0410-470X>, BUTTON, C, SAUNDERS, J, ARAÚJO, D, FALCOUS, M and DAVIDS, Keith <http://orcid.org/0000-0003-1398-6123> Available from Sheffield Hallam University Research Archive (SHURA) at: http://shura.shu.ac.uk/27975/ This document is the author deposited version. You are advised to consult the publisher's version if you wish to cite from it. Published version UEHARA, L, BUTTON, C, SAUNDERS, J, ARAÚJO, D, FALCOUS, M and DAVIDS, Keith (2020). Malandragem and Ginga: Socio-cultural constraints on the development of expertise and skills in Brazilian football. International Journal of Sports Science and Coaching. Copyright and re-use policy See http://shura.shu.ac.uk/information.html Sheffield Hallam University Research Archive http://shura.shu.ac.uk 1 Malandragem and Ginga: Socio-cultural-historical constraints on the development of expertise and skills in Brazilian Football Luiz Ueharaa*, Chris Buttona, John Saundersb, Duarte Araújoc, Mark Falcousa, Keith Davidsd aSchool of Physical Education, Sport and Exercise Sciences, University of Otago, NZ bSchool of Exercise Science, Australian Catholic University, Brisbane, AU cCIPER, Faculdade de Motricidade Humana, Universidade de Lisboa, Portugal dSport & Human Performance Research Group, Sheffield Hallam University, UK Reference: Uehara, L., Button, C., Saunders, J., Araújo, D., Falcous, M., & Davids, K. (in press). Malandragem and Ginga: Socio-Cultural Constraints on the Development of Expertise and Skills in Brazilian Football. International Journal of Sport Science and Coaching. Acknowledgement DA was partially funded by the Fundação para a Ciência e Tecnologia, under Grant UIDB/00447/2020 to CIPER–Centro Interdisciplinar para o Estudo da Performance Humana (unit 447). -

Domination and Resistance in Afro-Brazilian Music
Domination and Resistance In Afro-Brazilian Music Honors Thesis—2002-2003 Independent Major Oberlin College written by Paul A. Swanson advisor: Dr. Roderic Knight ii Table of Contents Abstract Introduction 1 Chapter 1 – Cultural Collisions Between the Old and New World 9 Mutual Influences 9 Portuguese Independence, Exploration, and Conquest 11 Portuguese in Brazil 16 Enslavement: Amerindians and Africans 20 Chapter 2 – Domination: The Impact of Enslavement 25 Chapter 3 – The ‘Arts of Resistance’ 30 Chapter 4 – Afro-Brazilian Resistance During Slavery 35 The Trickster: Anansi, Exú, malandro, and malandra 37 African and Afro-Brazilian Religion and Resistance 41 Attacks on Candomblé 43 Candomblé as Resistance 45 Afro-Brazilian Musical Spaces: the Batuque 47 Batuque Under Attack 50 Batuque as a Place of Resistance 53 Samba de Roda 55 Congadas: Reimagining Power Structures 56 Chapter 5 – Black and White in Brazil? 62 Carnival 63 Partner-dances 68 Chapter 6 – 1808-1917: Empire, Abolition and Republic 74 1808-1889: Kings in Brazil 74 1889-1917: A New Republic 76 Birth of the Morros 78 Chapter 7 – Samba 80 Oppression and Resistance of the Early Sambistas 85 Chapter 8 – the Appropriation and Nationalization of Samba 89 Where to find this national identity? 91 Circumventing the Censors 95 Contested Terrain 99 Chapter 9 – Appropriation, Authenticity, and Creativity 101 Bossa Nova: A New Sound (1958-1962) 104 Leftist Nationalism: the Oppression of Authenticity (1960-1968) 107 Coup of 1964 110 Protest Songs 112 Tropicália: the Destruction of Authenticity (1964-1968) 115 Chapter 10 – Transitions: the Birth of Black-Consciousness 126 Black Soul 129 Chapter 11 – Back to Bahia: the Rise of the Blocos Afro 132 Conclusions 140 Map 1: early Portugal 144 Map 2: the Portuguese Seaborne Empire 145 iii Map 3: Brazil 146 Map 4: Portuguese colonies in Africa 147 Appendix A: Song texts 148 Bibliography 155 End Notes 161 iv Abstract Domination and resistance form a dialectic relationship that is essential to understanding Afro-Brazilian music. -

Mestiçagem, Malandragem, E Antropofagia: How Forró Is Emblematic of Brazilian National Identity
Megwen Loveless [email protected] Harvard University www.harvard.edu 2004 ILASSA conference UT – Austin. Mestiçagem, Malandragem, e Antropofagia: How Forró Is Emblematic of Brazilian National Identity A relatively recent cultural phenomenon (dating from the mid-twentieth century), forró music arose in the Brazilian northeast “backlands” and has since developed into a national “treasure” of folkloric “tradition.” This paper – part of a much larger ethnographic project - seeks to situate a particular style of forró music at the epicenter of an “imagined community” which Brazilians look toward as a major source of national identity. In this presentation I will show that mestizagem, malandragem, and antropofagia - three traditions conspicuously present in any scholarly discussion of Brazilian identity – are strikingly present in forró music and performance, making forró emblematic of national identity for a large part of the Brazilian population. Forró, a modern rural music, takes its name from a nineteenth-century dance form called forróbodo. Like other young Brazilian musics, it is constantly evolving, though a “traditional” base line has been conserved by several “roots” bands – it is this “traditional” music, called forró pé-de-serra, that provides the soundtrack to the imagined community1 through which I claim many Brazilians reinforce their national identity. The pé-de-serra style is generally played by three-piece bands including an accordion, a triangle, and a double-headed bass drum called the “zabumba.” (The two more recent – and quite popular - styles which I have not linked to my analysis are more synthesized versions called forró universitário and forró estilizado.) While credit for developing present-day forró goes to Luis Gonzaga, its genealogy traces back many more generations to the zabumba ensemble groups of the northeast, which featured the forementioned bass drum along with several fife and fiddle players. -

Redalyc.YES, WE ALSO CAN! O DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS DE CONSUMO COLABORATIVO NO BRASIL
Revista Base (Administração e Contabilidade) da UNISINOS E-ISSN: 1984-8196 [email protected] Universidade do Vale do Rio dos Sinos Brasil MAURER, ANGELA MARIA; SCHMITT FIGUEIRÓ, PAOLA; ALVES PACHECO DE CAMPOS, SIMONE; SEBASTIÃO DA SILVA, VIRGÍNIA; DE BARCELLOS, MARCIA DUTRA YES, WE ALSO CAN! O DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS DE CONSUMO COLABORATIVO NO BRASIL Revista Base (Administração e Contabilidade) da UNISINOS, vol. 12, núm. 1, enero-marzo, 2015, pp. 68-80 Universidade do Vale do Rio dos Sinos São Leopoldo, Brasil Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337238452007 Como citar este artigo Número completo Sistema de Informação Científica Mais artigos Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal Home da revista no Redalyc Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto BASE – Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos 12(1):68-80, janeiro/março 2015 2015 by Unisinos - doi: 10.4013/base.2015.121.06 YES, WE ALSO CAN! O DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS DE CONSUMO COLABORATIVO NO BRASIL YES, WE ALSO CAN! THE DEVELOPMENT OF COLLABORATIVE CONSUMPTION INITIATIVES IN BRAZIL ANGELA MARIA MAURER [email protected] RESUMO O avanço e disseminação das tecnologias de informação e comunicação proporcionam o surgi- PAOLA SCHMITT FIGUEIRÓ [email protected] mento de novas formas de compartilhamento e a ascensão de plataformas de práticas coletivas que contribuem para o desenvolvimento de novas formas de consumo, como o consumo colabo- SIMONE ALVES PACHECO rativo. Este tipo de consumo descreve a prática de partilha, empréstimos comerciais, aluguel e DE CAMPOS trocas realizados, principalmente, no ciberespaço. -
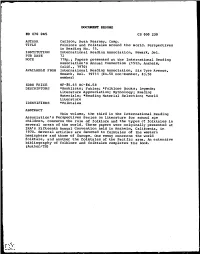
Institution Available from Descriptors
DOCUMENT RES UME ED 070 045 CS 000 230 AUTHOR Carlson, Ruth Kearney, Comp. TITLE Folklore and Folktales Around the world. Perspectives in Reading No. 15. INSTITUTION International Reading Association, Newark, Del., PUB DATE 72 NOTE 179p.; Papers presented at the International Reading Association'sAnnual Convention (15th, Anaheim, Calif., 1970) AVAILABLE FROMInternationalReading Association, Six Tyre Avenue, Newark, Del.19711 ($4.50 non-member, $3.50 member) EDRS PRICE MF-$0.65 HC-$6.58 DESCRIPTORS *Booklists; Fables; *Folklore Books; Legends; Literature Appreciation; Mythology; Reading Materials; *Reading Material Selection; *world Literature IDENTIFIERS *Folktales ABSTRACT This volume, the third in the International Reading Association's Perspectives Series on literature for school age children, concerns the role of folklore and the types of folktales in several areas of the world. These papers were originally presented at IRA's Fifteenth Annual Convention held in Anaheim, California, in 1970. Several articles are devoted to folktales of the western hemisphere and those of Europe. One essay concerns the world folktale, and another the folktales of the Pacific area. An extensive bibliography of folklore and folktales completes the book. (Author/TO) U.S. DEPARTMENT OF HEALTH. EDUCATION & WELFARE OFFICE OF EDUCATION THIS DOCUMENT HAS BEEN REPRO. DUCED EXACTLY AS RECEIVED FROM THE PERSON OR ORGANIZATION ORIG. INATING IT POINTS OF VIEW OR OPIN IONS ST ATFD DO NOT NECESSARILY REPRESENT OFFICIAL OFFICE OF EDU CATION POSITION OR POLICY Perspectives in Reading No. 15 FOLKLORE AND FOLKTALES AROUND THE WORLD Compiled and Edited by Ruth Kearney Carlson California State College at Hayward Prepared by theIRALibrary and Literature Committee Ira INTERNATIONAL READING ASSOCIATION Newark, Delaware 19711 9 b INTERNATIONAL READING ASSOCIATION OFFICERS 1971-1972 President THEODORE L. -

The Social and Cultural Effects of Capoeira's Transnational Circulation in Salvador Da Bahia and Barcelona
The Social and Cultural Effects of Capoeira’s Transnational Circulation in Salvador da Bahia and Barcelona Theodora Lefkaditou Aquesta tesi doctoral està subjecta a la llicència Reconeixement 3.0. Espanya de Creative Commons. Esta tesis doctoral está sujeta a la licencia Reconocimiento 3.0. España de Creative Commons. This doctoral thesis is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0. Spain License. Departamento de Antropología Cultural e Historia de América y de África Facultad de Geografía e Historia Universidad de Barcelona Programa de Doctorado en Antropología Social y Cultural Bienio 2005-2007 The Social and Cultural Effects of Capoeira’s Transnational Circulation in Salvador da Bahia and Barcelona Tesis de Doctorado Theodora Lefkaditou Director: Joan Bestard Camps Marzo 2014 To Antonio and Alaide ACKNOWLEDGMENTS It is the beginning and the end of a journey; of an ongoing project I eventually have to abandon and let go. I would like to thank all the people who contributed along the way. Most immediately, I am grateful to my supervisor, Professor Joan Bestard Camps, for his patience, guidance and expertise and for encouraging me to discover anthropology according to my own interests. I must also acknowledge the encouragement I received from Professor Manuel Ruiz Delgado. My thanks extend to all members of the Doctorate Program in Social and Cultural Anthropology (2007- 2009) of the Department of Cultural Anthropology and History of America and Africa at the University of Barcelona for their useful feedback in numerous occasions. They all have considerably enriched my anthropological knowledge. I am also grateful to Professor Livio Sansone and Professor James Carrier for their comments and suggestions; Professor João de Pina Cabral for his recommendations and Dr. -

IHU On-Line 184ª Edição
Futebol: mística, identidade e comércio Leia nesta edição Editorial pg. 2 Tema de capa Entrevistas Reinaldo Olécio AguiarAguiar:::: Esporte, magia e religião pg. 3 Arlei Sander DamoDamo:: Um campo de guerra pg. 7 Roberto DaMattaDaMatta:: Ritual, drama e jogo pg. 101010 Edison Luis GastaldoGastaldo:::: Negros jogam, brancos assistem pg. 121212 Simoni Lahud Guedes: Futebol e sentimento de nacionalidade pg. 171717 Rogério Delanhesi: Paixão que une colorados e gremistas pg. 191919 Destaques da semana Entrevistas da Semana: Gilles LipovetskyLipovetsky:::: O hedonismo fraturado pg. 23 Luiz Eduardo CheidaCheida:::: Araucária: um referencial histórico e geográfico pg. 28 Artigo da Semana: Cristovam BuarqueBuarque:::: Paixão nacional pg. 30 Deu nos jornais: pg. 32 Frases da Semana: pg. 34 Destaques On-Line: pg. 36 IHU ONLINE • WWW.UWWW.UNISINOS.BRNISINOS.BR /IHU 1 SÃO LEOPOLDO, 12 DE JUNHO DE 2006 IHU em revista Eventos pg. 39 IHU Repórter pg. 52 Errata pg. 55 Editorial O futebol, longamente desprezado pela pesquisa, vai se tornando um apaixonado objeto de estudo para diferentes áreas do saber. Do dribling game dos colégios britânicos da metade do século XIX até a grande celebração da Copa do Mundo, o futebol, por sua simplicidade, se universalizou a tal ponto, como constata a última edição da revista francesa Autrement, que a FIFA conta com mais membros que a ONU. Saído da burguesia, o futebol perpassa todas as classes sociais graças a seus valores coletivos. Espelho de uma nação, de uma cidade, de um bairro, ele revela a identidade, a alteridade e os estereótipos que lhe são associados. Movido pela mística ele é, cada vez mais, submetido às leis do mercado. -

A Malandragem No Império De Martins Pena
Entre a ordem e a desordem: A malandragem no Império de Martins Pena Renata Silva Almendra * Resumo : O presente artigo visa fazer uma breve apresentação da prática da malandragem entre homens e mulheres livres no Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX, utilizando como fontes as comédias escritas por Martins Pena entre os anos de 1833 e 1847. Os personagens que Martins Pena colocou nos palcos da Corte nos mostram um pouco do jogo de cintura e do “jeitinho” necessários para transformar as desvantagens em vantagens e, assim, sobreviver de modo criativo nessa sociedade imperial que cresce e se desenvolve apresentando-se repleta de. tradições, contradições e possibilidades. Palavras-chave: Malandragem, Rio de Janeiro, Teatro. Abstract : The present article seeks to do a brief presentation of the practice of the roguery between men and free women in Rio de Janeiro in the first half of the century XIX, using as sources the comedies writings for Martins Grieves among the years of 1833 and 1847. The characters that Martins Pena placed at the stages of the Court show us a little of the waist game and of the "necessary way" to transform the disadvantages in advantages and, like this, to survive in a creative way in that imperial society that grows and he/she/it develops coming replete of. traditions, contradictions and possibilities. Keywords : Roguery, Rio de Janeiro, Theater. Quando os espectadores são poucos, os aplausos não podem ter esse cunho de entusiasmo que, como centelha elétrica, vão repercutir no ânimo dos artistas, que o despertam, e, por assim dizer, dar-lhes vida. -

University of Florida Thesis Or Dissertation Formatting
A PHILOSOPHY OF LIFE: CAPOEIRA AND SOCIAL INCLUSION IN THE PERIPHERY OF SÃO PAULO, BRAZIL BY JACLYN DONELLE MCWHORTER A DISSERTATION PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF FLORIDA 2018 1 © 2018 Jaclyn Donelle McWhorter ACKNOWLEDGMENTS I thank my parents, family, and friends who supported me in different ways throughout my personal journey. I also thank Contra-Mestre Bocão, David de Lima, without whom I would have embarked on a different path. I thank my advisor, Peter Collings, for counseling me from the very beginning of my entrance into the program and pushing me through the final steps when I needed it most. I also thank my committee members Larry Crook, Tanya Saunders, and Chris McCarty for all of the comments and feedback to make this project a success, as well as Mike Heckenberger for the help early on. In addition, I thank every single person who did not believe in me or who gave me negative energy along my journey, because without you I would not have grown the strength and courage to complete this work for myself. 3 TABLE OF CONTENTS Page ACKNOWLEDGMENTS .................................................................................................. 3 LIST OF FIGURES .......................................................................................................... 6 ABSTRACT ..................................................................................................................... 7 CHAPTER -

Graciliano E a Nata Da Malandragem Fabio Cesar Alves
Graciliano e a nata da malandragem Fabio Cesar Alves RESUMO: O artigo analisa a reconstrução literária, nas Memórias do cárcere, do contato que o escritor Graciliano Ramos travou com os malandros da Colônia Correcional da Ilha Grande, quando da sua prisão em 1936. A apreensão da dinâmica da marginalidade pelo escritor militante desnuda aspectos da ideologia trabalhista e dialoga a contrapelo com as apostas do nosso primeiro modernismo. Palavras-chave: Graciliano Ramos; malandragem; modernismo; Estado Novo ABSTRacT: The article analyzes, in Memórias do cárcere, the literary reconstruction of the contact that the writer Graciliano Ramos had with the rascals of the Corrective Colony in Ilha Grande, during his imprisionment in 1936. The contemplation of the dynamics regarding marginalization done by the militant writer unfolds the working ideology and dialogues contrariwise with the investments of our first Modernism. KEYWORDS: Graciliano Ramos; rascal identity; Modernism, New State Quem trabalha é que tem razão Eu digo e não tenho medo de errar O bonde São Januário Leva mais um operário Sou eu que vou trabalhar Antigamente eu não tinha juízo Mas resolvi garantir o meu futuro Sou feliz, vivo muito bem A boemia não dá camisa a ninguém E digo bem. “O bonde São Januário”, Wilson Batista e Ataulfo Alves No carnaval de 1941, o samba composto por Wilson Batista e Ataulfo Alves se tornou um grande sucesso popular. Batista, célebre autor de versos polêmicos dirigidos a Noel Rosa (como os de “Frankstein da Vila”, 1936), e um boêmio nato, aparentemente dei- xava de cantar a malandragem para louvar a ideia do trabalho regular como meio de realização plena do homem. -

Teaching Brazilian Folklore Through Videogames: a Way to Motivate Students Leonardo F
Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015 Teaching Brazilian folklore through videogames: a way to motivate students Leonardo F. B. S. Carvalho, Helmut Prendinger Augusto Timm, Igor C. Moura Dante A. C. Barone, National Institute of Informatics, Tokyo, Institute of Informatics, Federal Magda Bercht Japan University of Rio Grande do Sul, RS, Graduate Program of Informatics in [email protected] Brazil Education, Federal University of Rio [email protected], Grande do Sul, RS, Brazil [email protected] [email protected], {barone, bercht }@inf.ufrgs.br ABSTRACT Folklore and, at the same time, enhance their motivation towards This paper discusses the development of a game centered on the learning of this subject. mythical characters of Brazilian folklore in order to disclose these In fact, the idea of “improving student’s motivation” for classes characters and tales to students, improving their knowledge in was the starting point for this research, as it was first brought regard to this theme and enhancing their value for a neglected part together by the realization that teachers’ complains about the lack of Brazilian culture. To appeal to students we have instilled the of motivation of students for learning a subject or even an entire design of the game with motivational techniques and concepts curriculum. This characteristics are very often found in academic aimed to instructional materials as well as to videogames. By literature [4][6][35][36]. combining these two aspects our goal is to contribute to bring to classrooms a common and appealing technology of students’ daily In understanding that, we started to look for ways to improve lives that is still seen with some stigma by some educators.