“Crise Do Carnaval” Carioca
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Juventude, Sociabilidade E Associativismo Nas Escolas De Samba Mirins Do Rio De Janeiro Revista Do Instituto De Estudos Brasileiros, Núm
Revista do Instituto de Estudos Brasileiros ISSN: 0020-3874 ISSN: 2316-901X Instituto de Estudos Brasileiros Ribeiro, Ana Paula Alves O futuro do sambista e o sambista do futuro: juventude, sociabilidade e associativismo nas escolas de samba mirins do Rio de Janeiro Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, núm. 70, Maio-Agosto, 2018, pp. 189-207 Instituto de Estudos Brasileiros DOI: 10.11606/issn.2316-901X.v0i70p189-207 Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=405657236011 Como citar este artigo Número completo Sistema de Informação Científica Redalyc Mais artigos Rede de Revistas Científicas da América Latina e do Caribe, Espanha e Portugal Home da revista no Redalyc Sem fins lucrativos acadêmica projeto, desenvolvido no âmbito da iniciativa acesso aberto O futuro do sambista e o sambista do futuro: juventude, sociabilidade e associativismo nas escolas de samba mirins do Rio de Janeiro [ The future of the samba musician and the samba musician of the future: youth, sociability and associativism in children’s samba schools from Rio de Janeiro Ana Paula Alves Ribeiro1 Artigo desenvolvido a partir da tese de doutorado Novas conexões, velhos associativis- mos: projetos sociais em escolas de samba mirins (Instituto de Medicina Social/UERJ, 2009), em diálogo com o Núcleo de Pesquisa das Violências (Nupevi/UERJ). RESUMO • Crianças e adolescentes participam, participate with their families in the activities com as suas famílias, das atividades das escolas of samba schools. These young people have their de samba, tendo, há décadas, espaços próprios: own spaces for decades: children’s section; mas- ala das crianças; escolinhas de mestre-sala e por- ter of ceremonies and flag-bearer (courses); drum ta-bandeira; baterias mirins, com a perspectiva sections, allowing for professionalization and de profissionalização e renovação nas próprias renovation within the samba school itself; and escolas; e escolas de samba mirins. -

Carla Machado Lopes
Universidade Do Estado do Rio de Janeiro Centro de Educação e Humanidades Instituto de Artes Carla Machado Lopes Entre educação e espetáculo: escolas de samba mirins no Rio de Janeiro Rio de Janeiro 2019 2 Carla Machado Lopes Entre educação e espetáculo: escolas de samba mirins no Rio de Janeiro Tese apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Doutor, ao Programa de Pós-Graduação em Artes, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Área de concentração: Arte e Cultura Contemporânea. Orientador: Prof. Dr. Roberto Conduru Co-Orientador: Prof. Dr. Luiz Felipe Ferreira Rio de Janeiro 2019 3 CATALOGAÇÃO NA FONTE UERJ/REDE SIRIUS/ BIBLIOTECA CCS/A Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta tese, desde que citada a fonte. ________________________________ __________________________ Assinatura Data 4 Carla Machado Lopes Entre educação e espetáculo: escolas de samba mirins no Rio de Janeiro Tese apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Doutor, ao Programa de Pós-Graduação em Artes, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Área de concentração: Arte e Cultura Contemporânea. Aprovada em ___ de novembro de 2019. Banca examinadora: _______________________________________ Prof. Dr. Roberto Conduru (Orientador) Instituto de Artes - UERJ _______________________________________ Prof. Dr. Luiz Felipe Ferreira (Co-Orientador) Instituto de Artes - UERJ _______________________________________ Profa. Dra. Ana Paula Alves Ribeiro Faculdade de Educação da Baixada Fluminense- -

Mocidade.Pdf
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO PROFESSOR ORIENTADOR: MARCELO GUEDES ALUNOS: DANIELA PADUA, MARIANA BIASIOLI, PAULO HENRIQUE OLIVEIRA. Índice Analítico Agradecimentos ___________________________________________________________________________ 9 Resumo executivo ________________________________________________________________________ 11 Breve descrição da escola __________________________________________________________________ 11 Identificação do problema e a proposta estratégica _______________________________________________ 11 Introdução 14 I. ANÁLISE EXTERNA ______________________________________________ 18 I.1.1. Mercado ______________________________________________________________________ 19 I.1.1.1. Histórico ______________________________________________________________________ 19 I.1.1.1.1. As raízes do termo ______________________________________________________________ 19 I.1.1.1.2. Conceito e origem _______________________________________________________________ 19 I.1.1.1.3. Período de duração _______________________________________________________________ 20 I.1.1.1.4. Carnaval no Brasil _______________________________________________________________ 20 I.1.1.1.5. Bailes de carnaval ________________________________________________________________ 21 I.1.1.1.6. Escolas de samba ________________________________________________________________ 21 I.1.2. Tamanho do mercado ____________________________________________________________ 23 I.1.3. Sazonalidade ___________________________________________________________________ 25 -

Corpos Desfilantes De Joãozinho Da Goméia
ISSN:1984-9540 DOI: 10.12957/periferia.2020.55012 CANDOMBLÉS E CARNAVAIS: CORPOS DESFILANTES DE JOÃOZINHO DA GOMÉIA Leonardo Augusto Bora1 Gabriel Haddad Gomes Porto2 Vinícius Ferreira Natal3 RESUMO O trabalho investiga a presença de Joãozinho da Goméia enquanto “destaque de luxo” em desfiles de escolas de samba da cidade do Rio de Janeiro, no final da década de 1960 e no início da década de 1970. Objetiva-se, com isso, o estabelecimento de conexões entre o universo dos “barracões” das religiões de matrizes africanas e a complexidade dos “barracões” das agremiações carnavalescas. De início, as relações históricas entre escolas de samba, cosmogonias negro-africanas e sociabilidades de terreiros são problematizadas, com base em proposições teóricas de nomes como Paul Gilroy e Muniz Sodré. Num segundo momento, a partir da prospecção bibliográfica e do recorte de fragmentos jornalísticos, são apresentados apontamentos sobre a importância dos destaques de carnaval, com ênfase em personagens desempenhados por João da Goméia em desfiles de 1969 e 1970, em escolas como Império Serrano, Império da Tijuca e Imperatriz Leopoldinense. Depois, as lentes investigativas são direcionadas para a reinterpretação visual de algumas fantasias utilizadas pelo Babalorixá, conforme o proposto no decorrer do desfile de 2020 do GRES Acadêmicos do Grande Rio, cujo enredo Tata Londirá: o Canto do Caboclo no Quilombo de Caxias dedicou um “setor” (o equivalente a um capítulo de uma narrativa) aos corpos desfilantes do personagem homenageado. Conclui-se, por fim, que João da Goméia pode ser compreendido enquanto agente mediador que transitava por círculos culturais distintos, mesclando, na sua corporeidade carnavalesca, os saberes trocados nos terreiros de Candomblé e as vivências nas quadras (outrora chamadas “terreiros”) e nos barracões do “maior show da Terra”. -

O GRES Acadêmicos Do Salgueiro E As
Universidade Federal Fluminense Centro de Estudos Gerais Instituto de Ciências Humanas e Filosofia Área de História Programa de Pós-Graduação em História - Doutorado Guilherme José Motta Faria O G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro e as representações do negro nos desfiles das escolas de samba nos anos 1960 Niterói 2014 1 Universidade Federal Fluminense Centro de Estudos Gerais Instituto de Ciências Humanas e Filosofia Área de História Programa de Pós-Graduação em História – Doutorado Guilherme José Motta Faria O G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro e as representações do negro nos desfiles das escolas de samba nos anos 1960 Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós- Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial para obtenção do título de Doutor, sob orientação da Prof. Dra. Martha Campos Abreu. Orientadora: Prof. Dra. Martha Campos Abreu Niterói 2014 2 Universidade Federal Fluminense Centro de Estudos Gerais Instituto de Ciências Humanas e Filosofia Área de História Programa de Pós-Graduação em História – Doutorado Guilherme José Motta Faria O G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro e as representações do negro nos desfiles das escolas de samba nos anos 1960 Banca Examinadora: Prof. Dra. Martha Campos Abreu (Orientadora) Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFF _______________________________________________ Prof. Dra. Marilene Rosa Nogueira da Silva Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UERJ ________________________________________________ Prof. Dra. Rachel Soihet Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFF _________________________________________________ Prof. Dr. Marcelo de Souza Magalhães Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da UNIRIO ________________________________________________ Prof. Dr. Matthias Wolfram Orhan Rohring Assunção Universidade de ESSEX (Prof. -

Da Passarela Do Samba Ao Enredo
SOARES, Alessandro Cury; LOGUERCIO, Rochele de Quadros; FERREIRA,Luiz Felipe (2016)._______________ ________________________________________________________________________________135 Da passarela do samba ao enredo: a visibilidade da ciência no desfile das escolas de samba The passarela do samba to the plot: the visibility of science in the parade of samba schools Alessandro Cury Soares Universidade Federal do Rio Grande do Sul [email protected] Rochele de Quadros Loguercio Universidade Federal do Rio Grande do Sul [email protected] Luiz Felipe Ferreira Universidade Estadual do Rio de Janeiro [email protected] Resumo A pesquisa aqui proposta tem como objetivo analisar a Marquês de Sapucaí, seus contornos e as maneiras com que esta arquitetura engendra o desfile, faz ver e dá visibilidade a ciência presente nos temas das escolas de samba. Essa atitude, conforme nosso entendimento, pode dar conta de criar condições de aprendizagens. Palavras-Chave: Escolas de Samba. Visibilidade. Ciência. Abstract The research proposed here aims to analyze the Marques de sapucai contours and the ways in which this engenders architecture the parade, do view and gives visibility to science present in samba schools themes. That attitude, according to our understanding, can handle creating the conditions of learning. Keywords: Samba schools. Visibility. Science. Introdução Revista Interface, Edição nº 12, dezembro de 2016 – p. 135-146. SOARES, Alessandro Cury; LOGUERCIO, Rochele de Quadros; FERREIRA,Luiz Felipe (2016)._______________ Visitaremos a estrutura arquitetônica da Marquês de Sapucaí a fim de percebermos quais os fatores do local que instituem uma maneira de desfilar e de apresentar esse desfile, entendemos que as inscrições das paredes, arquibancadas e espaço como um todo deem conta de um dizer sobre o como fazer desfile e de como ele deve ser organizado e como se deve olhar para os desfiles. -

Jair Martins De Miranda Samba Global
JAIR MARTINS DE MIRANDA SAMBA GLOBAL O devir-mundo do samba e a potência do carnaval do Rio de Janeiro: análise das redes e conexões do samba no mundo, a partir do método da cartografia e da organização rizomática do conhecimento Tese de doutorado Rio de Janeiro / 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ ESCOLA DE COMUNICAÇÃO – ECO INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IBICT PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO - PPGCI JAIR MARTINS DE MIRANDA SAMBA GLOBAL: o devir-mundo do samba e a potência do carnaval do Rio de Janeiro: análise das redes e conexões do samba no mundo, a partir do método da cartografia e da produção rizomática do conhecimento RIO DE JANEIRO 2015 JAIR MARTINS DE MIRANDA SAMBA GLOBAL O DEVIR-MUNDO DO SAMBA E A POTÊNCIA DO CARNAVAL DO RIO DE JANEIRO: ANÁLISE DAS REDES E CONEXÕES NO MUNDO DO SAMBA, A PARTIR DO MÉTODO DA CARTOGRAFIA E DA PRODUÇÃO RIZOMÁTICA DO CONHECIMENTO TesedeDoutoradoapresentadaaoProgramadePós- GraduaçãoemCiênciadaInformação,convênioentreoInstitut oBrasileirodeInformaçãoemCiênciaeTecnologiaeaUniversi dadeFederaldoRiodeJaneiro,EscoladeComunicação,comore quisitoparcialparaàobtençãodotítulodeDoutoremCiênciadaI nformação. Orientador:GiuseppeCocco RiodeJaneiro201 5 MIRANDA, Jair Martins de Samba global : o devir-mundo do Samba e a potência do carnaval do Rio de Janeiro - análise das redes e conexões do samba no mundo, a partir do método da cartografia e da produção rizomática do conhecimento/ Jair Martins de Miranda. - Rio de Janeiro, 2015. 28?f. Tese (DoutoradoemCiênciadaInformação)– ProgramadePós- GraduaçãoemCiênciadaInformação,InstitutoBrasileirodeInformaçãoemCiênciaeTecnol ogia,UniversidadeFederaldoRiodeJaneiro,EscoladeComunicação,RiodeJaneiro,2015. Orientador:GiuseppeCocco 1.CiênciadaInformação–Tese.2. Samba.3. Carnaval4.Rio de Janeiro.5.Cartografia6.Globalização. .I. Cocco,Giuseppe (Orient.). II.UniversidadeFederaldo RiodeJaneiro, Escola de Comunicação.III.InstitutoBrasileirodeInformaçãoemCiênciaeTecnologia.,Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação . -
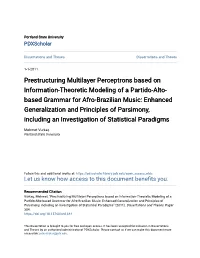
Prestructuring Multilayer Perceptrons Based on Information-Theoretic
Portland State University PDXScholar Dissertations and Theses Dissertations and Theses 1-1-2011 Prestructuring Multilayer Perceptrons based on Information-Theoretic Modeling of a Partido-Alto- based Grammar for Afro-Brazilian Music: Enhanced Generalization and Principles of Parsimony, including an Investigation of Statistical Paradigms Mehmet Vurkaç Portland State University Follow this and additional works at: https://pdxscholar.library.pdx.edu/open_access_etds Let us know how access to this document benefits ou.y Recommended Citation Vurkaç, Mehmet, "Prestructuring Multilayer Perceptrons based on Information-Theoretic Modeling of a Partido-Alto-based Grammar for Afro-Brazilian Music: Enhanced Generalization and Principles of Parsimony, including an Investigation of Statistical Paradigms" (2011). Dissertations and Theses. Paper 384. https://doi.org/10.15760/etd.384 This Dissertation is brought to you for free and open access. It has been accepted for inclusion in Dissertations and Theses by an authorized administrator of PDXScholar. Please contact us if we can make this document more accessible: [email protected]. Prestructuring Multilayer Perceptrons based on Information-Theoretic Modeling of a Partido-Alto -based Grammar for Afro-Brazilian Music: Enhanced Generalization and Principles of Parsimony, including an Investigation of Statistical Paradigms by Mehmet Vurkaç A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Electrical and Computer Engineering Dissertation Committee: George G. Lendaris, Chair Douglas V. Hall Dan Hammerstrom Marek Perkowski Brad Hansen Portland State University ©2011 ABSTRACT The present study shows that prestructuring based on domain knowledge leads to statistically significant generalization-performance improvement in artificial neural networks (NNs) of the multilayer perceptron (MLP) type, specifically in the case of a noisy real-world problem with numerous interacting variables. -

Chapa Branca” Na Beija-Flor, O Grande Decênio Na Avenida Em 1975 “White Plate” in Beija-Flor, the Great Decene on the Avenue in 1975
a e ARTIGO 217 Arte & Ensaios Arte e Ensaios vol. 26, n. 40, jul./dez. 2020 “Chapa Branca” na Beija-Flor, o grande decênio na avenida em 1975 “White Plate” in Beija-Flor, the great decene on the avenue in 1975 Carlos Carvalho da Silva* 0000-0002-4426-7511 [email protected] Resumo O artigo tem como objetivo analisar o enredo carnavalesco do G.R.E.S. Beija-Flor de Nilópolis no ano de 1975 intitulado “O grande decênio”, desenvolvido pelo jornalista e professor Manuel Antônio Barroso. Buscamos aproximar, através da materialidade criada com o desdobramento do enredo textual para o enredo visual, com as fantasias carnava- lescas como ferramenta de propagação do ideário militar durante o período do “milagre brasileiro”. Os enredos patrióticos desse período, conhecidos nos dias de hoje como “chapa-branca”, proporcionaram às agremiações alinhadas à ideologia militar o estigma de escola patriótica ou ainda como “unidos da arena”. A escola de samba de Nilópolis carregou esse fardo pesado, mesmo após a contratação do carnavalesco Joãozinho Trinta, com o enredo “Sonhar com rei dá leão”, em 1976, que conquistou o campeonato daquele ano. Sendo assim, o carnavalesco e a agremiação foram, ainda assim, criticados e julgados pelas marcas de um passado não distante: o ano de 1975 – o grande decênio. Palavras-chave * Mestre e doutorando Carnaval; chapa-branca; Beija-Flor; militar; fantasia em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes PPGAV/UFRJ. Professor Abstract substituto na EBA/ The article aims to analyze the carnival story of G.R.E.S. Beija-Flor of Nilópolis in the year UFRJ no depto. -

O Segredo É a Alegria 2 ENSAIO GERAL DEVASSA, GENTE BONITA E ANIMAÇÃO NÃO FALTARAM EM 2010, NEM VÃO FALTAR NO CARNAVAL DE 2011
Informativo Ofi cial da LIESA – www.liesa.com.br Ano XVI – Nº 25 RIO CARNAVAL 2011 SAMBA o segredo é a alegria 2 ENSAIO GERAL DEVASSA, GENTE BONITA E ANIMAÇÃO NÃO FALTARAM EM 2010, NEM VÃO FALTAR NO CARNAVAL DE 2011. AGUARDE. ENSAIO GERAL 43 44 ENSAIO GERAL ENSAIO GERAL 3 Informativo Ofi cial da LIESA – www.liesa.com.br Ano XVI – Nº 25 NossaN capa: A Comissão de Frente da Unidos da Tijuca, campeãca de 2010, foi um dos destaques do RIO CARNAVAL 2011 SAMBA desfid le. Foto Henrique Mattos o segredo é a alegria LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO RIO DE JANEIRO PRESIDENTE Jorge Luiz Castanheira Alexandre VICE-PRESIDENTE E DIRETOR DE PATRIMÔNIO ÍNDICE Zacarias Siqueira de Oliveira Ranking LIESA 2006-2010 Mensagem do Presidente: DIRETOR FINANCEIRO 5 Parceiros do Sucesso 28 Américo Siqueira Filho DIRETOR SECRETÁRIO Mensagem do Secretário Wagner Tavares de Araújo Especial de Turismo 6 DIRETOR JURÍDICO Está chegando a hora Nelson de Almeida Contrato defi nirá venda DIRETOR COMERCIAL 8 de ingressos Hélio Costa da Motta DIRETOR DE CARNAVAL Os melhores ensaios Elmo José dos Santos 9 da Terra DIRETOR SOCIAL “Forças da Natureza” Jorge Perlingeiro volta em novembro 29 DIRETOR CULTURAL Hiram Araújo ADMINISTRADOR DA CIDADE DO Com a mão na massa SAMBA 30 Ailton Guimarães Jorge Júnior ASSESSOR DE IMPRENSA Onde se aprende a dança Vicente Dattoli 32 do samba CONSELHO SUPERIOR Ailton Guimarães Jorge Cidade do Samba e do Aniz Abrahão David 10 Pagode também! Da Candelária à Luiz Pacheco Drumond 34 Apoteose CONSELHO DELIBERATIVO Como será o desfi le PRESIDENTE Ubiratan T. -

REGULAMENTO ESPECÍFICO DOS DESFILES DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL DA LIESA Carnaval / 2016
REGULAMENTO ESPECÍFICO DOS DESFILES DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL DA LIESA Carnaval / 2016 TÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO DOS DESFILES Artigo 1o. Os Desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial da LIESA (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro), no ano de 2016, obedecerão às normas contidas no presente Regulamento. CAPÍTULO I DAS OBRIGAÇÕES DA RIOTUR Artigo 2o. A RIOTUR se responsabilizará pela adoção das medidas relativas ao funcionamento da Avenida dos Desfiles, nos termos do disposto no Contrato celebrado com a LIESA. CAPÍTULO II DAS OBRIGAÇÕES DA LIESA Artigo 3o. Além das atribuições que lhe confere o Contrato citado no Artigo anterior, a LIESA se responsabilizará, com exclusividade, por tudo que se relacione com a Direção Artística dos Desfiles. CAPÍTULO III DO LOCAL, DAS DATAS E DOS HORÁRIOS DOS DESFILES Artigo 4o. Os Desfiles de que trata este Regulamento serão realizados na Passarela do Samba, denominada de “Passarela Professor Darcy Ribeiro”, situada na Rua Marquês de Sapucaí, nesta Cidade, nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2016, respectivamente Domingo e Segunda-feira de Carnaval. Artigo 5o. Os Desfiles começarão às 21:30h (vinte e uma horas e trinta minutos). 1 Carnaval/2016 CAPÍTULO IV DAS AGREMIAÇÕES PARTICIPANTES Artigo 6o. O Grupo Especial no ano de 2016 será composto por 12 (doze) Escolas de Samba, divididas em 02 (dois) grupos, cada um com 06 (seis) Escolas de Samba, obedecendo à seguinte Ordem de Desfile para Domingo e Segunda-feira de Carnaval: I - dia 07 de fevereiro de 2016 (Domingo) - às 21:30 horas - G.R.E.S. -

O GRUPO De ACESSO Levado À Sério
Revista CarnavalAno I n Edição nº 8 n Maio/2012 A transformação do Carnaval no milênio Crianças recontam sucessos Eleições e enredo na Mangueira Déo Pessoa O Grupo de Acesso levado à sério Maio / 2012 Revista Carnaval l 1 EDITORIAL Classificação 2012 SUMÁRIO (Grupo Especial e Grupos de Acesso A, B e C do Rio de Janeiro) ENTREVISTA Fôlego no Acesso Déo Pessoa, Grupo Especial Grupo de Acesso B inda faltam nove meses para o Carnaval 2013, mas o na Lierj 4 1º Unidos da Tijuca 1º Caprichosos de Pilares * Grupo de Acesso já desperta a atenção dos amantes da HOMENAGEM 2º Acadêmicos do Salgueiro 2º Alegria da Zona Sul folia. As grandes contratações anunciadas recentemen- Oswaldo teA pelas escolas e a nova direção administrativa estão geran- 3º Unidos de Vila Isabel 3º Unidos de Padre Miguel Jardim do uma expectativa positiva. Nomes como Max Lopes, Fábio 12 4º Beija-Flor de Nilópolis 4º Sereno de Campo Grande Ricardo e Hélio Bejani darão um brilho especial ao desfile de 5º Acadêmicos do Grande Rio 5º Tradição DE OLHO sábado, agora organizado pela Liga das Escolas de Samba do Equipes do 6º Portela 6º União do Parque Curicica Rio de Janeiro (Lierj), a antiga Lesga, rebatizada e com ares de Especial 14 7º Estação Primeira de Mangueira 7º Unidos da Vila Santa Tereza seriedade e credibilidade na direção de Déo Pessoa. 8º União da Ilha do Governador 8º União de Jacarepaguá Muitas incógnitas, porém, deverão ser respondidas. O novo DE OLHO presidente da entidade, aliás, fala sobre algumas delas na en- 9º Mocidade Ind.