TESE Jônatas Xavier De Souza.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
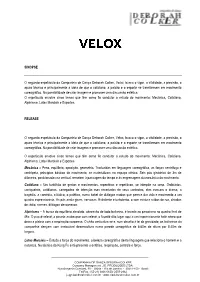
SINOPSE O Segundo Espetáculo Da Companhia De Dança Deborah
SINOPSE O segundo espetáculo da Companhia de Dança Deborah Colker, Velox, busca o vigor, a vitalidade, a precisão, o apuro técnico e principalmente a ideia de que o cotidiano, a paixão e o esporte se transformam em movimento coreográfico. Na possibilidade de criar imagens e promover uma discussão estética. O espetáculo envolve cinco temas que têm como fio condutor o estudo do movimento: Mecânica, Cotidiano, Alpinismo, Lutas Marciais e Esportes. RELEASE O segundo espetáculo da Companhia de Dança Deborah Colker, Velox, busca o vigor, a vitalidade, a precisão, o apuro técnico e principalmente a ideia de que o cotidiano, a paixão e o esporte se transformam em movimento coreográfico. Na possibilidade de criar imagens e promover uma discussão estética. O espetáculo envolve cinco temas que têm como fio condutor o estudo do movimento: Mecânica, Cotidiano, Alpinismo, Lutas Marciais e Esportes. Mecânica – Peso, equilíbrio, oposição, geometria. Traduzidas em linguagem coreográfica, as forças centrífuga e centrípeta, princípios básicos do movimento, se materializam no espaço cênico. Seis pás giratórias de 3m de diâmetro, posicionadas na vertical, remetem à passagem do tempo e às engrenagens da mecânica do movimento. Cotidiano – Um turbilhão de gestos e movimentos, repentinos e repetitivos, se interpõe na cena. Ordinários, corriqueiros, cotidianos, carregados de intenção mas recortados de seus contextos, eles evocam o drama, a tragédia, a comédia, o lúdico, o patético, numa babel de diálogos mudos que parece dar vida e movimento a um quadro expressionista. As pás ainda giram, nervosas. Estridente e turbulento, o som mistura ruídos de rua, chiados de rádio, sirenes, diálogos desconexos. Alpinismo – A busca do equilíbrio absoluto, obsessão de todo bailarino, é levada ao paroxismo no quadro final de Mix. -

MARIA REJANE REINALDO Currículo Lattes/ Link
MARIA REJANE REINALDO Currículo Lattes/ link: https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=4B595CBEB08B30A3FC29AB790629C8E2 FOTO: DEIVYSON TEIXEIRA. O POVO (palco do Teatro da Boca Rica) Conselheira de Política Municipal de Cultura de Fortaleza – 2015 a 2018 Fortaleza/CE, março 2019 APRESENTAÇÃO Atuação: Campo artístico, cultural e acadêmico, como atriz/diretora / professora universitária, pesquisadora / gestora / curadora/ parecerista/ assessora/ consultora, desde 1976. PESQUISA DOUTORADO ARTES CÊNICAS DA UFBA: FLORESTA AMAZÔNICA, VENEZUELA, ITÁLIA, FRANÇA, RORAIMA - EM BUSCA DAS MULHERES GUERREIRAS, AS AMAZONAS. PESQUISA: PRÊMIO BOLSA FUNARTE 2010. MINISTÉRIO DA CULTURA/ FUNARTE. TRABALHANDO COMO ATRIZ NO FILME “OS ANSEIOS DAS CUNHÃS”, DA AMAZONENSE REGINA MELO, PROJETO AGRACIADO COM O PRÊMIO DE CINEMA DO MINISTÉRIO CULTURA - CARMEM SANTOS. AMAZÔNIA. FILMAGEM DE “OS ANSEIOS DAS CUNHÃS” DE REGINA MELO. PRÊMIO DE CINEMA DO MINISTÉRIO DA CULTURA “CARMEM SANTOS”. FORMAÇÃO Doutora em Artes Cênicas-Teatro no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia - UFBA (2015), com a Tese: PENTESILEIA, RAINHA DAS AMAZONAS. Travessias de uma Personagem. O Projeto de pesquisa Pentesileia foi ganhador do Prêmio BOLSA PESQUISA FUNARTE 2010 (Ministério da Cultura/ Funarte) e do Programa de Intercâmbio e Difusão Cultural 2010 (FUNARTE/Ministério da Cultura). Mestre em Sociologia onde pesquisou relações sociais construídas e construtoras do PROCESSO CRIATIVO EM GRUPOS TEATRAIS GRUPO TEATRO PIOLLIN (PB) - UFC (2003); Bacharel -

Gratuito Gratuito
Estabelecimento / Programação / Categoria Descrição Data(s) Horário(s) Valor para o Passaporte: Endereço Classificação etária Disponibilizar livros, contação de histórias - Mudando a Narrativa Biblioteca Popular Marques Rebelo tem como foco crianças e suas famílias, e deve mobilizar crianças com e sem deficiência (ser inclusivo), LIVRO, BIBLIOTECA E LEITURA , e meditação de leitura inclusiva 12/8 9h às 17h gratuito Endereço: Rua Guapeni, 61- Tijuca mas desenvolverá recursos e estratégias para garantir o acesso das crianças com deficiência. Classificação etária: livre Cidade Livro - Download gratuito de 100 E-Books de clássicos da O Projeto Cidade Livro disponibiliza acesso inovador a download gratuito de 100 títulos de obras gratuito LIVRO, BIBLIOTECA E LEITURA Ambiente virtual 12/8 24h literatura brasileira clássicas da literatura brasileira Arquivo Nacional exposição Rio em Movimento Exposição apresenta uma visão sobre as intervenções no espaço urbano e na geografia da cidade,desde MUSEUS E EXPOSIÇÕES 12/8 8h às 18h gratuito Endereço: Praça da República 173 - Centro Classificação etária: livre o periodo colonial até finais dos anos 1970. Associação Grupo Cultural Jongo da Serrinha MUSEUS E EXPOSIÇÕES exposição de acervo A casa do jongo tem uma exposição permanente sobre as famílias do centenário morro da serrinha 12/8 10h as 18h gratuito endereço: Rua Compositor Silas de Oliveira , 101 - Madureira Biblioteca Comunitária Paulo Coelho LIVRO, BIBLIOTECA E LEITURA livro e leitura Biblioteca com 20 mil títulos, voltados a literatura infantil -
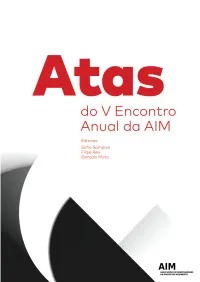
Atas-Vencontroanualaim.Pdf
FICHA TÉCNICA Título: Atas do V Encontro Anual da AIM Ed. Sofia Sampaio, Filipe Reis e Gonçalo Mota Editor: AIM – Associação de Investigadores da Imagem em Movimento Ano: 2016 Capa: atelierdalves.com Paginação: Paulo Cunha ISBN: 978-989-98215-4-5 www.aim.org.pt 2 ÍNDICE Introdução: Para a leitura das Atas do V Encontro Anual da AIM Sofia Sampaio, Filipe Reis e Gonçalo Mota TEORIA E ANÁLISE DA IMAGEM Images out of time: archival spectres in Daniel Blaufuks’ As If Daniela Agostinho O plano-sequência como construção de um tempo cinematográfico reflexivo Nelson Araújo No Reflex: ambivalência da imagem pós-hermenêutica Vania Baldi A imagem-documento no filme Um Filme Falado (2003), de Manoel de Oliveira Rafael Wagner dos Santos Costa Regimes temporais das imagens Antonio Fatorelli 2086: da vídeo-vigilância à imagem emergente Fernando Gerheim Imagem-operativa/imagem-fantasma: a perceção sintética e a industrialização do não-olhar em Harun Farocki Rui Matoso Individuação, mise-en-scène e ligne de temps Carlos Natálio A aura e o punctum da imagem mecânica Isabel Nogueira “Adeus aos dramas”: a escuta e a imaginação em Begone Dull Care Rodrigo Fonseca e Rodrigues Deleuze, imagens em movimento e imagens-atração Susana Viegas A unidade plástica nos filmes de Robert Wiene Rafael Morato Zanatto 3 CINEMA, MEMÓRIA E PODER Paisagismo psicogeográfico: as paisagens intermitentes de California Company Town e Ruínas Iván Villarmea Álvarez O cinema como ética Sérgio Dias Branco Adaptación y apropiación en el cine religioso: Fátima como espacio cinematográfico-teológico. -

Histórias E Causos Do Cinema Brasileiro
Zelito Viana Histórias e Causos do Cinema Brasileiro Zelito Viana Histórias e Causos do Cinema Brasileiro Betse de Paula São Paulo, 2010 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO Governador Alberto Goldman Imprensa Oficial do Estado de São Paulo Diretor-presidente Hubert Alquéres Coleção Aplauso Coordenador Geral Rubens Ewald Filho No Passado Está a História do Futuro A Imprensa Oficial muito tem contribuído com a sociedade no papel que lhe cabe: a democra- tização de conhecimento por meio da leitura. A Coleção Aplauso, lançada em 2004, é um exemplo bem-sucedido desse intento. Os temas nela abordados, como biografias de atores, di- retores e dramaturgos, são garantia de que um fragmento da memória cultural do país será pre- servado. Por meio de conversas informais com jornalistas, a história dos artistas é transcrita em primeira pessoa, o que confere grande fluidez ao texto, conquistando mais e mais leitores. Assim, muitas dessas figuras que tiveram impor- tância fundamental para as artes cênicas brasilei- ras têm sido resgatadas do esquecimento. Mesmo o nome daqueles que já partiram são frequente- mente evocados pela voz de seus companheiros de palco ou de seus biógrafos. Ou seja, nessas histórias que se cruzam, verdadeiros mitos são redescobertos e imortalizados. E não só o público tem reconhecido a impor- tância e a qualidade da Aplauso. Em 2008, a Coleção foi laureada com o mais importante prêmio da área editorial do Brasil: o Jabuti. Concedido pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), a edição especial sobre Raul Cortez ganhou na categoria biografia. Mas o que começou modestamente tomou vulto e novos temas passaram a integrar a Coleção ao longo desses anos. -

A Dança E a Crítica Uma Análise De Suas Relações Na Cidade De São Paulo
Flávia Fontes Oliveira A dança e a crítica Uma análise de suas relações na cidade de São Paulo Programas de estudos pós-graduados em Comunicação e Semiótica PUC-SP São Paulo 2007 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 1 Flávia Fontes Oliveira A dança e a crítica Uma análise de suas relações na cidade de São Paulo Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de MESTRE em Comunicação e Semiótica – Signo e Significação nas Mídias, sob a orientação da Professora Doutora Leda Tenório da Motta. São Paulo 2007 2 BANCA EXAMINADORA __________________________________________ Profa. Dra. Leda Tenório da Motta (orientadora) __________________________________________ __________________________________________ São Paulo, __ de __________________, de 2007 3 Agradecimentos Em tempos de grandes excessos, fazer um mestrado ainda é uma jornada solitária, sem muitos louvores, insegura, de passos pequenos. Apesar de depender quase exclusivamente de quem se arrisca ao desafio, ele não vai adiante sem muita generosidade. Por isso, é impossível chegar ao seu fim sem agradecer imensamente a pessoas importantes e queridas desse período. Em primeiro lugar, quero agradecer a minha orientadora, profa. Dra.Leda Tenório da Motta, que me acolheu em meio ao tempo conturbado. Não apenas isso, teve imensa disposição e atenção em indicar caminhos que às vezes pareciam tão embaralhados. Quando estudar ficava cada vez mais burocrático e instrumentalizado, suas aulas tornaram a pesquisa mais espontânea, mais curiosa, mais rica. À Profa. Dra. Maria Lucia Santaella e ao Prof. Dr. Oscar Angel Cesarotto, que aceitaram um convite que fugia ao tema comum de suas pesquisas e cujas leituras, no momento da qualificação, clarearam o caminho desta dissertação. -

Assessoria De Imprensa Do Gabinete
RESENHA DE NOTÍCIAS CULTURAIS Edição Nº 75 [ 9/2/2012 a 15/2/2012 ] Sumário CINEMA E TV...............................................................................................................4 O Globo - Das senzalas ao filão ‘favela movie’ / Entrevista / João Carlos Rodrigues.....................4 Estado de Minas – Ela fala da gente ..............................................................................................4 O Globo - Na parede da memória...................................................................................................6 Zero Hora – Morte e vida sertaneja.................................................................................................9 Deutsche Welle - “Olhe para mim de novo” mostra jornada pouco usual pelo sertão.....................9 Folha de S. Paulo – "Alô, Alô, Terezinha!" deixa Abelardo Barbosa de fora.................................10 O Globo - Brasileiro ‘Xingu’ tem primeira sessão concorrida........................................................11 O Globo - Uma equação para rodar três longas em três semanas...............................................11 Correio Braziliense - Senna vence Bafta.......................................................................................13 Estado de Minas – O povo que ri .................................................................................................13 Folha de S. Paulo – Aïnouz começa a rodar 'filme de macho'.......................................................16 O Globo - O conforto do desafio....................................................................................................17 -

Revista Brasileira 102 Internet.Pdf
Revista Brasileira FASE IX • JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO 2020 • ANO III • N.° 102 ACADEMIA BRASILEIRA REVISTA BRASILEIRA DE LETRAS 2020 D IRETORIA D IRETOR Presidente: Marco Lucchesi Cicero Sandroni Secretário-Geral: Merval Pereira C ONSELHO E D ITORIAL Primeiro-Secretário: Antônio Torres Arnaldo Niskier Segundo-Secretário: Edmar Bacha Merval Pereira Tesoureiro: José Murilo de Carvalho João Almino C O M ISSÃO D E P UBLI C AÇÕES M E M BROS E FETIVOS Alfredo Bosi Affonso Arinos de Mello Franco, Antonio Carlos Secchin Alberto da Costa e Silva, Alberto Evaldo Cabral de Mello Venancio Filho, Alfredo Bosi, P RO D UÇÃO E D ITORIAL Ana Maria Machado, Antonio Carlos Secchin, Antonio Cicero, Antônio Torres, Monique Cordeiro Figueiredo Mendes Arnaldo Niskier, Arno Wehling, Carlos R EVISÃO Diegues, Candido Mendes de Almeida, Vania Maria da Cunha Martins Santos Carlos Nejar, Celso Lafer, Cicero Sandroni, P ROJETO G RÁFI C O Cleonice Serôa da Motta Berardinelli, Victor Burton Domicio Proença Filho, Edmar Lisboa Bacha, E D ITORAÇÃO E LETRÔNI C A Evaldo Cabral de Mello, Evanildo Cavalcante Estúdio Castellani Bechara, Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Carneiro, Geraldo Holanda ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS Cavalcanti, Ignácio de Loyola Brandão, João Av. Presidente Wilson, 203 – 4.o andar Almino, Joaquim Falcão, José Murilo de Rio de Janeiro – RJ – CEP 20030-021 Carvalho, José Sarney, Lygia Fagundes Telles, Telefones: Geral: (0xx21) 3974-2500 Marco Lucchesi, Marco Maciel, Marcos Setor de Publicações: (0xx21) 3974-2525 Vinicios Vilaça, Merval Pereira, Murilo Melo Fax: (0xx21) 2220-6695 Filho, Nélida Piñon, Paulo Coelho, Rosiska E-mail: [email protected] Darcy de Oliveira, Sergio Paulo Rouanet, site: http://www.academia.org.br Tarcísio Padilha, Zuenir Ventura. -

O Brasil Na Rota Das Co-Produções
O BRASIL NA ROTA DAS CO-PRODUÇÕES SELEÇÃO DA PREMIÈRE BRASIL APOSTA EM NOVOS TALENTOS JORGE PEREGRINO, VP DA PARAMOUNT, ANALISA O CINEMA NA AMÉRICA LATINA UM LEVANTAMENTO DE 100 FILMES BRASILEIROS EM PRODUÇÃO 2 Juventude EDITORIAL ONDE ESTÁ O PROBLEMA? Paulo Sérgio Almeida 04 PREMIÈRE BRASIL Em meio à maré de pessimismo, não custa lembrar A seção competitiva do Festival do Rio apresenta que o cinema no Brasil ainda vive um momento de mais de 30 longas-metragens, entre filmes de conquistas. No setor da distribuição, as majors, fa- ficção e documentários vorecidas por um real forte e um dólar nem tanto, estão faturando alto com os blockbusters, e conti- nuam investindo mais em filmes brasileiros. Nunca houve tantas distribuidoras independentes atuando no mercado, tanto na produção como na distribui- CO-PRODUÇÃO ção da produção local, que vive um boom talvez jamais visto em termos de quantidade de filmes. Vi- 10 O crescimento das co-produções vemos também um momento crescente e raro em internacionais tem aumentado as termos de co-produção internacional. A exibição Ensaio sobre a possibilidades de financiamento cegueira continua em processo de expansão e renovação. do cinema brasileiro Os multiplex atingiram 50% do parque exibidor e já entramos na era das salas vip. Já chegamos também ENTREVISTA ao 3D e demos os primeiros passos no mundo do cinema digital. Jorge Peregrino, VP da Paramount Pictures Então, onde está o problema? Fica difícil falar em International, analisa a importância do solução se não sabemos qual é o problema. 16 mercado latino-americano para Hollywood Além daqueles problemas que chegam com o novo – ou seja, a transição digital –, podemos listar ques- FILME MÉDIO tões velhas e contraditórias. -

Volume Único
Ensino Fundamental 2o. ano – Volume único ARTE Dados Internacionais para Catalogação na Publicação (CIP) (Maria Teresa A. Gonzati / CRB 9-1584 / Curitiba, PR, Brasil) ©Editora Positivo Ltda., 2018 PRESIDENTE: Ruben Formighieri PROJETO GRÁFICO: Daniel Cabral DIRETOR-GERAL: Emerson Walter dos Santos EDITORAÇÃO: Natalia Pires dos Santos DIRETOR EDITORIAL: Joseph Razouk Junior ENGENHARIA DE PRODUTO: Solange Szabelski Druszcz GERENTE EDITORIAL: Júlio Röcker Neto PRODUÇÃO: GERENTE DE ARTE E ICONOGRAFIA: Cláudio Espósito Godoy Editora Positivo Ltda. SUPERVISÃO EDITORIAL: Silvia Eliana Dumont Rua Major Heitor Guimarães, 174 – Seminário SUPERVISÃO DE ARTE: Elvira Fogaça Cilka 80440-120 – Curitiba – PR SUPERVISÃO DE ICONOGRAFIA: Janine Perucci Tel.: (0xx41) 3312-3500 AUTORIA: Luciana Eastwood Romagnolli Site: www.editorapositivo.com.br EDIÇÃO DE CONTEÚDO: Luiz Lucena (Coord.) IMPRESSÃO E ACABAMENTO: EDITORA ASSISTENTE : Annalice Del Vecchio Gráfica e Editora Posigraf Ltda. EDIÇÃO DE TEXTO: Maria Helena Ribas Benedet Rua Senador Accioly Filho, 431/500 – CIC REVISÃO: Bárbara Pilati Lourenço, Vanessa Schreiner 81310-000 – Curitiba – PR PESQUISA ICONOGRÁFICA: Susan R. de Oliveira Mileski Tel.: (0xx41) 3212-5451 EDIÇÃO DE ARTE: Marcelo BIttencourt E-mail: [email protected] ILUSTRAÇÕES: Águeda Horn, Antonio Eder, Bruna Assis 2018 Brasil, Elder Galvão, Izidro Santos, Marcelo Bittencourt, Marcos CONTATO Guiherme, Shutterstock [email protected] Todos os direitos reservados à Editora Positivo Ltda. CADERNO DE ARTISTA APRENDIZ Capítulo 1 O NOSSO CORPO: REPRESENTAÇÃO E MOVIMENTO p. 4 Capítulo 2 O NOSSO CORPO: CENAS E SONS p. 20 Capítulo 3 A NOSSA RUA: ESPAÇOS DE EXPOSIÇÃO p.36 Capítulo 4 A NOSSA RUA: PALCOS PARA A ARTE p. 44 Elder Galvão. 2018. Digital. O NOSSO CORPO: REPRESENTAÇÃO E MOVIMENTO A ARTE “FALA” Você sabia que a arte “fala”? Ela nos permite expressar ideias, sentimentos e sensações. -

CANNES 2019 Brazilian Companies Attending
Private association to promote Brazilian cinema CANNES 2019 Brazilian Companies Attending MARCHÉ DU FILM 1 2 Brazilian Producers at Marché du film 2019 AF CINEMA PROJECT A.F. Cinema produced, CORFU PRINCESS since 1975, all films by Alain Fresnot, like “Ed Mort” and Brazil | 110 min | Action, Drama “Desmundo”, and commercial successes by other directors, The greek cargo ship Corfu Princess docks in Rio and is robbed like “Castelo RáTimBum”, by during Carnival. It´s company has also bankrupt in Athens and Cao Hamburger, and “Raul – now the crew and the ship will be left abandoned with no money O Início, O Fim e o Meio”, by in Brazil. Walter Carvalho. DEVELOPMENT PHASE: Finalized script DIRECTOR: Alain Fresnot SCREENWRITTER: Alain Fresnot FILMING LOCATION: Rio de Janeiro (Brazil) and Athens (Greece) LANGUAGES: English, Portuguese and Philippines BUDGET: US$ 2,000,000.00 PRODUCTION COMPANY: AF Cinema 2 PRODUCTION COMPANIES FILM JUST A NIGHT UMA NOITE NAO É NADA Brazil | 2016 | 95 min | Drama www.afcinema.com.br São Paulo, 1985. A married teacher falls in love with an HIV positive São Paulo - SP student. His desperation to have her makes him want to be sick +55 11 98794 6333 just like her. Only the love of his wife can bring peace to such sad hearts. DEVELOPMENT PHASE: Finalized DIRECTOR: Alain Fresnot SCREENWRITTERS: Alain Fresnot, Sabina Anzuategui and Jean Claude-Bernadet CAST: Paulo Betti, Cláudia Mello, Luiza Braga AVAILABLE TERRITORIES: All territories except Brazil FILMING LOCATION: Sao Paulo (Brazil) LANGUAGE: Portuguese BUDGET: US$ 800,000.00 PRODUCTION COMPANY: AF Cinema PREVIOUS FESTIVALS AND MARKETS: Boston IFF, São Paulo IFF Danilo Rezende and Rio IFF [email protected] DISTRIBUTION COMPANY: Imovision (Brazil) MARCHÉ DU FILM 2019 3 AQUARELA FILM MIDWEST LIZ’S WAIT A ESPERA DE LIZ Aquarela Midwest is an independent producer of Brazil and Venezuela | 2019 | 115 min | Drama exclusive content for film and television. -

Cinema Brasileiro Na Piazza Navona Entrada Gratuita
As décadas seguintes revelam-se a época de ouro do cinema brasileiro. Mesmo após o golpe militar de 1964, que instala o regime autoritário no Brasil, os realizadores do Cinema Novo e uma nova geração de cineastas – conhecida como o “údigrudi”, termo irônico derivado do “underground” norte-americano – continuam a fazer obras críti- cas da realidade, ainda que usando metáforas para burlar a censura dos governos mili- tares. Dessa época, destacam-se o próprio Gláuber Rocha, com “Terra em Tran- se” (1968), Rogério Sganzerla, diretor de “O Bandido da Luz Vermelha” (1968) e Júlio CINEMA BRASILEIRO Bressane, este dono de um estilo personalíssimo. Ao mesmo tempo, o público reen- contra-se com o cinema, com o sucesso das comédias leves conhecidas como NA PIAZZA NAVONA “pornochanchadas”. MOSTRA A fim de organizar o mercado cinematográfico e angariar simpatia para o regime, o “VIVA O CINEMA BRASILEIRO!” governo Geisel cria, em 1974, a estatal Embrafilme, que teria papel preponderante no cinema brasileiro até sua extinção em 1990. Dessa época datam alguns dos maiores sucessos de público e crítica da produção nacional, como “Dona Flor e Seus Dois Ma- ridos” (1976), de Bruno Barreto e “Pixote, a Lei do Mais Fraco” (1980), de Hector Ba- benco, levando milhões de brasileiros ao cinema com comédias leves ou filmes de te- mática política. O fim do regime militar e da censura, em 1985, aumenta a liberdade de expressão e indica novos caminhos para o cinema brasileiro. Essa perspectiva, no entanto, é interrompida com o fim da Embrafilme, em 1990. O governo Collor segue políticas neoliberais de extinção de empresas estatais e abre o mercado de forma descontrolada aos filmes estrangeiros, norte-americanos em quase sua totalidade.