João Garcia 14 Uma Vida Nos Tectos Do Mundo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Nepali Times Welcomes Feedback
#351 1 - 7 June 2007 16 pages Rs 30 “Maybe I will still find him,” Ram Krishni Chaudhary says, but from the Weekly Internet Poll # 351 tone of her voice one can tell she has very The number of Q. Should all sides cut their losses and let Melamchi die? little hope. It has been nearly four years since her Nepalis still listed Total votes: 2,810 25-year-old son, Bhaban, left for work in India. He was picked up by soldiers from as disappeared the Chisapani Barracks along with seven other young men and never seen again. during the war One of the seven was later released because he was related to a soldier. 937 Weekly Internet Poll # 352. To vote go to: www.nepalitimes.com According to his testimony, they were Q. How do you rate the performance of the interim government since it was made to lie down in the back of a installed two months ago? military truck underneath sacks on top of which the soldiers sat. They were severely tortured. Under pressure from the National Human Rights Commission, the army finally disclosed in 2004 that three of the detained had been killed in an “encounter”. The army said it didn’t know about the other three. “There is now an interim government, maybe someone will tell me where my son is,” Ram Krishni said recently in Nepalganj where she inaugurated the nepa-laya exhibition by unveiling her own portrait. One year after the ceasefire, Bhaban is among 937 people still officially listed as missing by the International Committee of the Red Cross. -

Pobierz A/Zero Nr 15
Wstąp do KW Warszawa Zapisz się przez internet www.kw.warszawa.pl 2(15)/2008 www.kw.warszawa.pl bezpłatny ISSN 1641-9359 Ksià˝ka wyjÊç Słowo Prezesa 2 Orzeł KW, konkursy, dofinansowanie 4 Kinga Baranowska dwa razy na ośmiu tysiącach 6 Zawieszeni w przestrzeni 10 Atak 12 Chan 16 Denali 2008, AP Expedition 2008 20 Kaukaz Centralny oczami świeżaka 23 Europejskie The Shield 26 Polowanie na dziewice 36 Z roku na rok coraz bliżej... 38 Wspinanie w Rodellar 40 Krótkie podsumowanie sezonu zimowego 2007/2008 46 Podsumowanie sezonu letniego 2008 54 Obóz zimowy KW Warszawa 2008 Dolina Mięguszowiecka 60 Obóz letni KW Warszawa Bergell 2008 64 Wypadek pod Cassinem – wyciągnijmy z niego lekcję! 67 Co dwa kible to nie jeden 68 Imprezy KW Warszawa 74 TOPO 78 Bronek 86 Pragmatycy i romantycy górscy 88 Pożegnania 91 Po-słowie po-prezesa 92 Info klubowe 94 A/Zero – Biuletyn Informacyjno-Propagandowy K.W. Warszawa Nr 2 (15)/2008 ISSN: 1641-9359 Wydawca: Klub Wysokogórski Warszawa Redakcja: Mariusz Wilanowski – oficjalnie Naczelny, ostania instancja i nadzieja białych. Nieoficjalnie nie wygląda to już tak różowo. Artur Paszczak – nieoficjalnie szara eminencja, to on pociąga za wszystkie sznurki. Daje i zabiera, kontroluje finanse. Klara Żerdzicka – Art & Dizajn Dajrektor. Joanna Cybulska, Marek Grądzki, Anna Niepytalska, Magdalena Nowak, Aleksandra Ogłoza, Justyna Osińska, Aleksandra Stańczak – młode wilczki redakcyjne, marzące o wygryzieniu ze stołków starszych stażem redakcyjnych kolegów. Maniacy korekty, kopalnia pomysłów, młodzieńczy entuzjazm, pierwsi pojawiają się na imprezach i ostatni wychodzą. Kontakt z Redakcją: [email protected], [email protected] Do powstania numeru przyczynili się: Michał Apollo, Kinga Baranowska, Grzegorz Borkowski, Iza Figiel, Grzegorz Głazek, Jan Gondowicz, Tadek Kieniewicz, Jacek Kierzkowski, Piotr Morawski, Marcin Miotk, Justyna Osińska, Marek Raganowicz, Zbyszek Skierski, Zsolt Rácz. -

Pakistan 2000
LINDSAY GRIFFIN Pakistan 2000 Thanks are due to Asem Mustafa Awan, BMC, Bernard Domenech, Xavier Eguskitza, DavidHamilton, Sean Isaac, WaIter Keller, Klettern, Yuri Koshelenko, Jamie McGuinness, MEp, Pakistan Ministry of Tourism, Emanuele Pellizzari, Simon Perritaz, Marko Prezelj, Alexander Ruchkin, Adam Thomas, UIAA Expeditions Commission, Dave Wilkinson and Simon Woodsfor help withproviding information. t was a mixed season on Pakistan's mountains, not least on the 8000m I peaks. While not a single climber reached the top of Gasherbrum I, a total of 25 summited K2 and were the fIrst to do so since July 1997. June's fine weather was rather too early for most expeditions to mount a summit bid, and by the next suitable period towards the end of July a signifIcant number of teams had already run out of time and left for home. Inevitably, there were several near misses but fortunately only one death. Sadly, this occurred to one of Spain's best-known mountaineers, Felix Iiiurrategi. The weather in the Karakoram was good throughout most of June and excellent in the latter part of the month. After this, however, the only clear weather window occurred briefly towards the end of July, with August generally bad owing to the influence of a heavy monsoon, and early September only marginally better. Access to Concordia for the 8000m peak base camps was easy early in the season owing to the low winter snowfall, but dry conditions on lower peaks and glaciers presented problems for numerous expeditions. The Baltoro SOOO-metre peaks Gasherbrum IT (803Sm) A total of 45 climbers representing 10 expeditions reached the 8035m summit of Gasherbrum IT, all between 20 and 30 July. -

Aktywność Ruchowa Na Obszarach Górskich Polski I Świata
STUDIA I MONOGRAFIE AKademiI WYCHowania FIZYCZnego we WroCławiu NR 118 AKTYWNOść RUCHOWA NA OBSZARACH GÓRSKICH POLSKi i śWIATA redaKCJA nauKowa Piotr Zarzycki Jacek Grobelny WROCław 2013 KOMITET WYDAWNICZY Ryszard Bartoszewicz Bogusława Idzik (sekretarz) Lesław Kulmatycki Andrzej Pawłucki Kazimierz Perechuda Andrzej Rokita Krystyna Rożek-Piechura (przewodnicząca) Alicja Rutkowska-Kucharska Anna Skrzek Marek Woźniewski RECENZENCI PROJEKT OKŁADKI Jolanta Mogiła-Lisowska Agnieszka Nyklasz Piotr Oleśniewicz redaKtor teCHniCZNY REDAKCJA I KoreKta Beata Irzykowska Mariola Langowska-Bałys Justyna Murdza redaKtor PROWADZĄCY Małgorzata Wieczorek Bogusława Idzik Joanna Pogroszewska (ang.) Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Dotyczy: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław. Dotacja została przeznaczona na realizację zadania publicznego pt. „Aktywność ruchowa na obszarach górskich Polski i świata”. Środki finansowe dotacji wynoszą 7500 zł. Egzemplarze bezpłatne. © Copyright by Wydawnictwo AWF Wrocław, 2013 ISSN 0239-6009 ISBN 978-83-89156-42-6 Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 51-617 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 www.awf.wroc.pl/wydawnictwo Wydanie I Certyfikat jakości na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009 Książka, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w inter- necie. Jeśli cytujesz -

CAI NOV DIC 07 5-11-2007 15:49 Pagina A1
CAI NOV DIC 07 5-11-2007 15:49 Pagina a1 NOVEMBRE DICEMBRE 2007 st. – 45% art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Milano. Alpinismo invernale Pareti Nord: Adamello e Eiger Sciescursionismo Lesachtal Escursionismo Orobie d’inverno Novembre Dicembre 2007 Supplemento bimestrale a la “Rivista del a la 2007 Supplemento bimestrale Dicembre Novembre Alpino Italiano - Lo Scarpone” Club Po 12/2007 - Sped. in abb. N. CAI NOV DIC 07 5-11-2007 15:49 Pagina a2 Addio alle vesciche! Modello Eagle GTX www.salewa.com * ADDIO ALLE VESCICHE! – a condizione che le scarpe siano della giusta taglia, correttamente allacciate Tel.: 0471/242600 ed utilizzate con calzini tecnici nella pratica dello sport per il quale sono state ideate. CAI NOV DIC 07 6-11-2007 8:55 Pagina 1 Non passa giorno ormai da anni che la grande stampa internazionale - finalmente, aggiungiamo noi - non si occupi di cambiamenti climatici, idroeconomia, energia sostenibile, mobilità di qualità. Non sempre, va detto, lo si fa a proposito e con competenza scientifica, ma in ogni caso è chiaro a tutti quanto questi siano tra i grandi problemi epocali con cui dovranno confrontarsi fino in fondo l’attuale ed anche le prossime generazioni. Non vi è dubbio poi che la montagna nel suo di Pier Giorgio complesso, le Alpi in particolare, rappresentino un ambito di studio e Oliveti sperimentazione del tutto specifico. Qui, proprio per la delicatezza degli ecosistemi e per la diversità degli equilibri non solo ambientali ma anche sociali ed economici, risultano più visibili che altrove il rischio di crisi ambientale, la soluzione di continuità rispetto ad equilibri consolidati, la difficoltà di ricercare soluzioni di sistema. -

Everest Also Called Mt
MOUNTAINEERING IN NEPAL FACTS AND FIGURES Government of Nepal Ministry of Culture,Tourism & Civil Aviation Department of Tourism Kathmandu March, 2017 Gofob"t – c° @!! 1 Published Date : March, 2017 Number of Copies : 500 Copyright @ : Department of Tourism Published by : Ministry of Culture, Tourism & Civil Aviation Department of Tourism Bhrikutimandap, Kathmandu Tel : 977-1-4256231, 4247037 Fax : 977-1-4227281 Website: www.tourismdepartment.gov.np Email : [email protected] 2 Gofob"t – c° @!! Chief Editor Mr. Dinesh Bhattarai Director General Editor Team Mr. Durga Datta Dhakal, Director Mr. Sabin Raj Dhakal, Director Mr. Laxman Sharma, Director Mr. Krishna Lamsal, Director Mr. Bishnu Prasad Regmi, Director Mr. Rishi Ram Bhattarai, Section Officer Mr. Rajendra Kumar Shrestha, Account Officer Ms. Rama Bhandari Gautam, Statistical Officer Supporting Team Mr. Santosh Moktan, Computer Officer Mr. Khem Raj Aryal, Nayeb Subba Mr. Tilakram Pandey, Accountant Gofob"t – c° @!! 3 4 Gofob"t – c° @!! Message Nepal is culturally rich country with variety of world-class and nature-based destination. Nepal is ideal destination for revelling untouched, undiscovered land and uncovering yourself. With most of the mighty peaks and mountains lying in Nepal, It is dreamland for mountaineers and trekkers. Mt. Everest also called Mt. Sagarmatha or Mt. Chomolungma is the highest mountain in the world with 8,848m height lies in nepal along with 7 other peaks ranging above 8,000m. In 1949, Nepal's peaks / mountains were opened for climbing. Since then, mountaineering has been the major tourism activity and considered as prolific sector in terms of revenue generation of the country. So, The Government of Nepal has opened 414 peak for mountaineering activities by adding 104 peaks in 2014. -

Bestiegen Oder Bez Wungen?
DAV Panorama 4/2010 an hatte es erwartet, dass die erste Frau endlich die große Sammlung aller 14 Achttau- Msender vollenden würde. Und es hät- te schön sein können: Das Kopf- an-Kopf-Rennen, das von manchen Medien zum „Wettlauf“ hochstilisiert wurde, trugen drei Frauen fair und partnerschaftlich aus. Manchmal stie- gen sie gemeinsam auf und standen sogar zusammen auf Gipfeln, die Ita- lienerin Nives Meroi (48), Gerlinde Kaltenbrunner (A, 39) und Edurne Pasaban (36) aus Spanien. Doch die Art, wie die geschichtsträchtige Leis- tung nun erledigt wurde, hinterlässt einen schalen Nachgeschmack: wie wenn die drei führenden Marathon- läuferinnen auf den letzten Metern von einem knatternden Mofa über- holt würden. Am 27. April bestieg die Südkorea- nerin Oh Eun Sun (44) die Annapurna (8091 m) in Nepal, den letzten ihrer 14 Achttausender, und krönte damit ei- nen fulminanten Endspurt: 2008 hat- te sie drei Gipfel „abgehakt“, die hohen und schweren Makalu und Lhotse und Die 14-Achttausender-Frauen den anspruchsvollen Manaslu. 2009 bestieg die bergbegeisterte Junggesel- lin, die 2004 als beste Alpinistin der Bestiegen oder bez wungen? „Korean Student Alpine Federation“ ausgezeichnet wurde, gar vier Riesen- gipfel: nach dem hohen und schweren Es ist vollbracht! Die ersten beiden Kangchendzönga noch Dhaulagiri, Frauen standen in diesem Früh- Oh Eun Sun: die Erste, Nanga Parbat und Gasherbrum I. Eine aber mindestens zweimal gewiss nicht alltägliche Leistung. jahr auf allen 14 Achttausendern. mit Sauerstoff Doch ihre Methoden provozieren Leistungen und Maßstäbe Diskussionen um zeitgemäßen Stil Legt man allerdings die Maßstä- und den Wert sportlicher Leistung be an, die für Profialpinismus auf höchstem Niveau gelten, also auch an den höchsten Bergen der Welt. -

M a G a Z I N E Dicembre 2008 Gennaio 2009
56 DICEMBRE 2008 M AG AZINE GENNAIO 2009 Le cose migliori si ottengono solo con il massimo della passione (Goethe) Da vent’anni è la nostra missione. Nel 1989 abbiamo dato vita mano» nel pieno rispetto dei termini concordati. I nostri prodotti ad una piccola impresa coniugando tradizione, ricerca e tecnolo- sono studiati in modo personalizzato in base alle differenti esi- gia. Oggi come allora, con passione immutata, mettiamo il nostro genze del cliente, e realizzati con tecnologie all’avanguardia e lavoro al servizio del cliente, impegnandoci a fornire i migliori l’ausilio di personale specializzato. Un successo testimoniato da risultati. referenze prestigiose. L’esperienza maturata nel corso degli anni, la costanza e i tra- Non importa dove si trovi il Vostro hotel, grande o piccolo che sia. guardi raggiunti hanno consentito a Concreta un rapido sviluppo Concreta è pronta ad accettare ogni sfi da, dalla semplice ristrut- nel settore del general contract, fi no a diventare un’azienda lead- turazione a progetti più articolati, sempre creando per i Vostri zione che garantiscono coordinazione veloce tra i reparti, ma non per LA NOSTRA AZIENDA er in campo nazionale e internazionale. interni una perfetta sintesi di forma, ergonomia e funzionalità. Fondata nel 1989, Concreta conta circa 70 persone, tra dipendenti e questo dimentichiamo le nostre radici. Titolari e collaboratori, molti Attenzione al dettaglio e globalità nell’approccio sono i nostri Pensate all’arredo che avete sempre sognato. Trasformarlo in collaboratori. Uffi ci, studi di progettazione, spazi espositivi e maga- dei quali presenti in azienda fi n dalla fondazione, sono presenti con zzini sono ospitati in una struttura di 5.000 metri quadrati, mentre il continuità con lo spirito che li anima da vent’anni. -

Pakistan 2004
LINDSAY GRIFFIN Pakistan 2004 Thanks are due to Desnivel, Doug Chabot, Kelly Cordes, Dario Crosato, Xavier Eguskitza, Chris Geisler, Jeff Hollenbaugh, Steve House, Lev 10ffi, Tomaz Jakofcic, Matic Jost, Jan Kreisinger, Nikolas Kroupis, VIado Linek, Luca Maspes, Michael 'Much'Mayr, Tom Nakamura and the Japanese Alpine News, Anna Piunova and the Russian Extreme Project, Marko PrezeIj, Jens Richter, Nazir Sabir, Vasek Satava, Silvestro Stucchi, Markus WaIter and Simon Yates. ith Pakistan now in full swing after a couple of lean years following W the terrorist activities of 2001, around 57 different expeditions took up permits to climb peaks above 6500m. Eleven of these had more than one goal, in some cases permits for three different peaks. Of these 57, only nine were attempting mountains other than the five 8000m peaks, Spantik and Diran. Most of the remaining 48 were commercially organised groups to well-trodden standard routes. In terms of any evolution in moun taineering, only three of the 57 produced successes of note; on K2, Gasherbrum Ill, K7, Nanga Parbat and Kapura. However, on peaks below 6500m, which currently do not require a peak royalty, there was much significant activity. In 2003 and 2004 the Ministry dropped all peak fees by 50% to encourage more mountain tourism to the country. This has been extended tb 2005 and there is both internal and external pressure on the government to abolish royalty fees for all peaks below 7000m (ie raising the height from 6500m). It is estimated that over 6000 climbers and trekkers visited Pakistan's mountains during 2004. HUSHE REGION Charakusa Valley K7 In what was arguably the most significant ascent in Pakistan during 2004, American Steve House soloed a new route on the huge SW face of 6973m K7. -
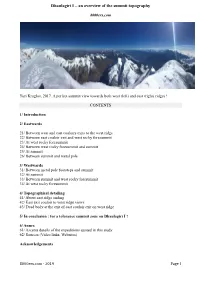
Dhaulagiri I – an Overview of the Summit Topography
Dhaulagiri I – an overview of the summit topography 8000ers.com Yuri Kruglov, 2017. A perfect summit view towards both west (left) and east (right) ridges ! CONTENTS 1/ Introduction 2/ Eastwards 21/ Between west and east couloirs exits to the west ridge 22/ Between east couloir exit and west rocky foresummit 23/ At west rocky foresummit 24/ Between west rocky foresummit and summit 25/ At summit 26/ Between summit and metal pole 3/ Westwards 31/ Between metal pole footsteps and summit 32/ At summit 33/ Between summit and west rocky foresummit 34/ At west rocky foresummit 4/ Topographical detailing 41/ About east ridge ending 42/ East exit couloir to west ridge views 43/ Dead body at the exit of east couloir exit on west ridge 5/ In conclusion : for a tolerance summit zone on Dhaulagiri I ? 6/ Annex 61/ Ascents details of the expeditions quoted in this study 62/ Sources (Video links, Websites) Acknowledgements 8000ers.com - 2019 Page 1 1/ Introduction Dhaulagiri I (8167m) is the seventh highest mountain in the world. To Autumn 2017 it had been climbed 544 times (12 disputed and 10 death included ; 6 unrecognized not counted) as follows : 368 times in spring 3 times in summer 162 times in autumn 11 times in winter It's been climbed : 495 times by the northeast ridge (same as normal route) 13 times by the west face 10 times by the north face 9 times by the east face 8 times by the southwest ridge 6 times by the southeast ridge 3 times by the southwest pilar Never by the south face ! (Source : Himalayan Database) As an echo to its close neighbour Annapurna I, from which it is separated only by the deepest gorges on the planet (Kali Gandaki), Dhaulagiri I shows a similar, despite in a less manner, long and not steep summit ridge (longitudinally speaking), lying in an east-west orientation. -

Name Date Tenzing Norgay Sherpa 5/29/1953 South Col Edmund
Name Date Tenzing Norgay Sherpa 5/29/1953 South Col Edmund Hillary 5/29/1953 South Col Ernst Schmied 5/23/1956 South Col Juerge Marmet 5/23/1956 South Col Adolf Reist 5/24/1956 South Col Hansrudolfvon 5/24/1956 South Col Wang Fu-Chou 5/25/1960 North Col Gonpa 5/25/1960 North Col Chu Ying-Hua 5/25/1960 North Col Jim Whittaker 5/1/1963 South Col Nawang Gombu Sherpa 5/1/1963 South Col Barry Bishop 5/22/1963 South Col Luther Jerstad 5/22/1963 South Col Williunsoeld 5/22/1963 South Col Thomas F. Hombein 5/22/1963 South Col A. S. Cheema 5/20/1963 South Col Nawang Gombu Sherpa 5/20/1963 South Col Sonam Gyatso Sherpa 5/22/1965 South Col Sonam Wangyal Sherpa 5/22/1965 South Col C. P. Johra 5/24/1965 South Col Ang Kami Sherpa 5/24/1965 South Col H.P.S. Ahluwali 5/29/1965 South Col H.C.S. Rawat 5/29/1965 South Col Phu Dorjee Sherpa 5/29/1965 South Col Naomi Uemora 5/11/1965 South Col Teruo Matsuurn 5/11/1965 South Col Katsutoshi Hirabayshi 5/12/1970 South Col Chotare Sherpa 5/12/1970 South Col Ranaldo Careel 5/5/1973 South Col Miko Minunzzo 5/5/1973 South Col Lhakpa T. Sherpa 5/5/1973 South Col Shambu Tamang 5/5/1973 South Col Farrizion Innamorate 5/7/1973 South Col Virginio Epis 5/7/1973 South Col Chaudio Benedetti 5/7/1973 South Col Sonam G. -

«Latzak Pasatu Genituen K-2N, Baina Han Ez Zara Arriskuaz Konturatzen»
ALEGIA Haur dantzarien topaketa Dantzarien Biltzarrak eta leitzaldeko hitza antolatu zuen atzo 7 tolosaldeko Harpidedunei banatuaIgandea2005-06-12III. urtea632. zenbakiawww.tolosaldekohitza.info EDURNE PASABANMENDIZALEA IÑIGO TERRADILLOS «Latzak pasatu genituen K-2n, baina han ez zara arriskuaz konturatzen» ZORTZIMILAKOAKBi OPORRAKBizikletaz, gailurren bila abiatu da: Mongoliatik Pekinera Nanga Parbat (8.125 m.) joango da bi saiakera eta Broad Peak (8.047m.) berri horien ostean4-5 Garai bateko autoen eta motoen xarma berezia TOLOSAKarts-ak eta motoak aritu ziren atzo Tolosako kaleetan; gaur amaituko da ibilgailuen eta produktuen erakusketa6 Saldías Miguel HITZAren egoitzan aritu zen Edurne Pasaban mendizale tolosarra erronka berriei buruz hizketan. LEIRE MONTES tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 2 IGANDEA, 2005ko ekainaren 12a TOLOSALDEA ETA LEITZALDEA UZTURRETIKAGUSTIN AMIANO GURRUTXAGA TOLOSALDEKOHITZA. INFO Hazi ugari erein da Zer iruditzen zaizu lantokietan duen sosegua adierazten du gurasoak. teko du hutsunea, halere. Lasai lokartuko erretzea Goizez bere seme-alabak halako kirolde- da, lanak ondo burututakoaren ziurtasu- debekatzea? gira eraman eta kirolean ikusi izanaren sa- nean. Gauak ere patxadaz hartuko du bere tisfazioa du. Edota kuluxka baten ondoren tokia, ilargia zaindari ona denaren aburuz. mugitu bitarteko unea baizik ez da. Arnas- Beti. Umea edo gaztetxoa irtengo da ga- Erretzaileontzat mesede! ketak hor dirau,ez da eten,baina ez da goi- raile, bere gorputza zaindu eta indartuko Egia esan osasunean iraba- oizez. Egunsentiak duen freskura, zean bezala nabarmentzen. Bazkalosteko du, irabazten eta galtzen ikasiko du, kirol ziko dugu eta baita lankidee- ume edo gaztetxoak duen poza zein itzalak ere hor dirau, ez da amildu, baina ezberdinak ikasiko ditu, kiroltasunez jo- tan ere, batzuei badakigu eta Gilusioaren pareko da.