A Coluna Prestes Em Discursos
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Flavio Da Rocha Benayon Revolução Em 1930: Sentidos
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM FLAVIO DA ROCHA BENAYON REVOLUÇÃO EM 1930: SENTIDOS EM DISPUTA NA CONSTITUIÇÃO DA HISTÓRIA CAMPINAS, 2017 FLAVIO DA ROCHA BENAYON REVOLUÇÃO EM 1930: SENTIDOS EM DISPUTA NA CONSTITUIÇÃO DA HISTÓRIA Dissertação de mestrado apresentada ao Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas para obtenção do título de Mestre em Linguística. Orientadora: Profa. Dra. Suzy Maria Lagazzi Este exemplar corresponde à versão final da Dissertação defendida pelo aluno Flavio da Rocha Benayon e orientada pela Profa. Dra. Suzy Maria Lagazzi. CAMPINAS, 2017 Agência(s) de fomento e nº(s) de processo(s): CAPES ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7965-4239 Ficha catalográfica Universidade Estadual de Campinas Biblioteca do Instituto de Estudos da Linguagem Crisllene Queiroz Custódio - CRB 8/8624 Benayon, Flavio da Rocha, 1992- B431r BenRevolução em 1930 : sentidos em disputa na constituição da história / Flavio da Rocha Benayon. – Campinas, SP : [s.n.], 2017. BenOrientador: Suzy Maria Lagazzi. BenDissertação (mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudos da Linguagem. Ben1. Análise do discurso. 2. Movimentos sociais - Brasil - 1920-1930. 3. Designação (Lingüística). 4. Memória coletiva - Brasil. 5. Brasil - História - Tenentismo - 1922-1934. 6. Brasil - História - Revolução, 1930. 7. Brasil - História - Aliança liberal - 1930. I. Lagazzi, Suzy,1960-. II. Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Estudos da Linguagem. III. Título. Informações para -

Coluna Prestes Coluna Prestes
COLUNA PRESTES 90 ANOS 1924 - 2014 DEPUTADO ESTADUAL RAUL CARRION (PCdoB) "Luiz Carlos Prestes entrou vivo no Panteon da História. Os séculos cantarão a 'canção de gesta’ dos mil e quinhentos homens da Coluna Prestes e sua marcha de quase três anos através do Brasil. Um Carlos Prestes nos é sagrado. Ele pertence a toda a humanidade. Quem o atinge, atinge-a.“ (Romain Roland, 1936) PUBLICAÇÃO DO GABINETE DO DEPUTADO RAUL CARRION Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul Coordenador da Bancada: Roberto Sum Chefe de Gabinete: Angelo Zeni Texto e pesquisa histórica: Raul Carrion Fone: 3210-2164 www.raulcarrion.com.br [email protected] "Nessas terras do sul ele nasceu, amiga. (...) Nessas terras deixaram a marca dos seus passos a brasileira Anita Garibaldi e o italiano Giuseppe Garibaldi. (...) Houve uma revolução, ela se chamava de "Farrapos". Houve uma República nessas terras, quando ainda as forças reacionárias do Império eram donas do país. Luta de anos, os gaúchos dando sua vida pela liberdade. (...) Os gaúchos seguiram sempre essa palavra quando a pronunciaram homens corajosos. (...) os homens se transformaram em revolucionários, os cavalos cortando a noite do pampa (...) como um rio, corre por estas terras o sangue dos que morreram na luta pela liberdade. Nessas terras do sul, amiga, nasceu LUIZ CARLOS PRESTES.“ Jorge Amado - "O Cavaleiro da Esperança" 1 Apresentação Raul Carrion é deputado estadual e Líder do PCdoB na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, historiador graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduado pela FA PA ( F a c u l d a d e s P o r t o - Alegrenses). -

A Coluna Prestes E a Política Externa Brasileira Na Década De 1920 – As Relações Brasil-Argentina
A COLUNA PRESTES E A POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA NA DÉCADA DE 1920 – AS RELAÇÕES BRASIL-ARGENTINA MATEUS FERNANDEZ XAVIER Brasília Julho de 2011 Universidade de Brasília – UnB Instituto de Relações Internacionais Programa de pós-graduação em Relações Internacionais A COLUNA PRESTES E A POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA NA DÉCADA DE 1920 – AS RELAÇÕES BRASIL-ARGENTINA Dissertação apresentada ao programa de pós- graduação em Relações Internacionais como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Relações Internacionais. Orientador: Prof. Dr. Antônio Carlos Lessa MATEUS FERNANDEZ XAVIER Brasília Julho de 2011 2 TERMO DE APROVAÇÃO Universidade de Brasília – UnB Instituto de Relações Internacionais Programa de pós-graduação em Relações Internacionais A COLUNA PRESTES E A POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA NA DÉCADA DE 1920 – AS RELAÇÕES BRASIL-ARGENTINA MATEUS FERNANDEZ XAVIER Banca examinadora: __________________________________ Prof. Dr. Antônio Carlos Lessa (orientador) Instituto de Relações Internacionais – UnB __________________________________ Prof. Dra. Tânia Manzur (membro) Instituto de Relações Internacionais – UnB __________________________________ Prof. Dr. Virgílio Arraes (membro) Departamento de História – UnB Brasília, 15 de julho de 2011 3 (...) quanto ao Governo Argentino seria fácil um gesto de boa amizade, vedando terminantemente tudo isso, como de certo o faríamos, invertidos os papéis. Direito de refúgio levado esse grau de tolerância é antes um pleno consentimento à atividade revolucionária contra a paz constitucional do Brasil. (...) As amizades sinceras nas horas amargas é que se comprovam e se afirmam. Félix Pacheco, 19241. Solamente los idiotas están muy seguros de lo que dicen y de eso estoy completamente seguro. Rubén Aguirre no papel de Profesor Jirafales. 1Pacheco a Toledo, tel. nº 77, RJ, 20 nov., 1924, AHI, 208/03/01. -
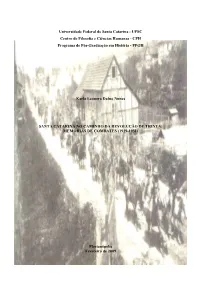
Universidade Federal De Santa Catarina - UFSC Centro De Filosofia E Ciências Humanas - CFH Programa De Pós-Graduação Em História - PPGH
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Centro de Filosofia e Ciências Humanas - CFH Programa de Pós-Graduação em História - PPGH Karla Leonora Dahse Nunes SANTA CATARINA NO CAMINHO DA REVOLUÇÃO DE TRINTA: MEMÓRIAS DE COMBATES (1929-1931) Florianópolis Fevereiro de 2009 Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Centro de Filosofia e Ciências Humanas - CFH Programa de Pós-Graduação em História - PPGH Karla Leonora Dahse Nunes SANTA CATARINA NO CAMINHO DA REVOLUÇÃO DE TRINTA: MEMÓRIAS DE COMBATES (1929-1931) Florianópolis Fevereiro de 2009 KARLA LEONORA DAHSE NUNES SANTA CATARINA NO CAMINHO DA REVOLUÇÃO DE TRINTA: MEMÓRIAS DE COMBATES (1929-1931) Tese de Doutoramento apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina. Orientadora: Profª. Dra. Cynthia Machado Campos Co-orientadora: Profª. Dra. Maria Teresa Santos Cunha Florianópolis Fevereiro de 2009 A César, Sofia e Laura. A minha Mãe e ao meu Pai (In memoriam). AGRADECIMENTOS Longe de casa, há muito mais do que uma semana, em uma das inúmeras viagens que realizei em função de meu trabalho, consumida pela saudade, pelo cansaço, mas ainda disposta a conversar, estava em uma roda com muitas outras pessoas, em final de aula ou no intervalo entre uma e outra (já não sei mais). O assunto que surgiu trazia à baila a questão dos filhos, dos amores distantes, dos afetos enfim. As pessoas começaram a abrir suas bolsas e, com as carteiras em punho (daquelas com compartimentos para fotos), exibiam fotos. Olhei todas... Imagens tão lindas. Distraída, só me dei conta que esperavam lhes mostrar minhas fotos quando perguntaram – Você não tem filhos, marido.. -

Universidade Federal De São Paulo Escola De Filosofia, Letras E Ciências Humanas Programa De Pós-Graduação Em História
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA MARIA CLARA SPADA DE CASTRO ALÉM DA MARCHA: A (RE) FORMAÇÃO DA COLUNA MIGUEL COSTA - PRESTES GUARULHOS 2016 MARIA CLARA SPADA DE CASTRO ALÉM DA MARCHA: A (RE)FORMAÇÃO DA COLUNA MIGUEL COSTA - PRESTES Dissertação de Mestrado apresentada à Banca Examinadora do Programa de Pós- Graduação em História da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo como exigência parcial para obtenção do título de Mestra em História. Área de Concentração: Instituições, Vida Material e Conflito Orientadora: Profa. Dra. Edilene Teresinha Toledo GUARULHOS 2016 CASTRO, Maria Clara Spada. Além da Marcha: a (re) formação da Coluna Miguel Costa - Prestes/ Maria Clara Spada de Castro. Guarulhos, 2016. 167 f. Dissertação de Mestrado em História – Universidade Federal de São Paulo, Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 2016. Orientação: Profa. Dra. Edilene Teresinha Toledo. 1. Primeira República. 2. Tenetismo. 3. Coluna Miguel Costa - Prestes. I. TOLEDO, Edilene Teresinha. II. Além da Marcha: a (re) formação da Coluna Miguel Costa - Prestes. Maria Clara Spada de Castro Além da Marcha: a (re) formação da Coluna Miguel Costa - Prestes Dissertação de Mestrado apresentada à Banca Examinadora do Programa de Pós- Graduação em História da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo como exigência parcial para obtenção do título de Mestra em História. Área de Concentração: Instituições, Vida Material e Conflito Aprovação: ____/____/________ Profa. Dra. Edilene Teresinha Toledo Universidade Federal de São Paulo Prof. Dr. -

Fuzilamentos E Cultura Histórica No Interior Do Maranhão (1921)
I UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA O LENINE MARANHENSE: FUZILAMENTOS E CULTURA HISTÓRICA NO INTERIOR DO MARANHÃO (1921) Giniomar Ferreira Almeida Orientador: Prof. Dr. José Jonas Duarte da Costa Linha de Pesquisa: História Regional JOÃO PESSOA – PB JULHO - 2010 II O LENINE MARANHENSE: FUZILAMENTOS E CULTURA HISTÓRICA NO INTERIOR DO MARANHÃO (1921) Giniomar Ferreira Almeida Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História do Centro de Ciência Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, em cumprimento às exigências para obtenção do título de Mestre em História, Área de Concentração em História e Cultura Histórica. Orientador: Prof. Dr. José Jonas Duarte da Costa Linha de Pesquisa: História Regional JOÃO PESSOA - PB 2010 III A447l Almeida, Giniomar Ferreira. O Lenine Maranhense: fuzilamentos e cultura histórica no interior do Maranhão(1921) / Giniomar Ferreira Almeida. - - João Pessoa: [s.n.], 2010. 113f. Orientador: José Jonas Duarte da Costa. Dissertação (Mestrado) – UFPB/CCHLA. 1.História regional. 2.Memória. 3.Cultura histórica 4. História oral. 5.Socialismo. UFPB/BC CDU: 981.422(043) IV O LENINE MARANHENSE: FUZILAMENTOS E CULTURA HISTÓRICA NO INTERIOR DO MARANHÃO (1921) Giniomar Ferreira Almeida Dissertação de Mestrado avaliada em 16 / 07 / 2010 com conceito Aprovada BANCA EXAMINADORA ______________________________________________________ Prof. Dr. José Jonas Duarte da Costa Programa de Pós-Graduação em História – Universidade Federal da Paraíba Orientador ______________________________________________________ Prof. Dr. Luciano Mendonça de Lima Programa de Pós-Graduação em História – Universidade Federal de Campina Grande Examinador Externo ______________________________________________________ Prof. Dr. Paulo Giovani Antonino Nunes Programa de Pós-Graduação em História – Universidade Federal da Paraíba Examinador Interno ______________________________________________________ Prof. -

A Coluna Prestes: Uma Proposta De Trabalho
A Coluna Prestes: uma proposta de trabalho Anita Leocádia Prestes Pós-graduando em Hisótria Social — FFLCH/USP I. Introdução O fenômeno do Tenentismo, da mesma forma que o movimento de 30, ou a assim chamada Revolução de 30 — estes em geral entendidos como o principal desdobramento e a mais importante conseqüência daquele —, conta com uma vasta produção historiográfica. Contudo, o exame cuidado- so dessa historiografia levou-nos à constatação de um fato extremamente evidente: a ausência quase total de um acontecimento da envergadura da Coluna Prestes naquilo que nos acostumamos a considerar a História do Brasil. Assim, a principal obra sobre o assunto, o diário da Coluna, feito pelo seu secretário, o bacharel Lourenço Moreira Lima (1), durante anos a fio esteve esgotada e ficou praticamente desconhecida de várias gerações. Pu- blicado em 1928, este livro viu sua segunda edição apenas em 1945, só sendo reeditado recentemente, 34 anos mais tarde, em 1979. O livro de S. Dias Ferreira (com a colaboração de Sady Vale Machado), A Marcha da Couna Prestes, publicado em 1928 (2), e o terceiro voume de À Guisa de Depoimento Sobre a Revolução Brasileira de 1924, de Juarez Távora, que veio à luz também em 1928 (3) — obras importantes na historiografia da Coluna Prestes —, estão esgotados há muitos anos, sem nunca terem sido reeditados, permanecendo desconhecidos do grande público. É interessante observar ainda a ausência quase total de qualquer con- tribuição efetiva dos participantes da própria Coluna, em particular de seus comandantes, para o conhecimento e compreensão desa página de nossa — Moreira Lima, Lourenço. A Coluna Prestes (Marchas e Combates). -

A Coluna Prestes Vista Por O Paíz E O Correio Da Manhã (1924 - 1927)
Instituto de Ciências Humanas PPGHIS Programa de Pós-Graduação em História EDUARDO PEREZ TEIXEIRA A COLUNA PRESTES VISTA POR O PAÍZ E O CORREIO DA MANHÃ (1924 - 1927) BRASÍLIA 2018 Eduardo Perez Teixeira A COLUNA PRESTES VISTA POR OPAÍZ E O CORREIO DA MANHÃ (1924 - 1927) Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Brasília como pré- requisito para a obtenção de título de Mestre. Linha de Pesquisa: Política, Instituições e Relações de Poder. Orientador: Prof. Dr. Francisco Doratioto Brasília 2018 Eduardo Perez Teixeira A COLUNA PRESTES VISTA POR O PAÍZ E O CORREIO DA MANHÃ (1924 - 1927) Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em História da Universidade de Brasília como pré-requisito para a obtenção de título de Mestre. Linha de Pesquisa: Política, Instituições e Relações de Poder. Orientador: Prof. Dr. Francisco Doratioto Aprovado em: 28.02.2018 BANCA EXAMINADORA Prof. Dr. Francisco Doratioto Prof. Dr. Antônio José Barbosa Prof. Dra. Ione de Fátima Oliveira A todas e todos que deram muita força, qualquer que tenha sido, tudo foi importante: (“E aí, como está indo? É assim mesmo, continua! Boa!”) Como isso fez a diferença! Meus filhos: Luíza, Pedro e Guilherme. Por vocês meu horizonte sempre se amplia; Lola: silenciosa, mas fiel companheira das horas de escrita; Minha linda: desculpe o tempo roubado. Mas, como já previa uma velha, desbotada, mas atualíssima tatuagem, Angela pra sempre! AGRADECIMENTOS Ao professor e orientador Francisco Doratioto, que há dois anos demonstrou sincero -

As Influências Da Coluna Prestes Sobre a Política Externa Brasileira Da Década De 1920 Para a Argentina
Rev. Carta Inter., Belo Horizonte, v. 11, n. 1, 2016, p. 188-220 A Coluna Prestes e as relações Brasil-Argentina na década de 1920 Prestes Column and the Brazilian-Argentine relations in the 1920s DOI: 10.21530/ci.v11n1.2016.261 Mateus Fernandez Xavier1 Resumo O presente artigo tem como objetivo apontar as influências da Coluna Prestes sobre a política externa brasileira da década de 1920 para a Argentina. Por meio da análise do contexto político, social, econômico e internacional do país, foi possível compreender as condicionalidades impostas à atuação externa do Brasil. A apresentação da configuração do Exército Brasileiro e dos movimentos subversivos que tiveram origem no interior dessa instituição também forneceu elementos importantes para o estabelecimento da relação existente entre a Coluna Prestes e as medidas tomadas pelas chancelarias de Félix Pacheco e, em menor medida, de Otávio Mangabeira. Por meio da correlação de dados e informações levantados foi possível perceber como o Ministério das Relações Exteriores foi utilizado como instrumento de repressão a movimentos que contestaram a ordem oligárquica da República Velha. Palavras-chave: Coluna Prestes; política externa brasileira; movimentos revolucionários; repressão; Ministério das Relações Exteriores; Argentina. Abstract This article attempts to describe the influences that the ‘Coluna Prestes’ had on the Brazilian foreign policy for Argentina during the 1920 decade. Analyzing the political, social, economic and international context of that period, it was possible to understand which limits of 1 Doutorando em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, possui mestrado em Relações Internacionais pela mesma instituição, mestrado em Diplomacia pelo Instituto Rio Branco (2011). Diplomata de carreira, trabalha atualmente em Brasília. -

Blanchahr2020thebandeirant
Edinburgh Research Explorer The bandeirantes of freedom Citation for published version: Blanc, J 2021, 'The bandeirantes of freedom: The Prestes Column and the myth of Brazil's interior', Hispanic American Historical Review, vol. 101, no. 1, pp. 101-132. https://doi.org/10.1215/00182168- 8796484 Digital Object Identifier (DOI): 10.1215/00182168-8796484 Link: Link to publication record in Edinburgh Research Explorer Document Version: Peer reviewed version Published In: Hispanic American Historical Review Publisher Rights Statement: This is the accepted version of the following article: Jacob Blanc; The Bandeirantes of Freedom: The Prestes Column and the Myth of Brazil's Interior. Hispanic American Historical Review 1 February 2021; 101 (1): 101–132., which has been published in final form at: https://doi.org/10.1215/00182168-8796484 General rights Copyright for the publications made accessible via the Edinburgh Research Explorer is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy The University of Edinburgh has made every reasonable effort to ensure that Edinburgh Research Explorer content complies with UK legislation. If you believe that the public display of this file breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 08. Oct. 2021 The Bandeirantes of Freedom 1 The Bandeirantes of Freedom: The Prestes Column and the Myth of Brazil’s Interior Through a reinterpretation of the Prestes Column rebellion—one of the most mythologized events in modern Brazil—this article helps reimagine the interior of Brazil as both a place and an idea. -

Micrdrilms International 300 N
INFORMATION TO USERS This reproduction was made from a copy of a document sent to us for microfilming. While the most advanced technology has been used to photograph and reproduce this document, the quality of the reproduction is heavily dependent upon the quality of the material submitted. The following explanation of techniques is provided to help clarify markings or notations which may appear on this reproduction. 1. The sign or “target” for pages apparently lacking from the document photographed is “Missing Page(s)”. If it was possible to obtain the missing page(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. This may have necessitated cutting through an image and duplicating adjacent pages to assure complete continuity. 2. When an image on the film is obliterated with a round black mark, it is an indication of either blurred copy because of movement during exposure, duplicate copy, or copyrighted materials that should not have been filmed. For blurred pages, a good image of the page can be found in the adjacent frame. If copyrighted materials were deleted, a target note will appear listing the pages in the adjacent frame. 3. When a map, drawing or chart, etc., is part of the material being photographed, a definite method of “sectioning” the material has been followed. It is customary to begin filming at the upper left hand comer of a large sheet and to continue from left to right in equal sections with small overlaps. If necessary, sectioning is continued again—beginning below the first row and continuing on until complete. -

COLUNA PRESTES Movimento Revolucionário Também
COLUNA PRESTES Movimento revolucionário também chamado Coluna Miguel Costa-Prestes, que, sob a liderança dos “tenentes” Miguel Costa e Luís Carlos Prestes, empreendeu longa marcha por vários estados do país entre abril de 1925 e fevereiro de 1927. ANTECEDENTES O ano de 1922 foi marcado por alguns acontecimentos cujas consequências determinaram mudanças significativas na história política brasileira. As eleições para a sucessão do presidente da República, Epitácio Pessoa, marcadas para março, provocaram a abertura de uma crise política, na medida em que desencadearam uma acirrada disputa entre dois grupos e aguçaram as divergências internas das oligarquias. De um lado, colocou-se o candidato da situação, Artur Bernardes, presidente de Minas Gerais, que tinha o apoio de São Paulo. De outro, formou-se a Reação Republicana, que lançou a candidatura do fluminense Nilo Peçanha e foi integrada, além do estado do Rio de Janeiro, por Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco, estados não produtores de café. O episódio das “cartas falsas” publicadas pelo Correio da Manhã em 1921, insultuosas ao Exército e atribuídas a Bernardes, foi importante para incompatibilizar o candidato mineiro com as forças armadas. Após a vitória de Bernardes na eleição presidencial, abriu-se um período de contestação que culminou, em julho de 1922, com os levantes do forte de Copacabana, da Escola Militar de Realengo, de algumas guarnições de Niterói e de Mato Grosso. Foram os primeiros movimentos armados desencadeados pelos “tenentes”, nome com que ficaram conhecidos os oficiais revolucionários da época, nem todos verdadeiros tenentes, mas em sua grande maioria oficiais de baixa patente. Já no governo Bernardes (1922-1926), em 5 de julho de 1924, para comemorar os levantes de 1922, teve início em São Paulo nova revolta tenentista, que funcionou como foco irradiador de outros levantes: os de Mato Grosso (12/7/1924), de Sergipe (13/7/19024), do Amazonas (23/7/1924), do Pará (26/7/1924), e a revolução do Rio Grande do Sul (29/10/1924).