CAJETANO VERA .Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Indigenous Peoples and Development Projects in Brazilian Amazonia
SÉRIE ANTROPOLOGIA 364 THE CHALLENGES OF INTERCULTURALITY: Indigenous Peoples and Sustainable Development Subprojects in Brazilian Amazonia Paul E. Little Brasília 2004 2 THE CHALLENGES OF INTERCULTURALITY: Indigenous Peoples and Sustainable Development Subprojects in Brazilian Amazonia Paul E. Little University of Brasilia Introduction The Pilot Program for the Protection of Brazilian Tropical Forests (hereafter “Pilot Program”) grew out of national and international concern over the accelerated destruction of the world’s tropical rain forests and currently represents the most ambitious ongoing effort in Brazil to protect its Amazon and Atlantic tropical forests. Based upon a proposal originally made by then German Chancellor Helmut Kohl at the 1990 Group of Seven Industrialized Countries1 (G-7) meeting in Houston, the Pilot Program began operation in 1995, after several years of intense negotiations and program design initiatives, with joint financing by the G-7 countries and the Brazilian government (see Fatheuer 1994). The PD/A (Demonstrative Projects Type A) Project, which will be analyzed here, promotes innovative development initiatives at the local level through the financing of small-scale sustainable development subprojects.2 The Project also seeks to disseminate those experiences that have proven to be successful, thereby providing a positive “demonstrative” effect for the implementation of environmentally sustainable production techniques. The PD/A Project is one of the few spaces within the entire Pilot Program that directly involves local civil society associations, organizations and cooperatives as an integral part of its programming. In its first nine years of operation, the PD/A Project financed a total of 194 sustainable development subprojects, of which 21 involved, directly or indirectly, Indigenous peoples: 16 in the Amazon region and 5 in the Atlantic forest region. -

REPORT Violence Against Indigenous Peoples in Brazil DATA for 2017
REPORT Violence against Indigenous REPORT Peoples in Brazil DATA FOR Violence against Indigenous Peoples in Brazil 2017 DATA FOR 2017 Violence against Indigenous REPORT Peoples in Brazil DATA FOR 2017 Violence against Indigenous REPORT Peoples in Brazil DATA FOR 2017 This publication was supported by Rosa Luxemburg Foundation with funds from the Federal Ministry for Economic and German Development Cooperation (BMZ) SUPPORT This report is published by the Indigenist Missionary Council (Conselho Indigenista Missionário - CIMI), an entity attached to the National Conference of Brazilian Bishops (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB) PRESIDENT Dom Roque Paloschi www.cimi.org.br REPORT Violence against Indigenous Peoples in Brazil – Data for 2017 ISSN 1984-7645 RESEARCH COORDINATOR Lúcia Helena Rangel RESEARCH AND DATA SURVEY CIMI Regional Offices and CIMI Documentation Center ORGANIZATION OF DATA TABLES Eduardo Holanda and Leda Bosi REVIEW OF DATA TABLES Lúcia Helena Rangel and Roberto Antonio Liebgott IMAGE SELECTION Aida Cruz EDITING Patrícia Bonilha LAYOUT Licurgo S. Botelho COVER PHOTO Akroá Gamella People Photo: Ana Mendes ENGLISH VERSION Hilda Lemos Master Language Traduções e Interpretação Ltda – ME This issue is dedicated to the memory of Brother Vicente Cañas, a Jesuit missionary, in the 30th year Railda Herrero/Cimi of his martyrdom. Kiwxi, as the Mỹky called him, devoted his life to indigenous peoples. And it was precisely for advocating their rights that he was murdered in April 1987, during the demarcation of the Enawenê Nawê people’s land. It took more than 20 years for those involved in his murder to be held accountable and convicted in February 2018. -
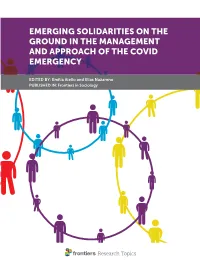
Emerging Solidarities on the Ground in the Management and Approach of the Covid Emergency
EMERGING SOLIDARITIES ON THE GROUND IN THE MANAGEMENT AND APPROACH OF THE COVID EMERGENCY EDITED BY : Emilia Aiello and Elias Nazareno PUBLISHED IN : Frontiers in Sociology Frontiers eBook Copyright Statement About Frontiers The copyright in the text of individual articles in this eBook is the Frontiers is more than just an open-access publisher of scholarly articles: it is a property of their respective authors or their respective institutions or pioneering approach to the world of academia, radically improving the way scholarly funders. The copyright in graphics research is managed. The grand vision of Frontiers is a world where all people have and images within each article may be subject to copyright of other an equal opportunity to seek, share and generate knowledge. Frontiers provides parties. In both cases this is subject immediate and permanent online open access to all its publications, but this alone to a license granted to Frontiers. is not enough to realize our grand goals. The compilation of articles constituting this eBook is the property of Frontiers. Frontiers Journal Series Each article within this eBook, and the eBook itself, are published under The Frontiers Journal Series is a multi-tier and interdisciplinary set of open-access, the most recent version of the Creative Commons CC-BY licence. online journals, promising a paradigm shift from the current review, selection and The version current at the date of dissemination processes in academic publishing. All Frontiers journals are driven publication of this eBook is CC-BY 4.0. If the CC-BY licence is by researchers for researchers; therefore, they constitute a service to the scholarly updated, the licence granted by community. -

Environmental Shielding Is Contrast Preservation
Phonology 35 (2018). Supplementary materials Environmental shielding is contrast preservation Juliet Stanton New York University Supplementary materials These supplementary materials contain four appendices and a bibli- ography: Appendix A: List of shielding languages 1 Appendix B: Additional information on shielding languages 4 Appendix C: List of non-shielding languages 37 Appendix D: Summary of vowel neutralisation survey 45 References 49 The materials are supplied in the form provided by the author. Appendices for “Environmental shielding is contrast preservation” Appendix A: list of shielding languages Key for appendices A-C Shaded = shielding occurs in this context Not shaded = shielding not known to occur in this context The language names provided in appendices A-C are those used by SAPhon. Evidence = type of evidence found for a vocalic nasality contrast, in addition to the author’s description. (MP = minimal or near-minimal pairs; NVNE: nasal vowels in non-nasal environments; –: no additional evidence available) Shielding contexts V-V?˜ (Evidence) Language Family Source Appendix B NV VN]σ V]σN Yes MP Ache´ Tup´ı Roessler (2008) #1, p. 4 Yes MP Aguaruna Jivaroan Overall (2007) #2, p. 4 Yes MP Amahuaca Panoan Osborn (1948) #3, p. 5 Yes MP Amarakaeri Harakmbet Tripp (1955) #4, p. 5 Yes MP Amundava Tup´ı Sampaio (1998) #5, p. 6 Yes MP Andoke (Isolate) Landaburu (2000a) #6, p. 6 Yes MP Apiaka´ Tup´ı Padua (2007) #7, p. 7 Yes MP Apinaye´ Macro-Ge Oliveira (2005) #8, p. 7 Yes – Arara´ do Mato Grosso Isolate da Rocha D’Angelis (2010) #9, p. 8 Yes MP Arikapu´ Macro-Ge Arikapu´ et al. -

Lin Guistica Le Ttica Linguistica
27 LINGUISTICA 26 LETTICA LINGUISTICA LETTICA LINGUISTICA 2018 2019 LINGUISTICA LETTICA LINGUISTICA LETTICA LATVIEŠU VALODAS INSTITŪTA ŽURNĀLS 2018 RĪGA 26 Dibinātājs / Founder LU Latviešu valodas institūts Iznāk kopš 1997. gada / Published since 1997 Atbildīgā redaktore / Editor-in-chief Ilga JANSONE Redakcijas kolēģija / Editorial Board Aleksejs ANDRONOVS (Krievija), Laimute BALODE (Latvija/Somija), Ina DRUVIETE (Latvija), Trevors FENNELS (Austrālija), Juris GRIGORJEVS (Latvija), Ilga JANSONE (Latvija), Daiva SINKEVIČŪTE-VILLANUEVA-SVENSONE (Lietuva), Anna STAFECKA (Latvija), Agris TIMUŠKA (Latvija), Lembits VABA (Igaunija), Bernhards VELHLI (Zviedrija), Andrejs VEISBERGS (Latvija) Mājaslapa / Website www.lulavi.lv/zurnals-linguistica-lettica Indeksācija / Indexing Index Copernicus, ERIH PLUS Literārie redaktori / Proof-readers Gunita ARNAVA, Kristīne MEŽAPUĶE, Dace STRELĒVICA-OŠIŅA, Jana TAPERTE, Andrejs VEISBERGS Maketētāja / Layout designer Gunita ARNAVA Redakcijas adrese / Address of Editorial Board Akadēmijas lauk. 1, 902./903. kab., Rīga, LV-1050 Tālr. / phone +371 67227696, e-pasts / e-mail: [email protected] ISSN 1407-1932 © LU Latviešu valodas institūts, 2018 Linguistica Lettica 2018 ● 26 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = SATURS / CONTENTS Oleg POLJAKOV. Polytonic Languages, Languages with Pitch and Syllabic Accents (Phonological Aspect) ........................... 7 Dzintra BOND, Linda SHOCKEY, Dace MARKUS. Quantity and Duration in Latvian -

How Global Corporations Enable Violations of Indigenous Peoples’ Rights in the Brazilian Amazon
Complicity IN Destruction III: HOW GLOBAL CORPORATIONS ENABLE VIOLATIONS OF INDIGENOUS PEOPLES’ RIGHTS IN THE BRAZILIAN AMAZON 1 Complicity IN SUMMARY Executive Summary .............................................................................. 04 Destruction III: Note from APIB .................................................................................... 06 Methodology ......................................................................................... 12 HOW GLOBAL CORPORATIONS ENABLE Commodity-driven Destruction .............................................................. 14 VIOLATIONS OF INDIGENOUS PEOPLES’ RIGHTS Financing Destruction: The Role of Banks, Investment Funds, IN THE BRAZILIAN AMAZON and Shareholders .................................................................................. 36 Recommendations ................................................................................. 46 Background ........................................................................................... 50 > The Amazon in Crisis and the Threats to Indigenous Rights ................ 52 CREDITS > Brazil’s Political and Economic Context .............................................. 70 Executive Coordinating Committee of the Association of Conclusion ............................................................................................. 74 Brazil’s Indigenous Peoples: Alberto Terena, Appendix ............................................................................................... 76 Chicão Terena, Dinaman Tuxá, -

Anais IV Norte-Nordeste 2012
Governo do Estado do Amazonas Omar Abdel Aziz | Governador José Melo de Oliveira | Vice-Governador Odenildo Teixeira Sena | Secretário de C&T Maria Olívia de Albuquerque Ribeiro Simão | Diretora-Presidenta FAPEAM Universidade do Estado do Amazonas José Aldemir de Oliveira | Reitor Marly Guimarães Fernandes Costa | Vice-Reitora Editora Universitária Otávio Rios Portela | Diretor Juliana Sá | Assessora Técnica Lorena Nobre Tomás | Chefe do Núcleo de Revisão Gilson Chaves | Revisor Paulo N. Leão | Designer Conselho Editorial Ademir Castro e Silva |Cristiane da Silveira Maria da Graças Vale Barbosa |Otávio Rios Portela (Presidente) Patrícia Melchionna Albuquerque | Sergio Duvoisin Junior Silvana Andrade Martins|Simone Cardoso Soares |Valmir César Pozzetti Revisão Técnica Veronica Prudente Revisão Final Gilson Chaves Todos os Direitos Reservados © Universidade do Estado do Amazonas. Permitida a reprodução parcial desde que citada a fonte. RIOS, Otávio & PRUDENTE, Veronica. Anais do IV Congresso Norte-Nordeste da ABRAPLIP. Manaus: UEA Edições; ABRAPLIP: Manaus, 2012. ISBN 978-85-7883-216-2 UEA Edições Av. Djalma Batista, 3578 - Flores | Manaus - AM - Brasil Cep 69050-010 | (92) 3878.4463 Otávio Rios & Veronica Prudente (Orgs.). Anais do IV Congresso Norte-Nordeste da Associação Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa (ABRAPLIP). Manaus: UEA Edições, 2012. ISBN: 978-85-7883-216-2 EXPEDIENTE DO IV CONGRESSO NORTE-NOR- COMISSÃO ORGANIZADORA DESTE DA ABRAPLIP Veronica Prudente (Presidente) Otávio Rios (Vice-Presidente) DIRETORIA DA ABRAPLIP -

Flutuantes”: Resistência, Terra Indígena Mura E Mineração De Potássio Em Autazes (Am)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS - ICHL PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIEDADE E CULTURA NA AMAZÔNIA – PPGSCA TERRITÓRIO DOS “FLUTUANTES”: RESISTÊNCIA, TERRA INDÍGENA MURA E MINERAÇÃO DE POTÁSSIO EM AUTAZES (AM) RENILDO VIANA AZEVEDO MANAUS, AM 2019 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS - ICHL PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIEDADE E CULTURA NA AMAZÔNIA – PPGSCA RENILDO VIANA AZEVEDO TERRITÓRIO DOS “FLUTUANTES”: RESISTÊNCIA, TERRA INDÍGENA MURA E MINERAÇÃO DE POTÁSSIO EM AUTAZES (AM) Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), como requisito para obtenção do título de Doutor em Sociedade e Cultura na Amazônia. Orientador: Prof. Dr. Alfredo Wagner Berno de Almeida MANAUS, AM 2019 RENILDO VIANA AZEVEDO TERRITÓRIO DOS “FLUTUANTES”: RESISTÊNCIA, TERRA INDÍGENA MURA E MINERAÇÃO DE POTÁSSIO EM AUTAZES (AM) Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), como requisito para obtenção do título de Doutor em Sociedade e Cultura na Amazônia. BANCA EXAMINADORA Prof. Dr: ALFREDO WAGNER BERNO DE ALMEIDA Profª Drª: MARILENE CORRÊA DA SILVA FREITAS Profª Drª: ANA CARLA DOS SANTOS BRUNO Prof. Dr: DAVI AVELINO LEAL Prof. Dr: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO Dedico à Jane, minha companheira de vida, e à Maria Luísa, razão de muitas alegrias. à minha mãe, meu pai , irmãos e irmãs e a todos(as) os(as) companheiros(as) de luta. AGRADECIMENTOS Este trabalho não ocorreria sem o apoio de muitas pessoas, a quem agradeço profundamente. Ao professor Alfredo Wagner Berno de Almeida, por ter aceitado ser meu orientador além de ter aberto a estrutura do Projeto da Nova Cartografia Social da Amazônia(PNCSA) para o desenvolvimento deste trabalho. -

“Aspectos Fónicos, Fonológicos Y Morfofonológicos Del Pãĩ Tavyterã
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA INDOAMERICANA “Aspectos fónicos, fonológicos y morfofonológicos del pãi ̃ tavyterã guaraní” PRESENTA CELESTE MARIANA ESCOBAR IMLACH TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAESTRA EN LINGÜÍSTICA INDOAMERICANA DIRECTOR DE TESIS DR. FRANCISCO ARELLANES ARELLANES CIUDAD MÉXICO. AGOSTO 2017 Petei ̃ ara chejaryi Mariana cheraha poso matape ha tesay ose ̃ hesagui heivo jave chéve: “Ndepa reikuaa mba’eichate ambyasyete ndaikatui haguere añe’e ̃ umi chetemiarirõ kuerandi oñe’eṽ a karai ñe’e ̃ añoitepe. Ha’ekuera peante oñe’ek̃ uaa ha che katu ava ñe’em̃ ente, ha upeare noroñoñe’ek̃ uaai.” Chejaryi, hiante chéve reiẽ ti ore apytepe ahenduvo añe’er̃ õ ava ñe’e ̃ ahahape ha avy’aterei avei hetaiterei mba’e aikuaa ndehegui reñemoñe’e ̃ haguere chéve akakuaa ahavo jave, che py’ategui aguyjeterei ndéve embohasa haguere nemba’ekuaa roiko jave oñondive yma. Rohenduiti avañe’e ̃ rupi ha rohayhu reimehape, netemiarirõ Mariana Un día mi abuela Mariana me llevó al lado del pozo y las lágrimas salían de sus ojos mientras me decía: “Sabes como me entristece el no poder hablar con mis nietos que sólo hablan castellano. Ellos sólo eso saben hablar en castellano y yo sólo sé hablar en guaraní, por eso mismo, no sabemos comunicarnos entre nosotros.” Abuela, a veces te siento entre nosotros cuando me escucho al hablar en guaraní adonde vaya y me alegra tanto que muchas enseñanzas he sabido de ti por medio de la lengua mientras iba creciendo, desde el fondo de mi alma gracias por legarme tu sabiduría durante el tiempo que convivimos juntas. -

Free, Prior and Informed Consent: Addressing Political Realities to Improve Impact
Columbia Law School Scholarship Archive Columbia Center on Sustainable Investment Staff Publications Columbia Center on Sustainable Investment 10-2020 Free, Prior and Informed Consent: Addressing Political Realities to Improve Impact Tehtena Mebratu-Tsegaye Columbia Law School, Columbia Center on Sustainable Investment, [email protected] Leila Kazemi Follow this and additional works at: https://scholarship.law.columbia.edu/ sustainable_investment_staffpubs Part of the Environmental Law Commons, Human Rights Law Commons, International Humanitarian Law Commons, International Law Commons, Land Use Law Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, and the Securities Law Commons Recommended Citation Tehtena Mebratu-Tsegaye & Leila Kazemi, Free, Prior and Informed Consent: Addressing Political Realities to Improve Impact, (2020). Available at: https://scholarship.law.columbia.edu/sustainable_investment_staffpubs/170 This Report/Policy Paper is brought to you for free and open access by the Columbia Center on Sustainable Investment at Scholarship Archive. It has been accepted for inclusion in Columbia Center on Sustainable Investment Staff Publications by an authorized administrator of Scholarship Archive. For more information, please contact [email protected]. PLUS Free, prior and informed consent: POLITICS Addressing political realities to improve impact October 2020 Acknowledgements This report was researched, written and produced with funding from the Ford Foundation. The views expressed do not necessarily represent the views of the Ford Foundation. We are extremely grateful to Paola Molano-Ayala (Colombia), Priscylla Joca (Brazil), and Roger Merino (Peru) who undertook country- specific research and analysis that is directly incorporated into this report. The authors are also grateful for the excellent research assistance of Aldo Defilippi, Alexander Rustler, Carlos Andrés Baquero Díaz, Lara Wallis, Lauren Gluzman, Rocio Peña Nahle, and Sam Szoke-Burke. -

Complicity in Destruction
Complicity in Destruction III: How global corporations are enabling violations of Indigenous peoples' rights in the Brazilian Amazon Co-authors: Association of Brazil’s Indigenous Peoples (APIB) and Amazon Watch Executive Summary 2 Mining 3 VALE 3 ANGLO AMERICAN 4 BELO SUN 4 POTÁSSIO DO BRASIL 4 Agribusiness 4 CARGILL 4 JBS 5 COSAN/ RAIZEN 5 Energy 5 ELETRONORTE (ELETROBRAS) 5 EQUATORIAL MARANHÃO 6 ENERGISA MATO GROSSO 6 BOM FUTURO ENERGIA 6 The Top Six Investors 7 BLACKROCK 8 CITIGROUP 8 JPMORGAN CHASE 8 VANGUARD 9 BANK OF AMERICA 9 DIMENSIONAL FUND ADVISORS (DFA) 9 Recommendations 10 For the companies operating in or with projects in Brazil 10 For importing companies 10 For financial Institutions 10 For governments and policymakers around the world 11 Background 11 Methodology 11 Note from APIB 13 1 Executive Summary This new edition of C omplicity in Destruction, published by the Association of Brazil’s Indigenous Peoples (APIB) in partnership with Amazon Watch, is based on research conducted by the investigative journalism outlet D e Olho Nos Ruralistas (Ruralista Watch - DONR) and the Dutch sustainability research consultancy, Profundo. It reveals how a network of leading international financial institutions is linked to conflicts on Indigenous lands, illegal deforestation, land grabbing, Amazon fires, the weakening of environmental protections, and the production and export of conflict commodities. APIB, Amazon Watch, and a coalition of Brazilian and international allies are calling on leading market actors to cease fueling the problem and use their influence to become part of the solution. By investigating actors involved in the invasion and deforestation of Indigenous Territories (TIs) – as well as other rights abuses since 2017 –DONR identified1 a set of Brazilian companies that was then cross-referenced by Profundo to identify international buyers and investors who enabled this behavior. -

2021 Daily Prayer Guide for All Latin America People Groups & LR
2021 Daily Prayer Guide for all Latin America People Groups & Least-Reached-Unreached People Groups (LR-UPGs) Source: Joshua Project data, www.joshuaproject.net AGWM ed. 2021 Daily Prayer Guide for all Latin America People Groups & LR-UPGs=Least-Reached--Unreached People Groups. All 49 Latin America countries & all People Groups & LR-UPG are included. LATIN AMERICA SUMMARY: 1,676 total People Groups; 114 total Least-Reached--Unreached People Groups. LR-UPG defin: less than 2% Evangelical & less than 5% total Christian Frontier (FR) definition: 0% to 0.1% Christian Why pray--God loves lost: world UPGs = 7,407; Frontier = 5,042. Downloaded September 2020 from www.joshuaproject.net Color code: green = begin new area; blue = begin new country * * * "Prayer is not the only thing we can can do, but it is the most important thing we can do!" * * * Let's dream God's dreams, and fulfill God's visions -- God dreams of all people groups knowing & loving Him! Revelation 7:9, "After this I looked and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people and language, Why Should We Pray For Unreached People Groups? * Missions & salvation of all people is God's plan, God's will, God's heart, God's dream, Gen. 3:15! * In the Great Commissions Jesus commands us to reach all peoples in the world, Matt. 28:19-20! * People without Jesus are eternally lost, & Jesus is the only One who can save them, John 14:6! * We have been given "the ministry & message of reconciliation", in Christ, 2 Cor.