De Roberto De Mesquita
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Poetry Part VI: Lei-Mon 2 Richardrichard C
special list 192 1 RICHARD C.RAMER Special List 192 Poetry Part VI: Lei-Mon 2 RICHARDrichard c. C.RAMER ramer Old and Rare Books 225 east 70th street . suite 12f . new york, n.y. 10021-5217 Email [email protected] . Website www.livroraro.com Telephones (212) 737 0222 and 737 0223 Fax (212) 288 4169 September 30, 2014 Special List 192 Poetry Part VI: Lei-Mon An asterisk (*) before an item number indicates that the item is in Lisbon. SATISFACTION GUARANTEED: All items are understood to be on approval, and may be returned within a reasonable time for any reason whatsoever. Visitors BY APPOINTMENT special list 192 3 Special List 192 Poetry Part VI: Lei-Mon *330. LEO XIII, Pope. Cancioneiro de Leão XIII ou os versos latinos e italianos de Sua Santidade, postos em rima portugueza e precedidos da sua biographia pelo P.e Joaquim José d’Abreu Campo Sancto. Porto: Manuel Mal- heiro, 1887. Folio (27.2 x 18 cm.), contemporary crimson morocco with design of gilt and blind on covers, spine gilt with raised bands in five compartments (two very slight defects), inner dentelles gilt, decorated endleaves, all edges gilt, paper ticket of “P. Ferreira // Encadernador // R.N. da Trindade // 126–128 / Lisboa” pasted onto upper outer corner of verso of front free endleaf. Title-page in red and black within lithograph border, lithograph initial, text within two lithograph bor- ders throughout, portrait. Overall in fine condition. portrait, [102 ll.]. $800.00 The biography of Pope Leo XIII, ocupying the initial 45 unnumbered leaves, appears to be original to this edition. -
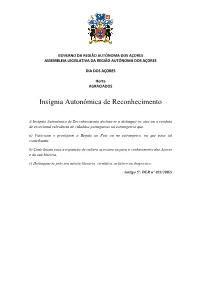
Insígnia Autonómica De Reconhecimento
GOVERNO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES DIA DOS AÇORES Horta AGRACIADOS Insígnia Autonómica de Reconhecimento A Insígnia Autonómica de Reconhecimento destina-se a distinguir os atos ou a conduta de excecional relevância de cidadãos portugueses ou estrangeiros que: a) Valorizem e prestigiem a Região no País ou no estrangeiro, ou que para tal contribuam; b) Contribuam para a expansão da cultura açoriana ou para o conhecimento dos Açores e da sua história; c) Distingam-se pelo seu mérito literário, científico, artístico ou desportivo. (artigo 5º, DLR nº 033/2002) ANÍBAL DUARTE RAPOSO Nasceu na freguesia de Relva, na ilha de São Miguel, a 5 de dezembro de 1954. Estudou no Liceu Nacional de Ponta Delgada, fez parte do Orfeão deste estabelecimento de ensino e ingressou, com outros jovens estudantes, no Coro da Igreja do Carmo, para quem compôs diversos temas religiosos que se distinguiram pela inovação em relação à música habitualmente cantada nessa época nos templos da ilha. Licenciou-se em Engenharia Mecânica na cidade do Porto, tendo à época feito parte da direção do TUP -Teatro Universitário do Porto e composto vários temas musicais para as peças levadas à cena por este grupo teatral. Fundou com outros colegas o Coro do TUP que percorreu todo o país dando espetáculos de música popular, tradicional e de intervenção. De regresso aos Açores, em 1978, fundou diversos grupos musicais com projeção local tais como os grupos “Construção”, “Rimanço” e “Albatroz”. Faz parte de uma geração de cantautores que nos últimos vinte e cinco anos tem renovado a música açoriana com temas e poesia originais os quais, bebendo fundo nas raízes do cancioneiro das ilhas, sofrem influências dos grandes compositores da música popular portuguesa, da MPB e da música clássica. -

Download Publication
AÇOREANA, 2015, 10(4): 719-728 NOTA DE INVESTIGAÇÃO NOTAS ACERCA DA MISSÃO ENTOMOLÓGICA DE L. CHOPARD E A. MEQUIGNON AOS AÇORES (1930), INCLUINDO UMA CARTA INÉDITA DE MÉQUIGNON AO DR. THOMAZ DE BORBA VIEIRA Virgílio Vieira Departamento de Biologia, Universidade dos Açores, Rua de S. Gonçalo, Apartado 1422, PT 9501-801 Ponta Delgada, Açores, Portugal CE3C - Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes, Departamento de Biologia, Universidade dos Açores, PT 9501-801 Ponta Delgada, Açores, Portugal. e-mail: [email protected] INTRODUÇÃO Eugène Simon, Jules de Guerné e Jules Richard (cf. Arruda, 1998; Tavares, 2009), O Grupo de Naturalistas dos Açores e alguns ilustres açorianos que Arruda história da entomofauna terrestre & Albergaria (2000) denominaram de Ados Açores, desde o seu povoamento «grupo de naturalistas de Ponta Delgada no século XV até ao século XIX, resume- da segunda metade do século XIX», se a referências e a descrições genéricas de nomeadamente: Carlos Machado, Arruda algumas espécies causadoras de estragos, Furtado, Tavares Carreiro, Eugénio Canto em particular nas culturas agrícolas e e Castro, Afonso Chaves, Jácome Correia, nos produtos armazenados (Serpa, 1920; António Borges e os irmãos José e Ernesto Frutuoso, 1963, 1981; Chagas, 1989; Vieira, do Canto. Complementarmente, na ilha 1999; Vieira & Constância, 2002). Terceira destacou-se o médico e naturalista O interesse pela História Natural dos José Sampaio (1827-1900), cujo gosto pelas Açores teve um incremento em meados ciências naturais foi continuado pelo seu do século XIX com as expedições de fi lho Alfredo Sampaio (1862-1918). naturalistas estrangeiros interessados, O gosto pelas Ciências da Natureza principalmente, no estudo da fauna, veio a refl etir-se quer na fundação, em da fl ora e da geologia. -

Special List 375: Fiction
special list 375 1 RICHARD C.RAMER Special List 375 Fiction 2 RICHARDrichard c. C.RAMER ramer Old and Rare Books 225 east 70th street . suite 12f . new york, n.y. 10021-5217 Email [email protected] . Website www.livroraro.com Telephones (212) 737 0222 and 737 0223 Fax (212) 288 4169 June 1, 2020 Special List 375 Fiction Items marked with an asterisk (*) will be shipped from Lisbon. SATISFACTION GUARANTEED: All items are understood to be on approval, and may be returned within a reasonable time for any reason whatsoever. VISITORS BY APPOINTMENT special list 375 3 Special List 375 Fiction With the Author’s Signed Presentation Inscription 1. ABELHO, [Joaquim] Azinhal. Arraianos. Histórias de contrabandistas & malteses. [Lisbon]: [Edição do Autor at Tipografia Ideal], 1955. 8°, original illustrated wrappers (minor wear). Light browning. In good to very good condition. Author’s signed two-line presentation inscription on the half-title to Henrique Avelar. 208 pp., (2 ll.). $75.00 FIRST and ONLY EDITION of one of the most important works by [Joaquim] Azinhal Abelho (Nossa Senhora da Orada, Borba, 1916-Lisbon, 1979). Abelho also wrote plays, some in the manner of Gil Vicente and others in the post-Romantic mode. For the Teatro d’Arte de Lisboa, which he founded in 1955 with Orlando Vitorino, he and Vitorino translated plays by Graham Greene, Lorca and Chekhov. ❊ On Abelho, see Dicionário cronológico de autores portugueses IV, 446-7; this is listed as one of his major works. See also João Bigotte Chorão in Biblos, I, 10. NUC: DLC, NN, CLU, MH. -

Anglo Saxonica III N. 3
REVISTA ANGLO SAXONICA SER. III N. 3 2012 A NNGLO SAXO ICA ANGLO SAXONICA SER. III N. 3 2012 DIRECÇÃO / GENERAL EDITORS Isabel Fernandes (ULICES) João Almeida Flor (ULICES) Mª Helena Paiva Correia (ULICES) COORDENAÇÃO / EXECUTIVE EDITOR Teresa Malafaia (ULICES) EDITOR ADJUNTO / ASSISTANT EDITOR Ana Raquel Lourenço Fernandes (ULICES) CO-EDITOR ADJUNTO / CO-EDITORIAL ASSISTANT Sara Paiva Henriques (ULICES) REVISÃO DE TEXTO / COPY EDITORS Inês Morais (ULICES) Madalena Palmeirim (ULICES) Ana Luísa Valdeira (ULICES) EDIÇÃO Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa DESIGN, PAGINAÇÃO E ARTE FINAL Inês Mateus IMPRESSÃO E ACABAMENTO Várzea da Rainha Impressores, S.A. - Óbidos, Portugal TIRAGEM 150 exemplares ISSN 0873-0628 DEPÓSITO LEGAL 86 102/95 PUBLICAÇÃO APOIADA PELA FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA New Directions in Translation Studies Special Issue of Anglo Saxonica 3.3 Guest Editors: Anthony Pym and Alexandra Assis Rosa Novos Rumos nos Estudos de Tradução Número Especial da Anglo Saxonica 3.3 Editores convidados: Anthony Pym e Alexandra Assis Rosa CONTENTS/ÍNDICE NEW DIRECTIONS IN TRANSLATION INTRODUCTION Anthony Pym and Alexandra Assis Rosa . 11 LITERARY TRANSLATION TRUSTING TRANSLATION João Ferreira Duarte . 17 ANTHOLOGIZING LATIN AMERICAN LITERATURE: SWEDISH TRANSLATIVE RE-IMAGININGS OF LATIN AMERICA 1954-1998 AND LINKS TO TRAVEL WRITING Cecilia Alvstad . 39 THE INTERSECTION OF TRANSLATION STUDIES AND ANTHOLOGY STUDIES Patricia Anne Odber de Baubeta . 69 JOSÉ PAULO PAES — A PIONEERING BRAZILIAN THEORETICIAN John Milton . 85 TRANSLATION AND LITERATURE AGAIN: RECENT APPROACHES TO AN OLD ISSUE Maria Eduarda Keating . 101 UNDER THE SIGN OF JANUS: REFLECTIONS ON AUTHORSHIP AS LIMINALITY IN . TRANSLATED LITERATURE Alexandra Lopes . 127 TRANSLATED AND NON-TRANSLATED SPANISH PICARESQUE NOVELS IN DEFENSE OF . -

Notas Da Biblioteca
1 de Ju lho de 2 019 Número 17 NOTAS DA BIBLIOTECA Biblioteca, Arquivo e Museu, Rua da Mãe de Deus, 9500-321 Ponta Delgada (Açores) http://biblioteca.uac.pt | [email protected] | 296650059 NESTE NÚMERO Exposições Temporárias Perfis de Autores Açorianos 2 Figura em Destaque 3 Mostras Bibliográficas Lançamantos | Livros 4 Leitura Sazonal Inverno 5 Comunidade de Leitores 6 Exposições Temporárias 7 A Biblioteca, Arquivo e Museu celebra, através de pequenas AMERICAN CORNER ATIVIDADES 8 exposições e mostra bibliográficas, efemérides e registos da Acesso Aberto 9 cultura açoriana. Aquisições Recentes – Monografias 10 Aquisições Recentes – Periódicos 33 Nos meses de abril a junho de 2019, estiveram expostos no hall da biblioteca: 25 de Abril de 2019 NOVIDADE História do chá em S. Miguel (século XIX) Autor: Mário Moura DL: 456988/19 Ano de edição: 2019 Editor: Câmara Municipal da RG Páginas: 586 Localização: SD 946.99 M888h Edição da Tese de Doutoramento O título original que dá origem a esta edição é “A introdução da cultura do Os Emigrantes Espírito Santo nos Açores chá na Ilha de S. Miguel no século XIX (subsídios históricos)”. Abril 2019 Maio 2019 Deixamos de fora as restantes oito Ilhas dos Açores porque, excetuando-se o caso da do Faial, nos finais do século XIX, a cultura e a produção do chá é um fenómeno da ilha de São Miguel. A História que propomos desta bebida estimulante não alcoólica, a segunda mais consumida no planeta, sendo a água a primeira, segue um percurso que começa no global e culmina no particular. Este trabalho articula-se em torno de dois eixos, à volta dos quais agem e interagem os demais temas: um institucional, centrado na acção da Sociedade Promotora da Agricultura Micaelense (SPAM), outro biográfico, centrado na figura de José do Canto. -

Instituto Cultural De Ponta Delgada
iNstituto cultural dE poNta dElgada por susaNa goulart costa * pEdro pascoal dE mElo ** miltoN vENtura fErrEira *** Fundado em 1943, o Instituto Cultural de Ponta Delgada nasceu com objectivos claros, que visavam suprir uma ausência cultural diagnosticada no então Distrito de Ponta Delgada. Tais propósitos são plasmados nos Estatutos da instituição, que assume como principal missão “promover o desenvolvi- mento de todas as actividades, estudos e trabalhos que, nos diversos ramos da especulação cultural, possam contribuir para a conservação e engrande- cimento do património espiritual açoriano e muito especialmente as ilhas de S. Miguel e Santa Maria”1. Estava, assim, definida a intenção do Instituto, não apenas numa perspetiva temática, mas também geográfica. Esta directriz permitiu articular este Insti- tuto com os seus congéneres açorianos (Instituto Histórico da Ilha Terceira, Núcleo Cultural da Horta e Instituto Açoriano de Cultura), facultando uma complementaridade que abonou em prol do saber regional. Na sua origem, o Instituto Cultural de Ponta Delgada foi suportado por 50 sócios, conjunto diverso de individualidades micaelenses, nos quais há a referir a presença de cinco mulheres, as senhoras D. Alice Moderno, D. Maria * Professora Auxiliar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade dos Açores. ** Licenciado em Estudos Portugueses e Ingleses pela Universidade dos Açores. *** Licenciado em Antropologia pela Universidade de Coimbra. 1 Henrique de Aguiar Oliveira Rodrigues, “Instituto Cultural de Ponta Delgada”, Boletim do Núcleo Cultural da Horta, n.º 14 (2005): 30. 216 Boletim do Núcleo Cultural da Horta das Mercês do Canto Cardoso, D. Maria Amélia Machado Mendonça Rebelo Arruda, D. Maria Luísa Soares de Albergaria Ataíde e D Maria Isabel da Câmara Quental. -

Mulheres E Feminismo No Portugal Moderno (1899-1913)
Mulheres e feminismo no Portugal Moderno (1899-1913) Eduardo da Cruz* Os portugueses foram o maior grupo imigrante no Brasil. Após a independência, levas cada vez maiores continuaram vindo para cá, apesar do novo estatuto com o qual eram recebidos por não sermos mais parte de Portugal. Aqui, eles criaram associações e uma imprensa periódica própria, voltada para sua colônia, que não cessava de aumentar. Em nossa pesquisa anterior (CRUZ, 2015), ao buscarmos os periódicos criados pela colônia lusa ao longo do século XIX, encontramos, a partir de catálogos do Real Gabinete Português de Leitura e da Biblioteca Nacional e anúncios veiculados na própria imprensa, a existência de 64 títulos publicados apenas na cidade do Rio de Janeiro. Muitos se perderam, a ponto de não ter sido possível encontrar exemplares desses jornais. A grande maioria teve curtíssima duração. Quanto à participação feminina, raramente aparece. Quando ocorre, são colaborações copiadas de Portugal, via de regra, o que justifica a presença pontual de nomes como Maria Peregrina de Sousa, Amélia Janny, Maria Amália Vaz de Carvalho e poucas outras. Isso é explicável em parte pela própria característica da imigração portuguesa ao longo do oitocentos, majoritariamente constituída por homens jovens destinados às casas comerciais, onde trabalhariam como caixeiros. Mesmo na virada para o século XX, quando há um aumento significativo da imigração feminina, principalmente casadas, as mulheres continuam a ser minoria (MENEZES 2007). Escritoras, praticamente nenhuma. Os periódicos dos imigrantes lusos tinham, em geral, uma proposta clara: além de lutar em defesa dos interesses de seus patrícios no Brasil, o conjunto de todo o conteúdo do jornal reconstitui de certo modo o imaginário nacionalista português na ex- colônia, tal como indica Benedict Anderson. -

Special List 361: Forty-Two Authors' First Books
special list 361 1 RICHARD C.RAMER Special List 361 Forty-Two Authors' First Books 2 RICHARDrichard c. C.RAMER ramer Old and Rare Books 225 east 70th street . suite 12f . new york, n.y. 10021-5217 Email [email protected] . Website www.livroraro.com Telephones (212) 737 0222 and 737 0223 Fax (212) 288 4169 January 21, 2020 Special List 361 Forty-Two Authors' First Books Items marked with an asterisk (*) will be shipped from Lisbon. SATISFACTION GUARANTEED: All items are understood to be on approval, and may be returned within a reasonable time for any reason whatsoever. VISITORS BY APPOINTMENT special list 361 3 Special List 361 Forty-Two Authors' First Books Author’s Signed and Dated Presentation Inscription in His First Book 1. ABEL [Martins das Neves], João. Bom dia, poemas. Luanda: pri- vately printed for the author by the NEA in November, 1971. 8°, original illustrated wrappers (foxed, with two small tears to front cover). Semi-abstract design on front cover repeated on title page. Small hole on first leaf, apparently from the removal of an adhesive label. Overall in very good condition. Author’s signed and dated (“Dez/71”) four-line presentation inscription on title page. (1 blank l., 60 pp., 1 l.). ISBN: none. $400.00 FIRST EDITION of the author’s first book. A second edition appeared in Luanda, 1988. Born in Luanda, 1938, Abel, a bank employee in Luanda during Portuguese rule, was responsible for translations of works by Engels and Lenin, as well as another book of poems, Nome de mulher, published in Luanda, 1973. -
Da Voz a Pluma Escritoras E
DA VOZ À PLUMA ESCRITORAS E PATRIMÓNIO DOCUMENTAL DE AUTORIA FEMININA DE MADEIRA, AÇORES, CANÁRIAS E CABO VERDE DO SÉCULO XVI ATÉ AO SÉCULO XX GUIA BIOBIBLIOGRÁFICO L. S. Ascensão de Macedo Copyright © 2013 L. S. Ascensão de Macedo Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial desta obra sem autorização expressa do autor. Ficha técnica Autor: L. S. Ascensão de Macedo Título: Da Voz à Pluma: Escritoras e património documental de autoria feminina de Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde: guia biobibliográfico Edição: L. S. Ascensão de Macedo Local de edição: Ribeira Brava Capa: The Letter, Alfred Stevens (fonte Wikimedia Commons) Ano: 2013 ISBN-13: 978-989-98465-4-8 1.ª ed., Ribeira Brava, agosto de 2013 Citação bibliográfica preferencial (ISO 906 = NP 405-2) MACEDO, L. S. Ascensão de – Da Voz à Pluma: Escritoras e património documental de autoria feminina de Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde: guia biobibliográfico [recurso eletrónico]. Ribeira Brava: L. S. Ascensão de Macedo, 2013, ISBN: 978-989-98465-4-8. Esta monografia encontra-se disponível em http://www.amazon.com/dp/B00ENPJS88 Caminho do Morgado ao Moreno, 20 | 9350-133 RIBEIRA BRAVA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | PORTUGAL [email protected] Índice Prefácio ......................................................................................................................................................... 6 Referências bibliográficas .......................................................................................................................... -
Portuguese-North American Writing
PORTUGUESE-NORTH AMERICAN WRITING INTERVIEWS, ESSAYS AND ARTICLES Conversations with Portuguese-North American Writers Darrell Kastin: Q & A with a Luso-American Author By Tamara Kaye Sellman INTRODUCTION I met Darrell Kastin in a previous editorial relationship—I was putting together the “Voyage to the Village” edition of Margin in 2006 and published his story, “Constanca’s War with the Elements,” which is about a woman who sleeps for seven years, prompting her husband’s infidelities and her subsequently “meteorological” reaction. Without realizing it, I loved his story for its ready association to much of the themes of Luso-American magical realism (popularized by writers Katherine Vaz, Frank X. Gaspar, Jose Saramago and Joao de Melo, among others). I had no idea he was of Azorean descent himself, and so I’m thrilled to see that Kastin has published his first novel, The Undiscovered Island, which is set in the Azores and which captures so much of what makes magical realism come alive for me. INTERVIEW Tamara Kaye Sellman: You write both short fiction and novels, among other things. How do you describe the difference between the short story and the novel to a nonwriter in terms of your writing process? Is one easier for you than the other? Is it comparing apples to oranges? Do you prefer one form over the other? What do you prefer as a reader? Darrell Kastin: Short fiction and novels. First, I don’t really see much difference between the writing of either. Except that one takes just this side of forever and the other can be satisfied by demanding a few years from my life. -

Four Feminists Itineraries Introduction Patios and Graça Vilas
Four Feminists Itineraries Introduction Dedicated to all the people that fought for Lisbon to be a city of Freedom. These Feminists Itineraries in the city of Lisbon, are integrated on the project “Memories and Feminisms: Women and the Republic in the city of Lisbon – Memórias e Feminismos: Mulheres e República na cidade de Lisboa”, and was born from the partnership established between UMAR – Women Union for Alternative and Answer, and the investigation team “Faces of Eve - Faces de Eva” from Universidade Nova de Lisboa, winners of the first edition of the award Council awards Madalena Barbosa, in the same position with AMI foundation – International Medical Aid. Our gold with the Feminists Itineraries, following the Feminist Agenda/Calendar for 2010 entitled Women and The Republic, is to break the walls of oblivion that all women that fought for emancipatory movements have been drawn. With this edition of “Four Feminists Itineraries” we start an adventure through the city of Lisbon with a special magnifier, so we can find and turn visible the voice and the leading roles of women, both in their individual paths and in collective fights, helping building and historical feminist memories. We focused on the First Republic period, but we didn’t limited ourselves to it strictly, because we don’t want to limit generations, school of thoughts, social activisms that co- existed and still coexist. One running the streets and doesn’t care about boundaries, we are faced with outstanding figures that took our way by their musicality, commitment in social change, examples of citizenship and revolutionary power.