Psocoptera Em Cavernas Do Brasil: Riqueza, Composição E Distribuição
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
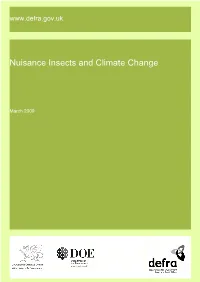
Nuisance Insects and Climate Change
www.defra.gov.uk Nuisance Insects and Climate Change March 2009 Department for Environment, Food and Rural Affairs Nobel House 17 Smith Square London SW1P 3JR Tel: 020 7238 6000 Website: www.defra.gov.uk © Queen's Printer and Controller of HMSO 2007 This publication is value added. If you wish to re-use this material, please apply for a Click-Use Licence for value added material at http://www.opsi.gov.uk/click-use/value-added-licence- information/index.htm. Alternatively applications can be sent to Office of Public Sector Information, Information Policy Team, St Clements House, 2-16 Colegate, Norwich NR3 1BQ; Fax: +44 (0)1603 723000; email: [email protected] Information about this publication and further copies are available from: Local Environment Protection Defra Nobel House Area 2A 17 Smith Square London SW1P 3JR Email: [email protected] This document is also available on the Defra website and has been prepared by Centre of Ecology and Hydrology. Published by the Department for Environment, Food and Rural Affairs 2 An Investigation into the Potential for New and Existing Species of Insect with the Potential to Cause Statutory Nuisance to Occur in the UK as a Result of Current and Predicted Climate Change Roy, H.E.1, Beckmann, B.C.1, Comont, R.F.1, Hails, R.S.1, Harrington, R.2, Medlock, J.3, Purse, B.1, Shortall, C.R.2 1Centre for Ecology and Hydrology, 2Rothamsted Research, 3Health Protection Agency March 2009 3 Contents Summary 5 1.0 Background 6 1.1 Consortium to perform the work 7 1.2 Objectives 7 2.0 -

Impact of Imidacloprid and Horticultural Oil on Nonâ•Fitarget
University of Tennessee, Knoxville TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange Masters Theses Graduate School 8-2007 Impact of Imidacloprid and Horticultural Oil on Non–target Phytophagous and Transient Canopy Insects Associated with Eastern Hemlock, Tsuga canadensis (L.) Carrieré, in the Southern Appalachians Carla Irene Dilling University of Tennessee - Knoxville Follow this and additional works at: https://trace.tennessee.edu/utk_gradthes Part of the Entomology Commons Recommended Citation Dilling, Carla Irene, "Impact of Imidacloprid and Horticultural Oil on Non–target Phytophagous and Transient Canopy Insects Associated with Eastern Hemlock, Tsuga canadensis (L.) Carrieré, in the Southern Appalachians. " Master's Thesis, University of Tennessee, 2007. https://trace.tennessee.edu/utk_gradthes/120 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. It has been accepted for inclusion in Masters Theses by an authorized administrator of TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. For more information, please contact [email protected]. To the Graduate Council: I am submitting herewith a thesis written by Carla Irene Dilling entitled "Impact of Imidacloprid and Horticultural Oil on Non–target Phytophagous and Transient Canopy Insects Associated with Eastern Hemlock, Tsuga canadensis (L.) Carrieré, in the Southern Appalachians." I have examined the final electronic copy of this thesis for form and content and recommend that it be accepted in partial fulfillment of the equirr ements for the degree of Master of Science, with a major in Entomology and Plant Pathology. Paris L. Lambdin, Major Professor We have read this thesis and recommend its acceptance: Jerome Grant, Nathan Sanders, James Rhea, Nicole Labbé Accepted for the Council: Carolyn R. -

Appl. Entomol. Zool. 45(1): 89-100 (2010)
Appl. Entomol. Zool. 45 (1): 89–100 (2010) http://odokon.org/ Mini Review Psocid: A new risk for global food security and safety Muhammad Shoaib AHMEDANI,1,* Naz SHAGUFTA,2 Muhammad ASLAM1 and Sayyed Ali HUSSNAIN3 1 Department of Entomology, University of Arid Agriculture, Rawalpindi, Pakistan 2 Department of Agriculture, Ministry of Agriculture, Punjab, Pakistan 3 School of Life Sciences, University of Sussex, Falmer, Brighton, BN1 9QG UK (Received 13 January 2009; Accepted 2 September 2009) Abstract Post-harvest losses caused by stored product pests are posing serious threats to global food security and safety. Among the storage pests, psocids were ignored in the past due to unavailability of the significant evidence regarding quantitative and qualitative losses caused by them. Their economic importance has been recognized by many re- searchers around the globe since the last few years. The published reports suggest that the pest be recognized as a new risk for global food security and safety. Psocids have been found infesting stored grains in the USA, Australia, UK, Brazil, Indonesia, China, India and Pakistan. About sixteen species of psocids have been identified and listed as pests of stored grains. Psocids generally prefer infested kernels having some fungal growth, but are capable of excavating the soft endosperm of damaged or cracked uninfected grains. Economic losses due to their feeding are directly pro- portional to the intensity of infestation and their population. The pest has also been reported to cause health problems in humans. Keeping the economic importance of psocids in view, their phylogeny, distribution, bio-ecology, manage- ment and pest status have been reviewed in this paper. -

André Nel Sixtieth Anniversary Festschrift
Palaeoentomology 002 (6): 534–555 ISSN 2624-2826 (print edition) https://www.mapress.com/j/pe/ PALAEOENTOMOLOGY PE Copyright © 2019 Magnolia Press Editorial ISSN 2624-2834 (online edition) https://doi.org/10.11646/palaeoentomology.2.6.1 http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:25D35BD3-0C86-4BD6-B350-C98CA499A9B4 André Nel sixtieth anniversary Festschrift DANY AZAR1, 2, ROMAIN GARROUSTE3 & ANTONIO ARILLO4 1Lebanese University, Faculty of Sciences II, Department of Natural Sciences, P.O. Box: 26110217, Fanar, Matn, Lebanon. Email: [email protected] 2State Key Laboratory of Palaeobiology and Stratigraphy, Center for Excellence in Life and Paleoenvironment, Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210008, China. 3Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité, ISYEB-UMR 7205-CNRS, MNHN, UPMC, EPHE, Muséum national d’Histoire naturelle, Sorbonne Universités, 57 rue Cuvier, CP 50, Entomologie, F-75005, Paris, France. 4Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución, Facultad de Biología, Universidad Complutense, Madrid, Spain. FIGURE 1. Portrait of André Nel. During the last “International Congress on Fossil Insects, mainly by our esteemed Russian colleagues, and where Arthropods and Amber” held this year in the Dominican several of our members in the IPS contributed in edited volumes honoring some of our great scientists. Republic, we unanimously agreed—in the International This issue is a Festschrift to celebrate the 60th Palaeoentomological Society (IPS)—to honor our great birthday of Professor André Nel (from the ‘Muséum colleagues who have given us and the science (and still) national d’Histoire naturelle’, Paris) and constitutes significant knowledge on the evolution of fossil insects a tribute to him for his great ongoing, prolific and his and terrestrial arthropods over the years. -

BÖCEKLERİN SINIFLANDIRILMASI (Takım Düzeyinde)
BÖCEKLERİN SINIFLANDIRILMASI (TAKIM DÜZEYİNDE) GÖKHAN AYDIN 2016 Editör : Gökhan AYDIN Dizgi : Ziya ÖNCÜ ISBN : 978-605-87432-3-6 Böceklerin Sınıflandırılması isimli eğitim amaçlı hazırlanan bilgisayar programı için lütfen aşağıda verilen linki tıklayarak programı ücretsiz olarak bilgisayarınıza yükleyin. http://atabeymyo.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/76/files/siniflama-05102016.exe Eğitim Amaçlı Bilgisayar Programı ISBN: 978-605-87432-2-9 İçindekiler İçindekiler i Önsöz vi 1. Protura - Coneheads 1 1.1 Özellikleri 1 1.2 Ekonomik Önemi 2 1.3 Bunları Biliyor musunuz? 2 2. Collembola - Springtails 3 2.1 Özellikleri 3 2.2 Ekonomik Önemi 4 2.3 Bunları Biliyor musunuz? 4 3. Thysanura - Silverfish 6 3.1 Özellikleri 6 3.2 Ekonomik Önemi 7 3.3 Bunları Biliyor musunuz? 7 4. Microcoryphia - Bristletails 8 4.1 Özellikleri 8 4.2 Ekonomik Önemi 9 5. Diplura 10 5.1 Özellikleri 10 5.2 Ekonomik Önemi 10 5.3 Bunları Biliyor musunuz? 11 6. Plocoptera – Stoneflies 12 6.1 Özellikleri 12 6.2 Ekonomik Önemi 12 6.3 Bunları Biliyor musunuz? 13 7. Embioptera - webspinners 14 7.1 Özellikleri 15 7.2 Ekonomik Önemi 15 7.3 Bunları Biliyor musunuz? 15 8. Orthoptera–Grasshoppers, Crickets 16 8.1 Özellikleri 16 8.2 Ekonomik Önemi 16 8.3 Bunları Biliyor musunuz? 17 i 9. Phasmida - Walkingsticks 20 9.1 Özellikleri 20 9.2 Ekonomik Önemi 21 9.3 Bunları Biliyor musunuz? 21 10. Dermaptera - Earwigs 23 10.1 Özellikleri 23 10.2 Ekonomik Önemi 24 10.3 Bunları Biliyor musunuz? 24 11. Zoraptera 25 11.1 Özellikleri 25 11.2 Ekonomik Önemi 25 11.3 Bunları Biliyor musunuz? 26 12. -

Psocoptera: Liposcelididae, Trogiidae)
University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln U.S. Department of Agriculture: Agricultural Publications from USDA-ARS / UNL Faculty Research Service, Lincoln, Nebraska 2015 Evaluation of Potential Attractants for Six Species of Stored- Product Psocids (Psocoptera: Liposcelididae, Trogiidae) John Diaz-Montano USDA-ARS, [email protected] James F. Campbell USDA-ARS, [email protected] Thomas W. Phillips Kansas State University, [email protected] James E. Throne USDA-ARS, Manhattan, KS, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.unl.edu/usdaarsfacpub Diaz-Montano, John; Campbell, James F.; Phillips, Thomas W.; and Throne, James E., "Evaluation of Potential Attractants for Six Species of Stored- Product Psocids (Psocoptera: Liposcelididae, Trogiidae)" (2015). Publications from USDA-ARS / UNL Faculty. 2048. https://digitalcommons.unl.edu/usdaarsfacpub/2048 This Article is brought to you for free and open access by the U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service, Lincoln, Nebraska at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. It has been accepted for inclusion in Publications from USDA-ARS / UNL Faculty by an authorized administrator of DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. STORED-PRODUCT Evaluation of Potential Attractants for Six Species of Stored- Product Psocids (Psocoptera: Liposcelididae, Trogiidae) 1,2 1 3 JOHN DIAZ-MONTANO, JAMES F. CAMPBELL, THOMAS W. PHILLIPS, AND JAMES E. THRONE1,4 J. Econ. Entomol. 108(3): 1398–1407 (2015); DOI: 10.1093/jee/tov028 ABSTRACT Psocids have emerged as worldwide pests of stored commodities during the past two decades, and are difficult to control with conventional management tactics such as chemical insecticides. -

Psocodea: 'Psocoptera': Troctomorp
Zootaxa 3869 (2): 159–164 ISSN 1175-5326 (print edition) www.mapress.com/zootaxa/ Article ZOOTAXA Copyright © 2014 Magnolia Press ISSN 1175-5334 (online edition) http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3869.2.5 http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:97F39EFB-42A5-49F1-B2E6-B2AEC24A8C09 A new genus and two new species, one extant and one fossil, in the family Troctopsocidae (Psocodea: ‘Psocoptera’: Troctomorpha: Amphientometae: Electrentomoidea) EDWARD L. MOCKFORD1 & ALFONSO N. GARCÍA ALDRETE2 1School of Biological Sciences, Illinois State University, Normal, Illinois 61790-4120, USA. E-mail: [email protected] 2Departamento de Zoología, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Apartado Postal 70-153, 04510, Méx- ico, D. F., MÉXICO. E-mail: [email protected] Abstract We describe a new genus, Troctopsocoides, in the family Troctopsocidae with two new species, T. erwini n. sp. (Madre de Dios, Peru) and T. gracilis n. sp., a fossil in amber from the Dominican Republic. We include a diagnosis of the family Troctopsocidae following a recent important change in its status and a key to the known genera of the family. Key words: new genus, new species, Peru, Dominican Republic, amber fossil Introduction The family Troctopsocidae is a small group of psocids known only from the American and Asian tropics. The family, originally recognized by Roesler (1940), who gave it the preoccupied name Plaumanniidae, was given its present name, with addition of several genera by Mockford (1967). Smithers (1972) recognized the set of included genera as constituting two subfamilies, Troctopsocinae and Protroctopsocinae, and, following the addition of several more genera (Lienhard 1988; Lienhard & Mockford 1997) Lienhard & Smithers (2002) raised these subfamilies to families. -

10A General Pest Control Study Guide
GENERAL PEST CONTROL CATEGORY 10A A Study Guide for Commercial Applicators July 2009 - Ohio Department of Agriculture - Pesticide and Fertilizer Regulation - Certifi cation and Training General Pest Control A Guide for Commercial Applicators Category 10a Editor: Diana Roll Certification and Training Manager Pesticide and Fertilizer Regulation Ohio Department of Agriculture Technical Consultants: Members of the Ohio Pest Management Association Robert DeVeny Pesticide Control Inspector - ODA Tim Hoffman Pesticide Control Inspector - ODA Proofreading Specialist: Kelly Boubary and Stephanie Boyd Plant Industry Ohio Department of Agriculture Images on front and back covers courtesy of Jane Kennedy, Office Manager - Pesticide Regulation - Ohio Department of Agriculture ii Acknowledgements The Ohio Department of Agriculture would like to thank the following universities, colleges, and private industries for the use of information needed to create the Study Guide. Without the expertise and generosity of these entities, this study would not be possible. The Ohio Department of Agriculture would like to acknowledge and thank: The Ohio State University – Dr. Susan Jones, Dr. David Shetlar, Dr. William Lyon The University of Kentucky – Dr. Mike Potter Penn State University – Department of Entomology Harvard University – Environmental Health & Safety Varment Guard Environmental Services, Inc. – Pest Library University of Nebraska – Lincoln – Department of Entomology Cornell – Department of Entomology Washington State University – Department of Entomology Ohio Department of Natural Resources – Wildlife The Internet Center for Wildlife Damage Management – Publications University of Florida – Department of Entomology University of California – IPM Online iii INTRODUCTION How to Use This Manual This manual contains the information needed to become a licensed commercial applicator in Category 10a, General Pest Control. -

Insecta: Psocodea: 'Psocoptera'
Molecular systematics of the suborder Trogiomorpha (Insecta: Title Psocodea: 'Psocoptera') Author(s) Yoshizawa, Kazunori; Lienhard, Charles; Johnson, Kevin P. Citation Zoological Journal of the Linnean Society, 146(2): 287-299 Issue Date 2006-02 DOI Doc URL http://hdl.handle.net/2115/43134 The definitive version is available at www.blackwell- Right synergy.com Type article (author version) Additional Information File Information 2006zjls-1.pdf Instructions for use Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP Blackwell Science, LtdOxford, UKZOJZoological Journal of the Linnean Society0024-4082The Lin- nean Society of London, 2006? 2006 146? •••• zoj_207.fm Original Article MOLECULAR SYSTEMATICS OF THE SUBORDER TROGIOMORPHA K. YOSHIZAWA ET AL. Zoological Journal of the Linnean Society, 2006, 146, ••–••. With 3 figures Molecular systematics of the suborder Trogiomorpha (Insecta: Psocodea: ‘Psocoptera’) KAZUNORI YOSHIZAWA1*, CHARLES LIENHARD2 and KEVIN P. JOHNSON3 1Systematic Entomology, Graduate School of Agriculture, Hokkaido University, Sapporo 060-8589, Japan 2Natural History Museum, c.p. 6434, CH-1211, Geneva 6, Switzerland 3Illinois Natural History Survey, 607 East Peabody Drive, Champaign, IL 61820, USA Received March 2005; accepted for publication July 2005 Phylogenetic relationships among extant families in the suborder Trogiomorpha (Insecta: Psocodea: ‘Psocoptera’) 1 were inferred from partial sequences of the nuclear 18S rRNA and Histone 3 and mitochondrial 16S rRNA genes. Analyses of these data produced trees that largely supported the traditional classification; however, monophyly of the infraorder Psocathropetae (= Psyllipsocidae + Prionoglarididae) was not recovered. Instead, the family Psyllipso- cidae was recovered as the sister taxon to the infraorder Atropetae (= Lepidopsocidae + Trogiidae + Psoquillidae), and the Prionoglarididae was recovered as sister to all other families in the suborder. -

Ana Kurbalija PREGLED ENTOMOFAUNE MOČVARNIH
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU I INSTITUT RUĐER BOŠKOVI Ć, ZAGREB Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni specijalisti čki studij ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA Ana Kurbalija PREGLED ENTOMOFAUNE MOČVARNIH STANIŠTA OD MEĐUNARODNOG ZNAČENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ Specijalistički rad Osijek, 2012. TEMELJNA DOKUMENTACIJSKA KARTICA Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Specijalistički rad Institit Ruđer Boškovi ć, Zagreb Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni specijalisti čki studij zaštita prirode i okoliša Znanstveno područje: Prirodne znanosti Znanstveno polje: Biologija PREGLED ENTOMOFAUNE MOČVARNIH STANIŠTA OD ME ĐUNARODNOG ZNAČENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ Ana Kurbalija Rad je izrađen na Odjelu za biologiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Mentor: izv.prof. dr. sc. Stjepan Krčmar U ovom radu je istražen kvalitativni sastav entomof aune na četiri močvarna staništa od me đunarodnog značenja u Republici Hrvatskoj. To su Park prirode Kopački rit, Park prirode Lonjsko polje, Delta rijeke Neretve i Crna Mlaka. Glavni cilj specijalističkog rada je objediniti sve objavljene i neobjavljene podatke o nalazima vrsta kukaca na ova četiri močvarna staništa te kvalitativno usporediti entomofau nu pomoću Sörensonovog indexa faunističke sličnosti. Na području Parka prirode Kopački rit utvrđeno je ukupno 866 vrsta kukaca razvrstanih u 84 porodice i 513 rodova. Na području Parka prirode Lonjsko polje utvrđeno je 513 vrsta kukaca razvrstanih u 24 porodice i 89 rodova. Na području delte rijeke Neretve utvrđeno je ukupno 348 vrsta kukaca razvrstanih u 89 porodica i 227 rodova. Za područje Crne Mlake nije bilo dostupne literature o nalazima kukaca. Velika vrijednost Sörensonovog indexa od 80,85% ukazuje na veliku faunističku sličnost između faune obada Kopačkoga rita i Lonjskoga polja. Najmanja sličnost u fauni obada utvrđena je između močvarnih staništa Lonjskog polja i delte rijeke Neretve, a iznosi 41,37%. -

Volume 2, Chapter 12-5: Terrestrial Insects: Hemimetabola-Notoptera
Glime, J. M. 2017. Terrestrial Insects: Hemimetabola – Notoptera and Psocoptera. Chapter 12-5. In: Glime, J. M. Bryophyte Ecology. 12-5-1 Volume 2. Interactions. Ebook sponsored by Michigan Technological University and the International Association of Bryologists. eBook last updated 19 July 2020 and available at <http://digitalcommons.mtu.edu/bryophyte-ecology2/>. CHAPTER 12-5 TERRESTRIAL INSECTS: HEMIMETABOLA – NOTOPTERA AND PSOCOPTERA TABLE OF CONTENTS NOTOPTERA .................................................................................................................................................. 12-5-2 Grylloblattodea – Ice Crawlers ................................................................................................................. 12-5-3 Grylloblattidae – Ice Crawlers ........................................................................................................... 12-5-3 Galloisiana ................................................................................................................................. 12-5-3 Grylloblatta ................................................................................................................................ 12-5-3 Grylloblattella ............................................................................................................................ 12-5-4 PSOCOPTERA – Booklice, Barklice, Barkflies .............................................................................................. 12-5-4 Summary ......................................................................................................................................................... -

ARTHROPODA Subphylum Hexapoda Protura, Springtails, Diplura, and Insects
NINE Phylum ARTHROPODA SUBPHYLUM HEXAPODA Protura, springtails, Diplura, and insects ROD P. MACFARLANE, PETER A. MADDISON, IAN G. ANDREW, JOCELYN A. BERRY, PETER M. JOHNS, ROBERT J. B. HOARE, MARIE-CLAUDE LARIVIÈRE, PENELOPE GREENSLADE, ROSA C. HENDERSON, COURTenaY N. SMITHERS, RicarDO L. PALMA, JOHN B. WARD, ROBERT L. C. PILGRIM, DaVID R. TOWNS, IAN McLELLAN, DAVID A. J. TEULON, TERRY R. HITCHINGS, VICTOR F. EASTOP, NICHOLAS A. MARTIN, MURRAY J. FLETCHER, MARLON A. W. STUFKENS, PAMELA J. DALE, Daniel BURCKHARDT, THOMAS R. BUCKLEY, STEVEN A. TREWICK defining feature of the Hexapoda, as the name suggests, is six legs. Also, the body comprises a head, thorax, and abdomen. The number A of abdominal segments varies, however; there are only six in the Collembola (springtails), 9–12 in the Protura, and 10 in the Diplura, whereas in all other hexapods there are strictly 11. Insects are now regarded as comprising only those hexapods with 11 abdominal segments. Whereas crustaceans are the dominant group of arthropods in the sea, hexapods prevail on land, in numbers and biomass. Altogether, the Hexapoda constitutes the most diverse group of animals – the estimated number of described species worldwide is just over 900,000, with the beetles (order Coleoptera) comprising more than a third of these. Today, the Hexapoda is considered to contain four classes – the Insecta, and the Protura, Collembola, and Diplura. The latter three classes were formerly allied with the insect orders Archaeognatha (jumping bristletails) and Thysanura (silverfish) as the insect subclass Apterygota (‘wingless’). The Apterygota is now regarded as an artificial assemblage (Bitsch & Bitsch 2000).