Ramondelimabrandao.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

Hierarchical Clusters: Emergence and Success of the Automotive Districts of Barcelona and São Paulo
Hierarchical Clusters: Emergence and Success of the Automotive Districts of Barcelona and São Paulo JORDI CATALAN TOMÀS FERNÁNDEZ-DE-SEVILLA This article analyzes the causes for the long-term success of the Barcelona (Spain) and São Paulo (Brazil) automobile industry clus- ters. Comparative evidence suggests that both clusters emerged in the early twentieth century through the formation of Marshallian external economies. Nevertheless, neither Barcelona nor São Paulo reached mass automobile production before 1950. The consolida- tion of the clusters required the adoption of strategic industrial policy during the golden age of capitalism. This policy succeeded in encouraging a few hub firms to undertake mass production by using domestic parts. The strategic policy also favored these leading corporations transferring their technical, organizational, and distri- bution capabilities, which in turn amplified the advantages of the clusters. Local institutions did not make a significant contribution. © The Author(s), 2020. Published by Cambridge University Press on behalf of the Business History Conference. This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence (http:// creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. doi:10.1017/eso.2019.27 Published online February 4, 2020 JORDI CATALAN is full professor of Economic History at the University of Barcelona. Contact information: Department of Economic History, Faculty of Economics, Universitat de Barcelona, Diagonal 690, 08034 Barcelona (Catalonia), Spain. E-mail: [email protected]. TOMÀS FERNÁNDEZ-DE-SEVILLA is the Kurgan-van Hentenryk Postdoctoral Fellow in Business History at the Solvay Brussels School of Economics and Management. -

Cultura Organizacional Orientada À Qualidade: Um Survey Nas Concessionárias Automotivas Brasileiras Certificadas Com a Iso 9001
i UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE CENTRO DE TECNOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Jamil Ramsi Farkat Diógenes Bacharel em Administração, UFRN, 2011 CULTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA À QUALIDADE: UM SURVEY NAS CONCESSIONÁRIAS AUTOMOTIVAS BRASILEIRAS CERTIFICADAS COM A ISO 9001 Natal 2014 ii JAMIL RAMSI FARKAT DIÓGENES CULTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA À QUALIDADE: UM SURVEY NAS CONCESSIONÁRIAS AUTOMOTIVAS BRASILEIRAS CERTIFICADAS COM A ISO 9001 Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Engenharia de Produção. Área de Concentração: Estratégia e Qualidade. Orientadora: Fernanda Cristina Barbosa Pereira Queiroz, Dra. Co-Orientador: Jamerson Viegas Queiroz, Dr. Marciano Furukava, Dr. Natal 2014 iv Jamil Ramsi Farkat Diógenes CULTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA À QUALIDADE: UM SURVEY NAS CONCESSIONÁRIAS AUTOMOTIVAS BRASILEIRAS CERTIFICADAS COM A ISO 9001 Esta dissertação foi julgada adequada para a obtenção do Título de Mestre em Engenharia de Produção e aprovada em sua forma final pelo Programa de Pós- Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, na Área de Concentração: Estratégia e Qualidade. Natal, 21 de Fevereiro de 2014. BANCA EXAMINADORA _________________________________________________ Fernanda Cristina Barbosa Pereira Queiroz, Dra. Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN Presidente (Orientadora) _________________________________________________ -

The Alex Cameron Diecast and Toy Collection Wednesday 9Th May 2018 at 10:00 Viewing: Tuesday 8Th May 10:00-16:00 Morning of Auction from 9:00 Or by Appointment
Hugo Marsh Neil Thomas Plant (Director) Shuttleworth (Director) (Director) The Alex Cameron Diecast and Toy Collection Wednesday 9th May 2018 at 10:00 Viewing: Tuesday 8th May 10:00-16:00 Morning of auction from 9:00 or by appointment Saleroom One 81 Greenham Business Park NEWBURY RG19 6HW Telephone: 01635 580595 Dave Kemp Bob Leggett Fax: 0871 714 6905 Fine Diecast Toys, Trains & Figures Email: [email protected] www.specialauctionservices.com Dominic Foster Toys Bid Here Without Being Here All you need is your computer and an internet connection and you can make real-time bids in real-world auctions at the-saleroom.com. You don’t have to be a computer whizz. All you have to do is visit www.the-saleroom.com and register to bid - its just like being in the auction room. A live audio feed means you hear the auctioneer at the same time as other bidders. You see the lots on your computer screen as they appear in the auction room, and the auctioneer is aware of your bids the moment you make them. Just register and click to bid! Order of Auction Lots Dinky Toys 1-38 Corgi Toys 39-53 Matchbox 54-75 Lone Star & D.C.M.T. 76-110 Other British Diecast 111-151 French Diecast 152-168 German Diecast 152-168 Italian Diecast 183-197 Japanese Diecast 198-208 North American Diecast 209-223 Other Diecast & Models 224-315 Hong Kong Plastics 316-362 British Plastics 363-390 French Plastics 391-460 American Plastics 461-476 Other Plastics 477-537 Tinplate & Other Toys 538-610 Lot 565 Buyers Premium: 17.5% plus Value Added Tax making a total of 21% of the Hammer Price Internet Buyers Premium: 20.5% plus Value Added Tax making a total of 24.6% of the Hammer Price 2 www.specialauctionservices.com Courtesy of Daniel Celerin-Rouzeau and Model Collector magazine (L) and Diecast Collector magazine (R) Alex Cameron was born in Stirling and , with brother Ewen , lived his whole life in the beautiful Stirlingshire countryside, growing up in the picturesque cottage built by his father. -
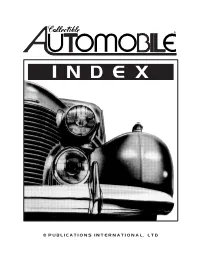
COLLECTIBLE AUTOMOBILE® INDEX Current Through Volume 34 Number 2, August 2017
® INDEX © PUBLICATIONS INTERNATIONAL, LTD COLLECTIBLE AUTOMOBILE® INDEX Current through Volume 34 Number 2, August 2017 CONTENTS FEATURES ..................................................... 1–6 PHOTO FEATURES ............................................. 6–9 FUTURE COLLECTIBLES ...................................... 9–11 CHEAP WHEELS ............................................. 11–12 COLLECTIBLE COMMERCIAL VEHICLES ..................... 12–14 COLLECTIBLE CANADIAN VEHICLES ............................ 14 NEOCLASSICS .................................................. 14 SPECIAL ARTICLES .......................................... 14–16 STYLING STUDIES .............................................. 16 PERSONALITY PROFILES, INTERVIEWS ....................... 16–17 MUSEUM PASS ............................................... 17–18 COLLECTIBLE AUTOMOBILIA ................................... 18 REFLECTED LIGHT ............................................. 18 BOOK REVIEWS .............................................. 18–20 VIDEOS ......................................................... 20 COLLECTIBLE AUTOMOBILE® INDEX Current through Volume 34 Number 2, August 2017 FEATURES AUTHOR PG. VOL. DATE AUTHOR PG. VOL. DATE Alfa Romeo: 1954-65 Giulia Buick: 1964-72 Sportwagon and and Giulietta Ray Thursby 58 19#6 Apr 03 Oldsmobile Vista-Cruiser John Heilig 8 21#5 Feb 05 Allard: 1949-54 J2 and J2-X Dean Batchelor 28 7#6 Apr 91 Buick: 1965-66 John Heilig 26 20#6 Apr 04 Allstate: 1952-53 Richard M. Langworth 66 9#2 Aug 92 Buick: 1965-67 Gran Sport John Heilig 8 18#5 Feb 02 AMC: 1959-82 Foreign Markets Patrick Foster 58 22#1 Jun 05 Buick: 1966-70 Riviera Michael Lamm 8 9#3 Oct 92 AMC: 1965-67 Marlin John A. Conde 60 5#1 Jun 88 Buick: 1967-70 Terry V. Boyce 8 26#5 Feb 10 AMC: 1967-68 Ambassador Patrick Foster 48 20#1 Jun 03 Buick: 1968-72 GS/GSX Arch Brown 8 11#1 Jun 94 AMC: 1967-70 Rebel Patrick Foster 56 29#6 Apr 13 Buick: 1971-73 Riviera Arch Brown 8 7#2 Aug 90 AMC: 1968-70 AMX John A. -

Juliana Nakamura De Freitas
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE ECONOMIA JULIANA NAKAMURA DE FREITAS Inserção do Brasil nos fluxos globais de comércio da indústria automotiva: uma análise a partir da metodologia de redes CAMPINAS 2016 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE ECONOMIA JULIANA NAKAMURA DE FREITAS Inserção do Brasil nos fluxos globais de comércio da indústria automotiva: uma análise a partir da metodologia de redes Prof. Dr. Célio Hiratuka – orientador Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas para obtenção do título de mestra em Ciências Econômicas. ESTE EXEMPLAR CORRESPONDE À VERSÃO FINAL DA DISSERTAÇÃO DEFENDIDA PELA ALUNA JULIANA NAKAMURA DE FREITAS E ORIENTADA PELO PROF. DR. CÉLIO HIRATUKA. CAMPINAS 2016 DISSERTAÇÃO DE MESTRADO JULIANA NAKAMURA DE FREITAS Inserção do Brasil nos fluxos globais de comércio da indústria automotiva: uma análise a partir da metodologia de redes Defendida em 29/07/2016 Dedico este trabalho aos meus avós Dyrce (in memoriam) e Jitsuo (in memoriam). AGRADECIMENTOS Primeiramente, agradeço a Deus por ter colocado em meu caminho este desafio tão enriquecedor. Ao Professor Célio Hiratuka, que foi o meu primeiro contato na UNICAMP. Fico muito feliz e agradecida por ter tido a oportunidade de fazer parte deste Instituto. Além disso, agradeço por toda a paciência e compreensão ao longo do processo. Aos professores do Instituto que, por meio de suas aulas, me guiaram à reflexão sobre os mais diversos temas e aos meus colegas da UNICAMP, pelo companheirismo e debates em aula. Ao professor João Pamplona, que, na posição de orientador durante minha graduação, sempre me incentivou a explorar as oportunidades acadêmicas. -

Pontifícia Universidade Católica Do Rio Grande Do Sul Faculdade De Filosofia E Ciências Humanas Programa De Pós-Graduação Em História Doutorado Em História
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA DOUTORADO EM HISTÓRIA MICHEL WILLIAN ZIMMERMANN DE ALMEIDA CARRO NÃO SE CONSTRÓI, COMPRA-SE: O EMPREENDEDOR BRASILEIRO NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA ENTRE OS ANOS 70 E 90 PORTO ALEGRE 2016 MICHEL WILLIAN ZIMMERMANN DE ALMEIDA CARRO NÃO SE CONSTRÓI, COMPRA-SE: O EMPREENDEDOR BRASILEIRO NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA ENTRE OS ANOS 70 E 90 Tese apresentada como requisito parcial para a obtenção do grau de Doutor em História das Sociedades Ibéricas e Americanas pelo Programa de Pós-graduação da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Orientadora: Profª. Dra. Cláudia Musa Fay PORTO ALEGRE 2016 MICHEL WILLIAN ZIMMERMANN DE ALMEIDA CARRO NÃO SE CONSTRÓI, COMPRA-SE: O EMPREENDEDOR BRASILEIRO NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA ENTRE OS ANOS 70 E 90 Tese apresentada como requisito parcial para a obtenção do grau de Doutor em História das Sociedades Ibéricas e Americanas pelo Programa de Pós-graduação da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Aprovada em __30____ de ___agosto___ de __2016__. BANCA EXAMINADORA _______________________________________ Drª. Claudia Musa Fay _______________________________________ Dr. André Luiz Reis da Silva _______________________________________ Dr. Antonio de Ruggiero _______________________________________ Drª. Gabriela Cardozo Ferreira _______________________________________ Dr. Rodrigo Perla Martins PORTO ALEGRE 2016 Dedico esta dissertação aos meus pais Rossana e Sérgio, a minha esposa Letícia e as minhas filhas Vitória, Luísa e a Beatriz, que esta chegando. AGRADECIMENTOS Ao término desta tese, encerra-se um ciclo que iniciou em 2003, com a aprovação no vestibular para o curso de História da Faculdades Porto-alegrenses. -

Vehicles Introduced in 1954: Mercedes-Benz S-Class, Toyota Land Cruiser, Austin Cambridge, Vauxhall
S4DKMZKYORHP \\ Book » Vehicles introduced in 1954: Mercedes-Benz S-Class, Toyota Land Cruiser, Austin Cambridge, Vauxhall... Vehicles introduced in 1954: Mercedes-Benz S-Class, Toyota Land Cruiser, Austin Cambridge, Vauxhall Cresta, Austin Westminster, Simca Vedette Filesize: 3.92 MB Reviews The publication is fantastic and great. It can be rally exciting throgh reading period of time. I am just very happy to inform you that this is the greatest publication i actually have read in my very own daily life and could be he very best ebook for at any time. (Prof. Alvis Wuckert) DISCLAIMER | DMCA N6CZV7PQT9QO / Doc # Vehicles introduced in 1954: Mercedes-Benz S-Class, Toyota Land Cruiser, Austin Cambridge, Vauxhall... VEHICLES INTRODUCED IN 1954: MERCEDES-BENZ S-CLASS, TOYOTA LAND CRUISER, AUSTIN CAMBRIDGE, VAUXHALL CRESTA, AUSTIN WESTMINSTER, SIMCA VEDETTE Books LLC, Wiki Series, 2016. Paperback. Book Condition: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Publication Year 2016; Not Signed; Fast Shipping from the UK. No. book. Read Vehicles introduced in 1954: Mercedes-Benz S-Class, Toyota Land Cruiser, Austin Cambridge, Vauxhall Cresta, Austin Westminster, Simca Vedette Online Download PDF Vehicles introduced in 1954: Mercedes-Benz S-Class, Toyota Land Cruiser, Austin Cambridge, Vauxhall Cresta, Austin Westminster, Simca Vedette KQA6TXST3YQN » Kindle / Vehicles introduced in 1954: Mercedes-Benz S-Class, Toyota Land Cruiser, Austin Cambridge, Vauxhall... Relevant Kindle Books YJ] New primary school language learning counseling language book of knowledge [Genuine Specials(Chinese Edition) paperback. Book Condition: New. Ship out in 2 business day, And Fast shipping, Free Tracking number will be provided aer the shipment.Paperback. Pub Date :2011-03-01 Pages: 752 Publisher: Jilin University Shop Books All the new.. -
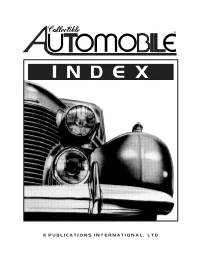
COLLECTIBLE AUTOMOBILE® INDEX Current Through Volume 35 Number 3, October 2018
® INDEX © PUBLICATIONS INTERNATIONAL, LTD COLLECTIBLE AUTOMOBILE® INDEX Current through Volume 35 Number 3, October 2018 CONTENTS FEATURES ..................................................... 1–6 PHOTO FEATURES ............................................ 6–10 FUTURE COLLECTIBLES ..................................... 10–11 CHEAP WHEELS ............................................. 11–13 COLLECTIBLE COMMERCIAL VEHICLES ..................... 13–14 COLLECTIBLE CANADIAN VEHICLES ............................ 14 NEOCLASSICS .................................................. 14 SPECIAL ARTICLES .......................................... 14–16 STYLING STUDIES ........................................... 16–17 PERSONALITY PROFILES, INTERVIEWS ....................... 17–18 MUSEUM PASS .................................................. 18 COLLECTIBLE AUTOMOBILIA ................................ 18–19 REFLECTED LIGHT ............................................. 19 BOOK REVIEWS .............................................. 19–21 VIDEOS ......................................................... 21 COLLECTIBLE AUTOMOBILE® INDEX Current through Volume 35 Number 3, October 2018 FEATURES AUTHOR PG. VOL. DATE AUTHOR PG. VOL. DATE Alfa Romeo: 1954-65 Giulia Buick: 1964-67 Special/Skylark Don Keefe 42 32#2 Aug 15 and Giulietta Ray Thursby 58 19#6 Apr 03 Buick: 1964-72 Sportwagon and Allard: 1949-54 J2 and J2-X Dean Batchelor 28 7#6 Apr 91 Oldsmobile Vista-Cruiser John Heilig 8 21#5 Feb 05 Allstate: 1952-53 Richard M. Langworth 66 9#2 Aug 92 Buick: 1965-66 John Heilig 26 20#6 Apr 04 AMC: 1959-82 Foreign Markets Patrick Foster 58 22#1 Jun 05 Buick: 1965-67 Gran Sport John Heilig 8 18#5 Feb 02 AMC: 1965-67 Marlin John A. Conde 60 5#1 Jun 88 Buick: 1966-70 Riviera Michael Lamm 8 9#3 Oct 92 AMC: 1967-68 Ambassador Patrick Foster 48 20#1 Jun 03 Buick: 1967-70 Terry V. Boyce 8 26#5 Feb 10 AMC: 1967-70 Rebel Patrick Foster 56 29#6 Apr 13 Buick: 1968-72 GS/GSX Arch Brown 8 11#1 Jun 94 AMC: 1968-70 AMX John A. -

Torquetthehe Peugeotpeugeot Carcar Clubclub Ofof Victoriavictoria
TORQUETTHEHE PPEUGEOTEUGEOT CCARAR CCLUBLUB OOFF VVICTORIAICTORIA december 2012 COMMITTEE PCCV LIFE MEMBERS President: Murray Knight John Biviano, Roger Chirnside, Ph. 9728 3096 (H), [email protected] Peter Cusworth, Peter de Vaus, Mike Dennis, Vice President & Merchandise: Dennis Edwards, Mike Farnworth, Glad Fish, Milton Grant – Ph. 5824 2324, 0419 406 056 Allan Horsley, David Isherwood, Les Jennings, [email protected] Laurie Jones, Peter Kerr, Murray Knight, Gordon Miller, Frank Myring, Brian Nicholas, Secretary: Tim Farmilo Ph. 8711 4050 (H), 0411 240 818 Laurie Petschack, John Regan, Phil Torode, [email protected] Hank Verwoert, Ray Vorhauer, Graham Wallis, Ivan Washington, Paul Watson, Nick Wright Peugeot Car Club of Victoria Inc. Treasurer: Nick Wright Incorporation No. A1246. ABN 85 961 321 518 Ph. 5944 3821, [email protected] REGISTERS PO Box 403, Nunawading 3131 Events Secretary: Paul Watson Ph. 0427 203 206 [email protected] Worm Register: 203: Telephone 0427 203 206 Competition Secretary & Scorer: vacant 403: Paul Watson, Ph. 5264 8449 (H) [email protected] Glad Fish – Ph. 5944 3821, [email protected] [email protected] www.pccv.org 404: Hank Verwoert, Ph. 03 9783 2718 CAMS rep: Peter Kerr – Ph. 9890 1816, [email protected] GENERAL MEETINGS 0408 504 605, [email protected] 1-2-304 Register: Meetings are held on the first Friday Youth Co-ordinator: Greg Park 104, 204, 304 & 305 models: of every month (except January) at the Ph. 0418 296 258, [email protected] Nick Wright Ph. 5944 3821 VDC Clubrooms, Unit 8, 41-49 Norcal CH Permits: John Marriott Ph. -
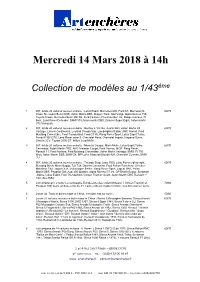
Mercredi 14 Mars 2018 À 14H
Mercredi 14 Mars 2018 à 14h Collection de modèles au 1/43ème 1 007, lot de 20 voitures neuves en boite : Lotus Esprit, Mercedes 600, Ford KA, Mercedes S- 60/70 Class, Mercedes Benz 220S, Aston Martin DB5, Dragon Tank, Gaz Volga, Alpha Roméo 159, Toyota Crown, Mercedes Benz 250 SE, Ford Fairlane, Chevrolet Bel- Air, Dodge monaco, Q Boat, Land Rover Defender, BMW 518,Aston martin DBS, Daimler Super Eight, Aston martin V12 Vanquish. 2 007, lot de 20 voitures neuves en boite : Bentley 4 1/4 litre, Austin Mini, Aston Martin V8 60/70 Vantage, Lincoln Continental, Leyland Cherpa Van, Lamborghini Diablo, AMC Hornet, Ford Mustang Convertible, Ford Thunderbird, Ford GT 40, Rang Rover Sport, Lotus Esprit Turbo, Ferrari F355 GTS, Land Rover série 3, Chevrolet Nova, Chevrolet Impala, Hispano-Suiza, Citroën 2CV, Toyota 2000 GT, Willys Jeep M606. 3 007, lot de 20 voitures neuves en boite : Mercury Cougar, Minin Moke, Lotus Esprit Turbo, 60/70 Corvorado, Aston Martin DBS, AMC Matador Coupé, Ford Taunus, MGB, Rang Rover, Renault 11, Ford Fairlane, Ford Mustang Convertible, Aston Martin Vantage, BMW 75 750 litres, Aston Martin DBS, BMW Z8, MP Lafer, Maserati Biturbo 425, Chevrolet Corvette, BMW Z3. 4 007, lot de 20 voitures neuves en boite : Triumph Stag, Lada 1500, Land Rover Lightweight, 60/70 Mustang Mach, Moon Buggy, Tuk Tuk, Daimler Limousine, Ford Falcon Ranchero, Checker Marathon Taxi, Jaguar XJ8, Volkswagen Beetle, Rang Rover Sport, Jaguar XKR, Aston Martin DB5, Peugeot 504, Audi 200 Quattro, Alpha Romeo GT V6, GP Beach Buggy, Sunbeam Alpine, Lotus Esprit, Ford Thunderbird, Citroen Traction Avant, Aston Martin DB5, Renault 11 Taxi, Zaz-965A. -

SIMCA CAR CLUB AUSTRALIA Inc VOLUME 21 NUMBER 2 June 2014
SWALLOW TALES The Official Newsletter for the Members of the SIMCA CAR CLUB AUSTRALIA Inc VOLUME 21 NUMBER 2 June 2014 SWALLOW TALES Number 2 JUNE 2014 SIMCA CAR CLUB AUSTRALIA Inc. Dedicated to the preservation and restoration of SIMCA cars for the purpose of maintaining the Simca marquee as part of the motoring history of Australia. The Club was formed to provide technical information and spare parts assistance to Simca club members. The Club has an affiliation with Simca owners and clubs throughout the world, permitting a global update of Simca activities to our members. The Club maintains a register of Simca owners through our specialist Registrar for both Simca and Simca Vedette. The views or opinions offered by members in this newsletter – Swallow Tales may not necessarily represent the views or opinions of the Committee of Management. COMMITTEE OF MANAGEMENT (as elected at the 2013 AGM) Vince Parisi Ph: (03) 94013966 Mobile: 0412867386 President: 12 Paul Crescent Epping Vic 3076 Email: [email protected] Secretary/Treasurer: Morrie Barrett Ph: (02) 96869719 Mobile: 0429495003 54 Disraeli Road Winston Hills NSW 2153 Email: [email protected] Editor: Iain and Leila Dyer Ph: (03) 63310447 Mobile: 0419353075 121 Penquite Road Newstead Tas 7250 Email: [email protected] Public Officer: Margaret Barrett 54 Disraeli Road WINSTON HILLS NSW 2153 State Representatives: NEW SOUTH WALES Barbara Scanes Ph: (02) 45712238 Mobile: 0427527708 Email: [email protected] QUEENSLAND Luke Huntley Ph: (07) 46223361 Mobile: 0439830117 Email: [email protected] SOUTH AUSTRALIA Rob & Ina Stapley Ph: (08) 8389 6176 Email: [email protected] VICTORIA / TASMANIA Stephen Maloney Ph (03) 9584 6180 Email: [email protected] WESTERN AUSTRALIA John Pickles Ph: (08) 9535 5023 & Life Member Email: [email protected] NEW ZEALAND Colin Smith Ph 0011 6468 440212 Email: [email protected] Some Car This Simca Page 1 SWALLOW TALES Number 2 JUNE 2014 FROM THE EDITOR’S DESK – by Iain Dyer Greetings to all our members, Especially those who have recently joined. -

A Evolução Da Eletrônica Embarcada Na Indústria Automobilística Brasileira
EDUARDO GIOVANNETTI PEREIRA DOS ANJOS A EVOLUÇÃO DA ELETRÔNICA EMBARCADA NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA BRASILEIRA SÃO CAETANO DO SUL 2011 EDUARDO GIOVANNETTI PEREIRA DOS ANJOS A EVOLUÇÃO DA ELETRÔNICA EMBARCADA NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA BRASILEIRA Monografia apresentada ao curso de Pós Graduação em Engenharia de Processos Industriais – ênfase em Engenharia Automotiva, da Escola de Engenharia Mauá do Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia, para obtenção do título de Especialista. Orientador: Prof. Dr. Wanderlei Marinho da Silva SÃO CAETANO DO SUL 2011 ANJOS, Eduardo Giovannetti Pereira dos. A evolução da eletrônica embarcada na indústria automobilística brasileira. Eduardo Giovannetti Pereira dos Anjos – São Caetano do Sul, SP: CEUN-EEM, 2011. 126 p. Monografia (Especialização) — Engenharia de Processos Industriais – Ênfase em Engenharia Automotiva. Escola de Engenharia Mauá do Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia, São Caetano do Sul, SP, 2011. Orientador: Prof. Dr. Wanderlei Marinho da Silva. 1. História do automóvel. 2. Evolução eletrônica. 3. Eletrônica embarcada. Instituto Mauá de Tecnologia. Centro Universitário. Escola de Engenharia Mauá. II. Título. Dedico esse trabalho às pessoas boas ainda existentes no mundo e peço que nunca desistam de brigar pelo correto, de manter o bom caráter e servir de exemplo às gerações futuras, uma vez que o mal não vencerá se os bons permanecerem unidos. “The only thing necessary for the triumph of evil, is the good men to do nothing ” Edmund Burke (1729 – 1797) AGRADECIMENTOS Aos meus Pais, Francisco e Luci, maiores exemplos de pessoas do bem, por terem sido os meus pilares de formação, de caráter e de desenvolvimento por toda a vida, sem descansar um minuto sequer para que eu tivesse todas as condições de viver confortavelmente.