Apostila Botnica No Inverno 2018.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Pollination Ecology, Nectar Secretion Dynamics, and Honey Production
Tropical Ecology 57(3): 429-444, 2016 ISSN 0564-3295 © International Society for Tropical Ecology www.tropecol.com Pollination ecology, nectar secretion dynamics, and honey production potentials of Acacia ehrenbergiana (Hayne) and Acacia tortilis (Forsk.) Hayne, Leguminosae (Mimosoideae), in an arid region of Saudi Arabia NURU ADGABA1*, AL-GHAMDI A. AHMED1, SHENKUTE G. AWRARIS1, MOHAMMED AL-MADANI1, MOHAMMED J. ANSARI1, RACHID SAMMOUDA2 & SARAH E. RADLOFF3 1Chair of Eng. Abdullah Baqshan for Bee Research, Department of Plant Protection, Faculty of Food and Agricultural Science, King Saud University, P.O. Box, 2460, Riyadh 11451KSA 2Department of Computer Science, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia 3 Department of Statistics, Rhodes University, P.O. Box 94, Grahamstown 6140, South Africa Abstract: This study was conducted to investigate the structuring of two sympatric and co- flowering acacia species - Acacia ehrenbergiana (Hayne) and Acacia tortilis (Forsk.) - in relation to their flowering period distribution, floral reward partitioning, nectar secretion dynamics, and visitor assemblages. This research was performed in an arid climatic zone of the Arabian Peninsula (Saudi Arabia). To determine if there is partitioning of pollinators between the two species their peak flowering periods were monitored and the peak time of pollen release through the day was quantified as the ratio of polyads to anthers. The nectar sugar secretion dynamics were estimated following nectar sugar washing techniques. The types and frequency of visitors were recorded and correlated. The two species varied in their peak flowering time within a season and peak pollen release time within a day. Moreover, both species secreted significant amounts of nectar sugar. The sharing of pollinators and the partial monopoly of certain visitors were observed. -

Leaf Aqueous Extract in the Seed Germination and Seedling Growth of Lettuce, Tomato and Sicklepod
1932 Bioscience Journal Original Article CHEMICAL PROFILE AND ALLELOPATHIC POTENTIAL OF Anacardium humile St. Hill. (CAJUZINHO-DO-CERRADO) LEAF AQUEOUS EXTRACT IN THE SEED GERMINATION AND SEEDLING GROWTH OF LETTUCE, TOMATO AND SICKLEPOD PERFIL QUÍMICO E POTENCIAL ALELOPÁTICO DO EXTRATO AQUOSO DE Anacardium humile St. Hill. (CAJUZINHO-DO-CERRADO) NA GERMINAÇÃO E FORMAÇÃO DE PLÂNTULAS DE ALFACE, TOMATE E FEDEGOSO Kelly Cristina Lacerda PEREIRA1; Rosemary MATIAS1; Elvia Silvia RIZZI1; Ana Carolina ROSA1; Ademir Kleber Morbeck de OLIVEIRA1* 1. Graduate Studies Program in Environment and Regional Development, University Anhanguera-Uniderp, Campo Grande, MS, Brazil. *[email protected] ABSTRACT: Anacardium genus, Anacardiaceae, stands out for the presence of phenolic compounds. One of its species, investigated for its different potential uses, is Anacardium humile; however, little is known about its allelopathic effects. Therefore, the present study aimed to determine the chemical profile and evaluate the herbicide potential of your leaves in the germination of seeds and growth of seedlings of Lactuca sativa (lettuce), Lycopersicon esculentum (tomato) and Senna obtusifolia (sicklepod), both in vitro and in greenhouse. Leaves of A. humile were obtained from 20 matrices of Cerrado fragments in the municipality of Campo Grande, Mato Grosso do Sul state, Brazil. A voucher specimen was deposited at the herbarium (no. 8448). The aqueous extract was obtained from dried and crushed leaves using the extraction method of ultrasonic bath (30 min) with subsequent static maceration. After solvent evaporation, 12.78 g of extract were obtained. The chemical profile of the aqueous extract included determination of total phenolic and flavonoid contents, pH, electrical conductivity, and soluble solids concentration. -

Characterization of Bushy Cashew (Anacardium Humile A. St.-Hil.) in the State of Goiás, Brazil
Journal of Agricultural Science; Vol. 11, No. 5; 2019 ISSN 1916-9752 E-ISSN 1916-9760 Published by Canadian Center of Science and Education Characterization of Bushy Cashew (Anacardium humile A. St.-Hil.) in the State of Goiás, Brazil Laísse D. Pereira1, Danielle F. P. Silva1, Edésio F. Reis1, Jefferson F. N. Pinto1, Hildeu F. Assunção1, Carla G. Machado1, Francielly R. Gomes1, Luciana C. Carneiro1, Simério C. S. Cruz1 & Claudio H. M. Costa1 1 Regional Jataí, Federal University of Goiás, Goiás, Brazil Correspondence: Laísse D. Pereira, Regional Jataí, Federal University of Goiás, Cidade Universitária José Cruciano de Araújo (Jatobá), Rod BR 364 KM 192-Parque Industrial, 3800, CEP 75801-615, Jataí, Goiás, Brazil. E-mail: [email protected] Received: January 1, 2019 Accepted: February 4, 2019 Online Published: April 15, 2019 doi:10.5539/jas.v11n5p183 URL: https://doi.org/10.5539/jas.v11n5p183 Abstract The physical and chemical characteristics of the fruits influence the consumer acceptance. The objective of this study was to perform the physical, physico-chemical and chemical characterization of fruits of accessions of bushy cashew (Anacardium humile A. St.-Hil.) (cashew nut and cashew apple) in a germplasm bank located in southwest of the state of Goiás, in Brazil, aiming at the selection of superior accessions, in order to facilitate the initiation of a program to encourage the production and consumption, for provide information for breeding programs and the specie preservation. This research study was conducted at the Laboratory of genetics and molecular biology with material collected in the Experimental Station of the Federal University of Jataí, within the biological ex situ collection of Anacardium humile, in the field of genetic resources. -

Antiulcerogenic Activity of the Aqueous Fraction of Anacardium Humile St
Journal of Medicinal Plants Research Vol. 6(40), pp. 5337-5343, 17 October, 2012 Available online at http://www.academicjournals.org/JMPR DOI: 10.5897/JMPR12.145 ISSN 1996-0875 ©2012 Academic Journals Full Length Research Paper Antiulcerogenic activity of the aqueous fraction of Anacardium humile St. Hil (Anacardiaceae) Anderson Luiz-Ferreira 1,2*, Maira Cola 3, Victor Barbastefano 2, Clélia Akiko Hiruma-Lima 4, Lourdes Campaner Santos 5, Wagner Vilegas 5 and Alba Regina Monteiro Souza Brito 2 1Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás (UFG), Catalão, GO, Brazil. 2Departamento de Biologia Estrutural e Funcional, Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, SP, Brazil. 3Departamento de Farmacologia, Instituto de Biologia, Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, Brazil. 4Departamento de Fisiologia, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Botucatu, SP, Brazil. 5Departamento de Química Orgânica, Instituto de Química, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Araraquara, SP, Brazil. Accepted 19 June, 2012 Anacardium humile St. Hil. is being used in traditional medicine to treat ulcer. The present work evaluated the mechanisms of action involved in the anti-ulcer properties of the aqueous fraction from leaves of A. humile (AHQ). Gastroprotection of A. humile was evaluated in ethanol and piroxicam models. Mechanisms of action such as mucus production, nitric oxide (NO), sulfhydryl compounds (SH) and the anti-secretory action were evaluated. The acetic acid-induced gastric ulcer model was used to evaluate the A. humile healing properties. Results obtained in the ethanol model showed that AHQ provided significant gastroprotection at all the tested doses (50, 100, and 200 mg/kg). -

1 DEPARTMENT of INTERIOR Fish And
DEPARTMENT OF INTERIOR Fish and Wildlife Service 50 CFR Part 17 [Docket No. FWS-R1–ES–2010–0043] [MO 92210-0-0009] RIN 1018–AV49 Endangered and Threatened Wildlife and Plants; Listing 23 Species on Oahu as Endangered and Designating Critical Habitat for 124 Species AGENCY: Fish and Wildlife Service, Interior. ACTION: Proposed rule. SUMMARY: We, the U.S. Fish and Wildlife Service (Service), propose to list 23 species on the island of Oahu in the Hawaiian Islands as endangered under the Endangered Species Act of 1973, as amended (Act). We also propose to designate critical habitat for these 23 species, to designate critical habitat for 2 plant species that are 1 2 already listed as endangered, and revise critical habitat for 99 plant species that are already listed as endangered or threatened. The proposed critical habitat designation totals 43,491 acres (ac) (17,603 hectares (ha)), and includes occupied and unoccupied habitat. Approximately 93percent of the area being proposed as critical habitat is already designated as critical habitat for the 99 plant species or other species. In this proposed rule we are also proposing a taxonomic revision of the scientific names of nine plant species. DATES: We will consider comments received on or postmarked on or before [INSERT DATE 60 DAYS AFTER DATE OF PUBLICATION IN THE FEDERAL REGISTER]. Please note that if you are using the Federal eRulemaking Portal (see ADDRESSES section below), the deadline for submitting an electronic comment is Eastern Time on this date. We must receive requests for public hearings, in writing, at the address shown in the FOR FURTHER INFORMATION CONTACT section by [INSERT DATE 45 DAYS AFTER DATE OF PUBLICATION IN THE FEDERAL REGISTER]. -

Cajuzinho-Do-Cerrado) Leaf Aqueous Extract in the Seed Germination and Seedling Growth of Lettuce, Tomato and Sicklepod
1932 Bioscience Journal Original Article CHEMICAL PROFILE AND ALLELOPATHIC POTENTIAL OF Anacardium humile St. Hill. (CAJUZINHO-DO-CERRADO) LEAF AQUEOUS EXTRACT IN THE SEED GERMINATION AND SEEDLING GROWTH OF LETTUCE, TOMATO AND SICKLEPOD PERFIL QUÍMICO E POTENCIAL ALELOPÁTICO DO EXTRATO AQUOSO DE Anacardium humile St. Hill. (CAJUZINHO-DO-CERRADO) NA GERMINAÇÃO E FORMAÇÃO DE PLÂNTULAS DE ALFACE, TOMATE E FEDEGOSO Kelly Cristina Lacerda PEREIRA1; Rosemary MATIAS1; Elvia Silvia RIZZI1; Ana Carolina ROSA1; Ademir Kleber Morbeck de OLIVEIRA1* 1. Graduate Studies Program in Environment and Regional Development, University Anhanguera-Uniderp, Campo Grande, MS, Brazil. *[email protected] ABSTRACT: Anacardium genus, Anacardiaceae, stands out for the presence of phenolic compounds. One of its species, investigated for its different potential uses, is Anacardium humile; however, little is known about its allelopathic effects. Therefore, the present study aimed to determine the chemical profile and evaluate the herbicide potential of your leaves in the germination of seeds and growth of seedlings of Lactuca sativa (lettuce), Lycopersicon esculentum (tomato) and Senna obtusifolia (sicklepod), both in vitro and in greenhouse. Leaves of A. humile were obtained from 20 matrices of Cerrado fragments in the municipality of Campo Grande, Mato Grosso do Sul state, Brazil. A voucher specimen was deposited at the herbarium (no. 8448). The aqueous extract was obtained from dried and crushed leaves using the extraction method of ultrasonic bath (30 min) with subsequent static maceration. After solvent evaporation, 12.78 g of extract were obtained. The chemical profile of the aqueous extract included determination of total phenolic and flavonoid contents, pH, electrical conductivity, and soluble solids concentration. -

THE NATIVE COASTAL PLANTS of OIAHU, HAWAIII Raymond S. Tabata Sea Grant Marine Advisory Program University of Hawaii at Manoa Ho
321 THE NATIVE COASTAL PLANTS OF OIAHU, HAWAIII Raymond S. Tabata Sea Grant Marine Advisory program University of Hawaii at Manoa Honolulu, Hawaii 96822 INTRODUCTION The most vulnerable elements in the coastline vegetation are the endemic strand elements, which are narrow in range ..•and the endemic elements of the native dry forests, which may have extended to the coast in the leeward areas.... (Richmond & Mueller Dombois 1972). The demise of the Hawaiian endemic flora has been a concern for many decades. Degener (1932 et seq.), Egler (1947), and Richmond and Mueller-Dombois (1972) h~ve documented the gradual loss of native plants on O'ahu due to the impacts of agriculture, development, and introduced plants. In recent years, with in creased interest in Hawaiiana, the native Hawaiian environment, and coastal zone management, there has been increasing concern for native coastal plants. This is shown by several, recent pUblications written for general audiences on this subject: Arrigoni (1977, 1978), Merlin (1977), and Tabata (1979). Also, a 20-minute slide/tape program "Ni Mea Uiu Ma Kahakai a Hawaili" was produced by Kimura and Nagata (1979). For O'ahu,particular1y, there is now new information on the status of native coastal plants: Richmond and Mue1ler-Dombois (1972) on O'ahu coastline ecosystems; Fosberg and Herbst (1975) on rare and endangered plants; Herbst (1976), ErS Corp. (1977), and Miura and Sato (1978) on the Barber's Point Deep-Draft Harbor site; Stemmermann (1977) on Hawaiian sandalwoods (Santalum spp.); Degener and Degener (1978) on the lohai (Sesbania spp.); Elliott and Hall (1978) on the Kahuku area; Char and Balakrishnan (1979) on the 'Ewa ·Plains flora; Gardner (1979) on nehe (LiEochaeta spp.); and Kimura and Nagata (19frO) on endangered coastal envi ronments. -

A Landscape-Based Assessment of Climate Change Vulnerability for All Native Hawaiian Plants
Technical Report HCSU-044 A LANDscape-bASED ASSESSMENT OF CLIMatE CHANGE VULNEraBILITY FOR ALL NatIVE HAWAIIAN PLANts Lucas Fortini1,2, Jonathan Price3, James Jacobi2, Adam Vorsino4, Jeff Burgett1,4, Kevin Brinck5, Fred Amidon4, Steve Miller4, Sam `Ohukani`ohi`a Gon III6, Gregory Koob7, and Eben Paxton2 1 Pacific Islands Climate Change Cooperative, Honolulu, HI 96813 2 U.S. Geological Survey, Pacific Island Ecosystems Research Center, Hawaii National Park, HI 96718 3 Department of Geography & Environmental Studies, University of Hawai‘i at Hilo, Hilo, HI 96720 4 U.S. Fish & Wildlife Service —Ecological Services, Division of Climate Change and Strategic Habitat Management, Honolulu, HI 96850 5 Hawai‘i Cooperative Studies Unit, Pacific Island Ecosystems Research Center, Hawai‘i National Park, HI 96718 6 The Nature Conservancy, Hawai‘i Chapter, Honolulu, HI 96817 7 USDA Natural Resources Conservation Service, Hawaii/Pacific Islands Area State Office, Honolulu, HI 96850 Hawai‘i Cooperative Studies Unit University of Hawai‘i at Hilo 200 W. Kawili St. Hilo, HI 96720 (808) 933-0706 November 2013 This product was prepared under Cooperative Agreement CAG09AC00070 for the Pacific Island Ecosystems Research Center of the U.S. Geological Survey. Technical Report HCSU-044 A LANDSCAPE-BASED ASSESSMENT OF CLIMATE CHANGE VULNERABILITY FOR ALL NATIVE HAWAIIAN PLANTS LUCAS FORTINI1,2, JONATHAN PRICE3, JAMES JACOBI2, ADAM VORSINO4, JEFF BURGETT1,4, KEVIN BRINCK5, FRED AMIDON4, STEVE MILLER4, SAM ʽOHUKANIʽOHIʽA GON III 6, GREGORY KOOB7, AND EBEN PAXTON2 1 Pacific Islands Climate Change Cooperative, Honolulu, HI 96813 2 U.S. Geological Survey, Pacific Island Ecosystems Research Center, Hawaiʽi National Park, HI 96718 3 Department of Geography & Environmental Studies, University of Hawaiʽi at Hilo, Hilo, HI 96720 4 U. -
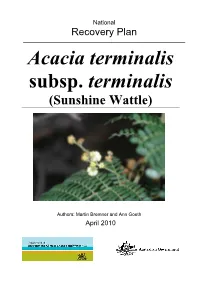
Acacia Terminalis Subsp
National Recovery Plan Acacia terminalis subsp. terminalis (Sunshine Wattle) Authors: Martin Bremner and Ann Goeth April 2010 © Department of Environment, Climate Change and Water (NSW), 2010 This work is copyright. However, material presented in this plan may be copied for personal use or published for educational purposes, providing that any extracts are fully acknowledged. Apart from this and any other use as permitted under the Copyright Act 1968, no part may be reproduced without prior written permission from the Department of Environment, Climate Change and Water (NSW). Department of Environment, Climate Change and Water (NSW) 59-61 Goulburn Street (PO Box A290) Sydney South NSW 1232 Phone: (02) 9995 5000 (switchboard) Phone: 131 555 (information & publications requests) TTY: (02) 9211 4723 Fax: (02) 9995 5999 Email: [email protected] Website: www.environment.nsw.gov.au Note: This recovery plan sets out the actions necessary to stop the decline of, and support the recovery of, the listed threatened subspecies. The plan has been developed with the involvement and cooperation of a broad range of stakeholders, but individual stakeholders have not necessarily committed to undertaking specific actions. The attainment of objectives and the provision of funds may be subject to budgetary and other constraints affecting the parties involved. Proposed actions may be subject to modification over the life of the plan due to changes in knowledge. Requests for information or comments regarding the recovery program for Acacia terminalis subsp. terminalis are best directed to: The Acacia terminalis subsp. terminalis Recovery Plan Coordinator Biodiversity Conservation Section, Metro Branch Department of Environment, Climate Change and Water (NSW) PO Box 1967 Hurstville NSW 2220 Phone: 02 9585 6678 Cover photo: Martin Bremner This plan should be cited as follows: Department of Environment, Climate Change and Water (NSW) (2010), Recovery Plan for Acacia terminalis terminalis (Sunshine Wattle), Department of Environment, Climate Change and Water (NSW), Sydney. -

Illustrated Flora of East Texas Illustrated Flora of East Texas
ILLUSTRATED FLORA OF EAST TEXAS ILLUSTRATED FLORA OF EAST TEXAS IS PUBLISHED WITH THE SUPPORT OF: MAJOR BENEFACTORS: DAVID GIBSON AND WILL CRENSHAW DISCOVERY FUND U.S. FISH AND WILDLIFE FOUNDATION (NATIONAL PARK SERVICE, USDA FOREST SERVICE) TEXAS PARKS AND WILDLIFE DEPARTMENT SCOTT AND STUART GENTLING BENEFACTORS: NEW DOROTHEA L. LEONHARDT FOUNDATION (ANDREA C. HARKINS) TEMPLE-INLAND FOUNDATION SUMMERLEE FOUNDATION AMON G. CARTER FOUNDATION ROBERT J. O’KENNON PEG & BEN KEITH DORA & GORDON SYLVESTER DAVID & SUE NIVENS NATIVE PLANT SOCIETY OF TEXAS DAVID & MARGARET BAMBERGER GORDON MAY & KAREN WILLIAMSON JACOB & TERESE HERSHEY FOUNDATION INSTITUTIONAL SUPPORT: AUSTIN COLLEGE BOTANICAL RESEARCH INSTITUTE OF TEXAS SID RICHARDSON CAREER DEVELOPMENT FUND OF AUSTIN COLLEGE II OTHER CONTRIBUTORS: ALLDREDGE, LINDA & JACK HOLLEMAN, W.B. PETRUS, ELAINE J. BATTERBAE, SUSAN ROBERTS HOLT, JEAN & DUNCAN PRITCHETT, MARY H. BECK, NELL HUBER, MARY MAUD PRICE, DIANE BECKELMAN, SARA HUDSON, JIM & YONIE PRUESS, WARREN W. BENDER, LYNNE HULTMARK, GORDON & SARAH ROACH, ELIZABETH M. & ALLEN BIBB, NATHAN & BETTIE HUSTON, MELIA ROEBUCK, RICK & VICKI BOSWORTH, TONY JACOBS, BONNIE & LOUIS ROGNLIE, GLORIA & ERIC BOTTONE, LAURA BURKS JAMES, ROI & DEANNA ROUSH, LUCY BROWN, LARRY E. JEFFORDS, RUSSELL M. ROWE, BRIAN BRUSER, III, MR. & MRS. HENRY JOHN, SUE & PHIL ROZELL, JIMMY BURT, HELEN W. JONES, MARY LOU SANDLIN, MIKE CAMPBELL, KATHERINE & CHARLES KAHLE, GAIL SANDLIN, MR. & MRS. WILLIAM CARR, WILLIAM R. KARGES, JOANN SATTERWHITE, BEN CLARY, KAREN KEITH, ELIZABETH & ERIC SCHOENFELD, CARL COCHRAN, JOYCE LANEY, ELEANOR W. SCHULTZE, BETTY DAHLBERG, WALTER G. LAUGHLIN, DR. JAMES E. SCHULZE, PETER & HELEN DALLAS CHAPTER-NPSOT LECHE, BEVERLY SENNHAUSER, KELLY S. DAMEWOOD, LOGAN & ELEANOR LEWIS, PATRICIA SERLING, STEVEN DAMUTH, STEVEN LIGGIO, JOE SHANNON, LEILA HOUSEMAN DAVIS, ELLEN D. -

Wildflowers and Other Herbaceous Plants at LLELA
Wildflowers and other herbaceous plants at LLELA Common Name Scientific Name Observed Abundance Yarrow Achillea millefolium C Prairie Agalinis Agalinis heterophylla C Mud Plaintain Alisma subcordatum U Wild Onion Allium canadense A Amaranth Amaranthus rudis U Western Ragweed Ambrosia psilostachya C Giant Ragweed Ambrosia trifida A Valley Redstem Ammannia coccinea C Broomweed Amphiachyris dracunculoides C Texas Bluestar Amsonia tabernaemontana U Tenpetal Thimbleweed Anemone berlandieri C Prickly Poppy Argemone polyanthemos R Green‐Dragon Arisaema dracontium R Texas Milkweed Asclepias texana C Butterfly Milkweed Asclepias tuberose R Green Milkweed Asclepias viridis C Drummond’s Aster Aster drummondii U Heath Aster Aster ericoides C Annual Aster Aster subulatus C Western Daisy Astranthium integrifolium R Water Fern Azolla caroliniana C Water Hyssop Bacopa monnieri U India Mustard Brassica juncea U* False Boneset Brickellia eupatorioides U Corn Gromwell Buglossoides arvensis C* Wine Cup Callirheo involucrate C Square‐bud Sundrops Calylophus berlandieri R Shepherd’s Purse Capsella bursa‐pastoris U* Nodding Thistle Carduus nutans U* Indian Paintbrush Castilleja indivisa C Basket Flower Centaurea americana C Ladybird’s Centaury Centaurium texense C Sticky Chickweed Cerastium glomeratum C Partridge Pea Chamaecrista fasciculata A Spotted Sandmat Chamaescyce maculata R Small Matted Sandmat Chamaesyce serpens U Hairy Golden Aster Chrysopsis pilosa U Horrid Thistle Cirsium horridulum U Texas Thistle Cirsium texanum C Bull Nettle Cnidoscolus texanus -

Is Recovery Outline For
______________________________________________________________________ U.S.Is Fish & Wildlife Service Recovery Outline for the Island of Oʻahu July 2018 Scientific Name/ Common Name PLANTS ANIMALS Bidens amplectens/ Ko‘oko‘olau Hylaeus kuakea/ Hawaiian yellow-faced bee Cyanea calycina/ Hāhā Hylaeus mana/ Hawaiian yellow-faced bee Cyanea lanceolata/ Hāhā Megalagrion nigrohamatum nigrolineatum/ Cyanea purpurellifolia/ Hāhā Blackline Hawaiian damselfly Cyrtandra gracilis/ Ha‘iwale Megalagrion leptodemas/ Crimson Hawaiian Cyrtandra kaulantha/ Ha‘iwale damselfly Cyrtandra sessilis/ Ha‘iwale Megalagrion oceanicum/ Oceanic Hawaiian Cyrtandra waiolani/ Ha‘iwale damselfly Doryopteris takeuchii/ No common name Korthalsella degeneri/ Hulumoa Melicope christophersenii/ Alani Melicope hiiakae/ Alani Melicope makahae/ Alani Platydesma cornuta var. cornuta/ No common name Platydesma cornuta var. decurrens/ No common name Pleomele forbesii/ Hala pepe Polyscias lydgatei/ No common name Pritchardia bakeri/ Baker’s Loulu Psychotria hexandra subsp. oahuensis/ Kōpiko Pteralyxia macrocarpa/ Kaulu Stenogyne kaalae subsp. sherffii/ No common name Zanthoxylum oahuense/ Mānele Recovery Outline for the Island of Oʻahu • 2018 Listing Status and Date Endangered; September 18, 2012 (77 FR 57648) and September 30, 2015 (80 FR 58820) Lead Agency/Region U.S. Fish and Wildlife Service, Region 1 Lead Field Office Pacific Islands Fish and Wildlife Office 300 Ala Moana Boulevard, Room 3-122, Honolulu, Hawaiʻi 96850, (808) 792–9400 Purpose of the Recovery Outline: This document lays out a preliminary course of action for the survival and recovery of 20 plants and 3 damselflies endemic to the island of Oʻahu, all of which were listed endangered under the Endangered Species Act (ESA) in 2012; and 2 plants and 2 Hawaiian yellow-faced bees also endemic to the island of Oʻahu, listed as endangered under the ESA in 2016 (USFWS 2012b, 2016b).