Processo E Desenvolvimento Da Revolução Boliviana
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Oil Nationalizations in Bolivia and Mexico Established a Period of Tension and Conflict with U.S
The Oil Nationalizations in Bolivia (1937) and Mexico (1938): a comparative study of asymmetric confrontations with the United States Fidel Pérez Flores IREL/UnB [email protected] Clayton M. Cunha Filho UFC [email protected] 9o Congreso Latinoamericano de Ciencia Política ¿Democracias en Recesión? Montevideo, 26-28 de julio de 2017 2 The Oil Nationalizations in Bolivia (1937) and Mexico (1938): a comparative study of asymmetric confrontations with the United States I. Introduction Between 1937 and 1942, oil nationalizations in Bolivia and Mexico established a period of tension and conflict with U.S. companies and government. While in both cases foreign companies were finally expelled from host countries in what can be seen as a starting point for the purpose of building a national oil industry, a closer look at political processes reveal that the Bolivian government was less successful than the Mexican in maintaining its initial stand in face of the pressure of both the foreign company and the U.S. Government. Why, despite similar contextual conditions, was it more difficult for Bolivian than for Mexican officials to deal with the external pressures to end their respective oil nationalization controversy? The purpose of this study is to explore, in light of the Mexican and Bolivian oil nationalizations of the 1930’s, how important domestic politics is in less developed countries to maintain divergent preferences against more powerful international actors. This paper focuses on the political options of actors from peripheral countries in making room for their own interests in an international system marked by deep asymmetries. We assume that these options are in part the product of processes unfolding inside national political arenas. -

(Y Salvar) La Nación: El Socialismo Militar Boliviano Revisitado T'inkazos
T'inkazos. Revista Boliviana de Ciencias Sociales ISSN: 1990-7451 [email protected] Programa de Investigación Estratégica en Bolivia Bolivia Stefanoni, Pablo Rejuvenecer (y salvar) la nación: el socialismo militar boliviano revisitado T'inkazos. Revista Boliviana de Ciencias Sociales, núm. 37, 2015 Programa de Investigación Estratégica en Bolivia La Paz, Bolivia Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=426141579005 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Rejuvenecer (y salvar) la nación: el socialismo militar boliviano revisitado To rejuvenate (and save) the nation: Bolivian military socialism revisited Pablo Stefanoni1 , número 37, 2015 pp. 49-64, ISSN 1990-7451 Fecha de recepción: mayo de 2015 Fecha de aprobación: junio de 2015 Versión final: junio de El presente artículo analiza las especificidades del antiliberalismo boliviano de la década de 1930 centrando la mirada en la experiencia socialista militar. El autor propone reponer la atmósfera ideológica, analizar sus tensiones y aprehender las particularidades de este experimento estatal, vinculado íntimamente a la derrota bélica a manos paraguayas, que puso en juego un lenguaje de cambio que incluyó visiones organicistas de la nación que buscaron dejar atrás la democracia liberal. Palabras clave: socialismo militar / izquierdas / Guerra del Chaco/ democracia funcional / vitalismo / David Toro / Germán Busch / Bolivia This article analyses the specificities of Bolivian anti-libera s of this state experiment which was closely linked to the military defeat in the war against Paraguay, a historical landmark that triggered a discourse of change pregnant with organicistic visions of the nation and a strong rejection of liberal democracy. -

2007 Latin American Cities Conferences Mexico City: Mexico in the Global Economy March 28, 2007
2007 Latin American Cities Conferences Mexico City: Mexico in the Global Economy March 28, 2007 L: Thomas F. McLarty III, Kissinger McLarty Associates; Olivier Lazare, Shell; Eugenio Clariond Reyes-Retana, Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión , y Technología; Mark A. Walker, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP; Martha Bejar, Nortel Networks Corporation. Top R: Susan Segal, AS/COA. Bottom R: Eduardo Medina Mora, Attorney General of Mexico. L: Jorge Mariscal, The Rohatyn Group. Center: Sergio Sarmiento, TV Azteca, Radio Centro, Reforma; Gerardo Aranda Orozco, Congressman (PAN); Roberto Newell, Instituto Mexicano para la Competividad; Pedro Joaquín Coldwell, Senator (PRI); Jesús Ortega, Former Senator (PRD). R: Alberto Jones Tamayo, Moody’s of Mexico. L: Luis Téllez, Secretary of Communication and Transportation. R: Audience members. In association with COMCE Corporate Media Sponsors: Partners: 2007 Latin American Cities Conferences Bogotá: Colombia in the Eyes of Wall Street June 28, 2007 L to R: Alejandro Costa, Shell; Milton Drucker, US Embassy in Colombia; Luis Oganes, JPMorgan Chase & Co.; Andrés Uriel Gallego, Minister of Transportation and Public Works. L: Julio Torres, Ministry of Finance and Public Credit, addresses audience. R: Oscar Iván Zuluaga, Minister of Finance and Public Credit. L: Cristian Moreno, Grupo Santander. Center: Oscar Iván Zuluaga; Susan Segal, AS/COA Alessandra Alecci, Moody’s Investors Services. In association with ANIF and Fedesarrollo Corporate Media Sponsors: Partners: 2007 Latin American Cities Conferences La Paz: First Conference in La Paz, Bolivia July 12, 2007 L: Alvaro García Linera, Vice President of Bolivia. Center: Carlos Ormachea, Tecpetrol; Susan Segal, AS/COA; Carlos Villegas, Minister of Hydrocarbons. R: Walter Delgadillo, Minister of Labor. -

Diciembre 2010 Primera Edición 1º Enero De 2011 FUNDAPPAC Dirección: Av
Diciembre 2010 Primera edición 1º Enero de 2011 FUNDAPPAC Dirección: Av. Ecuador Nº 2523 entre Belisario Salinas y Pedro Salazar Edificio Dallas, Piso 2 Telfs.: (591)(2) 2421655 - 2418674 Fax: (591)(2) 2418648 Email: [email protected] Web: www.fundappac.org La Paz - Bolivia ISBN: 978-99905-2-510-0 Depósito Legal: xxxxxxxxxxxxxxxx Mi agradecimiento imperecedero a los dilectos amigos Luis Ossio Sanjinés y Armando de La Parra Soria, Presidente y Director de FUNDAPPAC. Para mi esposa Alcira Leigue Paz, cuya inmensa virtud el cielo adorna en sus desvelos y su generosidad con nuestros hijos y tres nietas bellas: un poema viviente que Dios nos dio. BLANCO PRESENTACIÓN La adhesión de FUNDAPPAC a la conmemoración de los doscientos años transcurridos desde los críticos 1809 y 1810, en los que se proclamó la autodeterminación y la libertad del Alto Perú, hoy Bolivia, está inscrita en el ejercicio de las libertades ciudadanas, el acceso a conocer la verdad, fomentar el perfeccionamiento de la democracia, el Estado de Derecho, la inclusión y el respeto a la dignidad humana. Todo lo dicho tiene una historia, un suceder que construye, o también destruye, el desarrollo humano. Como lo óptimo es construir el desarrollo humano, es bueno conocer, reflexivamente y desde distintos puntos de vista, aquella historia o suceder en sus múltiples expresiones, proyecciones y contenidos. Así, la historia -o suceder humano de determinados períodos- es investigada y expuesta por historiadores, que nos dan sus propias versiones, mediante la palabra escrita o -antes- trasmitida oralmente. Corresponde al sujeto de la historia, que es la persona humana y su colectividad, enterarse de sí mismo, hallándose por el fruto de las investigaciones históricas, sociológicas y económicas, plasmadas en instrumentos de comunicación, a los que se debe acceder con un espíritu crítico- constructivo. -

Meza Luis Garcia Et Al. Bolivia SC Judgment 21-04-1993 S
http://www.derechos.org/nizkor/bolivia/doc/meza.html Xcma. Corte Suprema de Justicia de la Nación Sentencia pronunciada en los juicios de responsabilidad seguidos por el Ministerio Publico y coadyuvantes contra Luis Garcia Meza y sus colaboradores. 21 de Abril de 1993 Sucre - Bolivia Sentencia. Pronunciada en única instancia en los juicios de responsabilidad acumulados, seguidos por el Ministerio Público y sus coadyuvantes contra el ex Presidente de facto Luis García Meza Tejada y sus colaboradores. VISTOS: Las diligencias de policía judicial levantadas por la Comisión Mixta del H. Congreso Nacional; los actuados de los sumarios congresales; los informes en conclusiones; y las resoluciones congresales acusatorias en ambos juicios de responsabilidad; las diligencias preparatorias del debate, el debate propiamente dicho; las conclusiones del Ministerio Público y de los sujetos procesales; cuanto ver convino y se tuvo presente. 1.- DE LOS ANTECEDENTES. CONSIDERANDO: Que los acontecimientos políticos ocurridos en el país con el cambio de gobierno operado el 17 de julio de 1980, fecha en que por mandato de la Junta de Comandantes asumió el Poder Supremo de la República el ex Presidente de facto Luis García Meza Tejada, luego de la renuncia de la Presidenta Constitucional Interina de la República, Sra. Lidia Gueiler Tejada, dieron origen a un periodo inestable en la vida de la Nación, con una serie de secuelas que son de conocimiento de la opinión nacional. II.- DEL PRIMER JUICIO DE RESPONSABILIDAD. CONSIDERANDO: Que luego de restablecido el orden democrático en la República, restituidos el imperio de la Ley y la Constitución y conformado el Poder Público con arreglo a los mandatos de la Carta Fundamental del Estado boliviano, el Congreso Nacional, acumuló antecedentes, denuncias y querellas formuladas por instituciones públicas, entidades privadas y personas particulares dando lugar al inicio del primer juicio de responsabilidad. -

Presidents of Latin American States Since 1900
Presidents of Latin American States since 1900 ARGENTINA IX9X-1904 Gen Julio Argentino Roca Elite co-option (PN) IlJ04-06 Manuel A. Quintana (PN) do. IlJ06-1O Jose Figueroa Alcorta (PN) Vice-President 1910-14 Roque Saenz Pena (PN) Elite co-option 1914--16 Victorino de la Plaza (PN) Vice-President 1916-22 Hipolito Yrigoyen (UCR) Election 1922-28 Marcelo Torcuato de Alv~ar Radical co-option: election (UCR) 1928--30 Hipolito Yrigoyen (UCR) Election 1930-32 Jose Felix Uriburu Military coup 1932-38 Agustin P. Justo (Can) Elite co-option 1938-40 Roberto M. Ortiz (Con) Elite co-option 1940-43 Ramon F. Castillo (Con) Vice-President: acting 1940- 42; then succeeded on resignation of President lune5-71943 Gen. Arturo P. Rawson Military coup 1943-44 Gen. Pedro P. Ramirez Military co-option 1944-46 Gen. Edelmiro J. Farrell Military co-option 1946-55 Col. Juan D. Peron Election 1955 Gen. Eduardo Lonardi Military coup 1955-58 Gen. Pedro Eugenio Military co-option Aramburu 1958--62 Arturo Frondizi (UCR-I) Election 1962--63 Jose Marfa Guido Military coup: President of Senate 1963--66 Dr Arturo IIIia (UCRP) Election 1966-70 Gen. Juan Carlos Onganfa Military coup June 8--14 1970 Adm. Pedro Gnavi Military coup 1970--71 Brig-Gen. Roberto M. Military co-option Levingston Mar22-241971 Junta Military co-option 1971-73 Gen. Alejandro Lanusse Military co-option 1973 Hector Campora (PJ) Election 1973-74 Lt-Gen. Juan D. Peron (PJ) Peronist co-option and election 1974--76 Marfa Estela (Isabel) Martinez Vice-President; death of de Peron (PJ) President Mar24--291976 Junta Military coup 1976-81 Gen. -

Bolivia, Su Historia
BOLIVIA, SU HISTORIA TOMO V Gestación y emergencia del nacionalismo 1920-1952 BOLIVIA, SU HISTORIA TOMO V Gestación y emergencia del nacionalismo 1920-1952 Magdalena Cajías de la Vega Florencia Durán de Lazo de la Vega Ana María Seoane de Capra Coordinadoras Autores: Florencia Durán de Lazo de la Vega Ana María Seoane de Capra Alfredo Seoane Flores Patricia Fernández de Aponte Colaborador: Felipe Seoane Prieto Agradecemos por el apoyo en la edición al Programa de Investigación Estratégica en Bolivia PIEB. Edición: Matías Contreras Soux Diagramación: Marco Guerra Elaboración de mapas: Renzo Aruquipa Merino Portada: Alejandro Salazar Asistencia editorial: Plural editores © Coordinadora de Historia © De la presente edición: La Razón ISBN OBRA COMPLETA: 978-99974-47-57-9 ISBN VOLUMEN: 978-99974-47-62-3 D.L.: 4-1-1519-15 Impresión: Artes Gráficas Sagitario Impreso en Bolivia Índice general de la colección Tomo I: De los orígenes a los Estados prehispánicos, siglos XV a.C. – XVI d.C. 1. Origen de la población de América y las sociedades más tempranas 2. El periodo Formativo (2000 a.C.-500 d. C.) 3. Tiwanaku (600-1100 d. C.) 4. Señoríos y Desarrollos Regionales (1000/1100-1440 d. C.) 5. La impronta Inca en Bolivia (1470- 1540 d. C.) 6. Arqueología y etnohistoria de las tierras bajas de Bolivia Tomo II: La experiencia colonial en Charcas, siglos XVI-XVII 1. Hombres europeos llegan a los Andes (1533-1542) 2. En busca de un nuevo orden. La primera fase del Estado colonial (1542-1572) 3. La construcción y consolidación del orden colonial (1570-1600) 4. -

Guerras Del Pacifico Y Del Chaco Similitudes Y Diferencias
ROBERTO QUEREJAZU CALVO GUERRAS DEL PACIFICO Y DEL CHACO SIMILITUDES Y DIFERENCIAS EDITORIAL LOS AMIGOS DEL LIBRO "NO LEER LO QUE BOLIVIA PRODUCE ES IGNORAR LO QUE BOLIVIA ES" MINI COLECCION UN SIGLO Y MEDIO ROBERTO QUEREJAZU CALVO GUERRAS DEL PACIFICO Y DEL CHACO SIMILITUDES Y DIFERENCIAS EDITORIAL LOS AMIGOS DEL LIBRO Cochabamba -La Paz 1982 1982 ROBERTO QUEREJAZU CALVO Registro de la Propiedad Intelectual D.L.No. 4- 1 -5 0 -8 2 . P. 1982 LOS AMIGOS DEL LIBRO Derechos Reservados de la Edición. La Paz-Casilla 4415 Cochabamba - Casilla 450 NA715 ISBN 84 - 8370 - 012 -3 Obras del Autor: GUANO, SALITRE Y SANGRE (Bolivia y la Guerra del Pacífico) Los Amigos del Libro, 1979 BOLIVIA Y LOS INGLESES Los Amigos del Libro, 1973. MASAMACLAY Historia Política, Diplomática y Militar de la Guerra del Chaco. Ira. Ed.:Burillo, 1965 2da. Ed.:Los Amigos del Libro, 1975 3ra. Ed.:Los Amigos del Libro, 1975 4ta. Ed.:Los Amigos del Libro, 1981 LLALLAGUA Historia de una Montaña lera. Ed.: Los Amigos del Libro, 1976 2da. Ed.: Los Amigos del Libro, 1977 ADOLFO COSTA DU RELS El hombre, el diplomático y el escritor. Los Amigos del Libro, 1982 GUERRAS DEL PACIFICO Y DEL CHACO- SIMILITUDES Y DIFERENCIAS Los Amigos del Libro, 1982 Impreso en Bolivia — Printed ¡n Bolivia Editores: Los Amigos del Libro Impresores: Poligraf PROLOGO El historiador don Roberto Querejazu Calvo viene contribuyendo con notables libros a la historiografía na cional. Los más importantes son, sin duda alguna, los de dicados a las dos más grandes tragedias que ha sufrido Bo- livia en el curso de su accidentada historia: “Guano, Sali tre, Sangre”, relativo a la Guerra del Pacífico, y “Masama- clay”, sobre la Guerra del Chaco. -
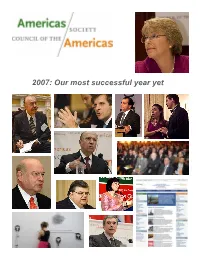
2007: Our Most Successful Year Yet
2007: Our most successful year yet Dear Members and Friends, 2007 was our most successful year yet. We continued to expand our programmatic activity, reaching more leaders from the public and private sectors and consolidating our position as the preeminent forum for the discussion of hemispheric issues. We debuted our new policy journal, Americas Quarterly: The Policy Journal for Our Hemisphere, the only policy journal exclusively dedicated to the hemisphere. We launched our website last fall, which now features up-to-date policy analysis and culture- related information, making it a destination for in-depth coverage of the Americas. Finally, we believe that we continue to make an impact and position the organizations for both the opportunities and challenges of the future. Some of 2007’s highlights include: • Approximately 180 programs in New York, Washington, D.C., Miami, and Latin American cities– our most ever. • Expanding our signature Latin American Conferences to nine countries, adding 2007 conferences in both Bolivia and El Salvador. We hosted conferences in Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, El Salvador, Mexico, Peru and Uruguay. • Welcoming eight Latin American presidents during UN General Assembly week, as well as a presidential candidate who went on to become president. • Holding six launches for Americas Quarterly in five cities, including Santiago de Chile, São Paulo, and Toronto. Circulation reached 10,000 in just one year of publication. • Leading private sector efforts through COA to pass the free trade and development agreement with Peru and to promote similar agreements with Colombia and Panama. • Sharpening our policy strategy by integrating our programs with detailed policy analysis. -

UC San Diego Electronic Theses and Dissertations
UC San Diego UC San Diego Electronic Theses and Dissertations Title Popular Politics of Social Emancipation in Bolivia from the 1930s to the Present: Indigeneity, Revolution and the State Permalink https://escholarship.org/uc/item/74h4w90n Author Kim, Younghyun Publication Date 2018 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO Popular Politics of Social Emancipation in Bolivia from the 1930s to the Present: Indigeneity, Revolution and the State A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in History by Younghyun Kim Committee in Charge: Professor Christine Hunefeldt, Chair Professor Misha Kokotovic Professor Dana Velasco Murillo Professor Nancy Postero Professor Eric Van Young 2018 Copyright Younghyun Kim, 2018 All rights reserved. The Dissertation of Younghyun Kim is approved, and it is acceptable in quality and form for publication on microfilm and electronically: Chair University of California San Diego 2018 iii TABLE OF CONTENTS Signature Page………………………………………………………………………… iii Table of Contents……………………………………………………………………... iv List of Illustrations…..………………………………………………………………... vi List of Tables………………………………………………………………………….. viii Acknowledgments…………………………………………………………………….. ix Vita……………………………………………………………………………………. xii Abstract……………………………………………………………………………….. xv Introduction…………………………………………………………………………… 1 Chapter 1 – Rural Unrest in the 1930s-1940s: Toward Emancipation and -

United States Department of State's Responses to Property Seizures in Latin America Nathan D
Old Dominion University ODU Digital Commons Graduate Program in International Studies Theses & Graduate Program in International Studies Dissertations Winter 1996 "Never Draw Unless You Mean to Shoot": United States Department of State's Responses to Property Seizures in Latin America Nathan D. Younge Old Dominion University Follow this and additional works at: https://digitalcommons.odu.edu/gpis_etds Part of the International Law Commons, International Relations Commons, and the Latin American History Commons Recommended Citation Younge, Nathan D.. ""Never Draw Unless You Mean to Shoot": United States Department of State's Responses to Property Seizures in Latin America" (1996). Master of Arts (MA), thesis, International Studies, Old Dominion University, DOI: 10.25777/bzag-n679 https://digitalcommons.odu.edu/gpis_etds/101 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate Program in International Studies at ODU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Graduate Program in International Studies Theses & Dissertations by an authorized administrator of ODU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. “NEVER DRAW UNLESS YOU MEAN TO SHOOT”: U.S. DEPARTMENT OF STATE’S RESPONSES TO PROPERTY SEIZURES IN LATIN AMERICA by NATHAN D. YOUNGE B.A. June 1988, American University A Thesis submitted to the Faculty of Old Dominion University in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of MASTER OF ARTS INTERNATIONAL STUDIES OLD DOMINION UNIVERSITY December 1996 Approved by: •an E. Supplee (Director) Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. ABSTRACT This thesis examines the U.S. Department of State’s diplomatic handling of disputes over the seizure of U.S.-owned property in Latin America between 1937 and 1973. -

List of Presidents of Bolivia
SNo Name Took office Left office 1 Simón Bolívar 11 August 1825 29 December 1825 2 Antonio José de Sucre 29 December 1825 18 April 1828 3 José María Pérez de Urdininea 18 April 1828 2 August 1828 4 José Miguel de Velasco Franco 2 August 1828 18 December 1828 5 Pedro Blanco Soto 18 December 1828 1 January 1829 6 José Miguel de Velasco Franco 1 January 1829 24 May 1829 7 Andrés de Santa Cruz 24 May 1829 20 February 1839 8 José Miguel de Velasco Franco 20 February 1839 10 June 1841 9 Sebastián Ágreda 10 June 1841 9 July 1841 10 Mariano Calvo 9 July 1841 22 September 1841 11 José Ballivián 22 September 1841 23 December 1847 12 Eusebio Guilarte Vera 23 December 1847 2 January 1848 13 José Miguel de Velasco Franco 18 January 1848 6 December 1848 14 Manuel Isidoro Belzu 6 December 1848 15 August 1855 15 Jorge Córdova 15 August 1855 21 October 1857 16 José María Linares 21 October 1857 14 January 1861 17 José María Achá 4 May 1861 28 December 1864 18 Mariano Melgarejo 28 December 1864 15 January 1871 19 Agustín Morales 15 January 1871 27 November 1872 20 Tomás Frías Ametller 28 November 1872 9 May 1873 21 Adolfo Ballivián 9 May 1873 14 February 1874 22 Tomás Frías Ametller 14 February 1874 4 May 1876 23 Hilarión Daza 4 May 1876 14 April 1879 24 Pedro José Domingo de Guerra 14 April 1879 10 September 1879 25 Narciso Campero 19 January 1880 3 September 1884 26 Gregorio Pacheco 3 September 1884 15 August 1888 27 Aniceto Arce 15 August 1888 11 August 1892 28 Mariano Baptista 11 August 1892 19 August 1896 29 Severo Fernández 19 August 1896 12 April 1899 30 José Manuel Pando 25 October 1899 14-08 1904 31 Ismael Montes 14-08 1904 12-10 1909 32 Eliodoro Villazón 12-10 1909 14-10 1913 33 Ismael Montes 14-10 1913 15-10 1917 34 José Gutiérrez 15-10 1917 12-07 1920 35 Bautista Saavedra 28-01 1921 03-09 1925 36 Felipe S.