Baixar Este Arquivo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
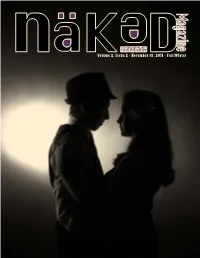
Volume 2, Issue 2
Volume 2, Issue 2 - November 18, 2011 - Fall/Winter Naked music magazine staff Table of Contents Grant Abrams - Editor Rasseil Alzouhayli - Staff Writer features Zoe Beaudry - Writer Jacob Berenson - Staff Writer 6-8 2011 Retrospective Grace Bowe - Designer DJ Enferno 9-10 Kira Boneff - Head of Design/Writer Aaron Bunker - Writer 11 Swing Dance Club Marie Bunker - Designer/Editor Zac Clark - Editor-in-Chief Laura Crouch - Writer Claire Fielder - Head of Photography/ Editorials Designer The Popularity Problem 12 Manuel Garcia - Editor Ian Geiman - Editor-in-Chief Andrew Haughey - Writer Jon Husar - Head of Writing Stann Jones - Administrator Clover Kelly - Designer Events George Khamis - Staff Photographer 2 Lisa Majlof - Designer/Photographer Desolation Row Bo Martin - Writer Bluegrass at the Arb 4 Korinne Maelnnes - Writer/Editor Square Dances at the Strutt Miranda Phair - Writer 11 Sam Rood - Staff Writer Kate Schwartz - Designer Umphrey’s McGee 13 Colin Smith - Writer 13 Neon Indian Jenny Tarnoff - Editor Chris Wachiralappaitoon - Writer Jessica Walters - Designer/ Photographer Laurel Wiinikka-Buesser - Writer/ Editor reviews Naked Music Magazine 2 Crazy Clown Time - David Lynch Kalamazoo College 1200 Academy Street How Do You Do - Mayer Hawthorne 3 Kalamazoo, MI 49006 3 Unbroken - Demi Lovato D&D Printing Paralax - Atlas Sound 3 2531 Azo Drive Jake Simmons and the Little Ghosts Kalamazoo, MI 49048 3 Self-Titled LP Debut Contact Us! Cherry 4 Like our Facebook page by searching 5 The Hunter - Mastadon Naked Magazine Kzoo to get updates TH1RT3EN - Megadeth on the magazine. If you want to 5 become involved, email, call, or text 5 Blood & Saints - Powerwolf Ian Geiman (k10ig02) & (248-719- Mylo Xyloto - Coldplay 12 1469) or Zac Clark (k10zc01) & (630- 926-5086). -

A L'exterior Del Panteó Dels Contistes Nord-Americans
ara DISSABTE, 3 DE JUNY DEL 2017 61 araara llegim EL LLIBRE DE LA SETMANA A l’exterior del panteó dels contistes nord-americans Res defineix més te, donen obres noves i diferents. proposi desconcertar el lector o es- PERFIL nítidament el ca- N’hi ha, però, que no són prou forts tampar-li una ocurrència en plena PERE ràcter i l’obra d’un o valents per resistir les inèrcies que cara? LA ANTONI creador que la re- els coaccionen i per entendre que, a Nascuda al barri del Bronx al si NORD-AMERICANA PONS lació que manté ells, els escau de fer un tipus d’art o de d’una família jueva d’origen rus –els GRACE PALEY amb aquells que literatura més connectat amb les lli- seus pares van haver d’emigrar l’han precedit: çons del passat. La majoria dels que d’Ucraïna pels seus posicionaments (1922-2007) VA què coneix i què ignora de la tradició, no ho entenen s’extravien en la antitsaristes–, la vida de Paley va es- PUBLICAR TRES què n’assumeix i què en rebutja. Ai- impostura. tar marcada per la seva condició de RECULLS DE xò és particularment cert en les èpo- dona (d’esposa, de mare i d’escripto- Convencionalment moderna CONTES QUE ques que l’experimentalisme i ra en un món literari eminentment l’afany de superar el passat semblen Tot això ve a tomb per dir que la TOTS ELS masculí), per una vocació literària EDICIONS DE 1984 imposar-se com a condicions impe- contista i poeta nord-americana CONTES de maduració lenta i poc prolífica RECUPERA EN UN ratives per a la creativitat. -

Scms 2015 Conference Program Preliminary Draft
SCMS 2015 CONFERENCE PROGRAM PRELIMINARY DRAFT Please review the preliminary draft of the 2015 Montreal Conference Program and send your minor corrections or changes (affiliation, order of presentations, format issues or spelling corrections) to [email protected] by January 9, 2015 at 5PM CT. SCMS cannot accommodate requests for changes in the scheduled day or time of the panels or workshops. Please note that corrections will not be made to the preliminary draft. They will be included in the final printed program that will be available at the conference. To look up author names select the Find button on the tool bar and enter the author's name in the upper left corner of the search box and return. You can also use Ctrl + F to locate the author's name. Note: Open call panel chair assignments are not final. Volunteer chairs are still being assigned. Room numbers are for administrative use only. Due to possible changes in room assignments, the names of the rooms will be included in the final printed program only. REGISTRATION Conference presenters who have not become members and paid the conference registration fee by January 30, 2015 at 5PM CT will be deleted from the final printed program. To register: https://cmstudies.site- ym.com/?page=conf_registration CANCELLATION/REFUND POLICY All cancellation notifications and requests for conference registration refunds must be submitted online by 5PM CT, Friday, February 25, 2015. No cancellations by phone or email. Conference registration refunds will be processed at 80% of the amount paid. -

SWR2 Musikpassagen
SWR2 MANUSKRIPT ESSAYS FEATURES KOMMENTARE VORTRÄGE __________________________________________________________________________ SWR2 Musikpassagen Im Irrgarten der Psyche Die Musik in den Filmen von David Lynch Von Harry Lachner Sendung: Sonntag, 5. Februar 2017, 23.03 Uhr Redaktion: Anette Sidhu-Ingenhoff Produktion: SWR 2017 __________________________________________________________________________ Bitte beachten Sie: Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. __________________________________________________________________________ Service: Mitschnitte aller Sendungen der Redaktion SWR2 Musikpassagen sind auf CD erhältlich beim SWR Mitschnittdienst in Baden-Baden zum Preis von 12,50 Euro. Bestellungen über Telefon: 07221/929-26030 Bestellungen per E-Mail: [email protected] __________________________________________________________________________ Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de ----------- Musik: Pinky's Dream - The Remixes #2 ----------- Das Kino bedeutet eine totale Umkehrung von Werten, eine vollständige Umwälzung von -

David Lynch and the Kills
InterIor empIres DaviD Lynch anD The KiLLs By Kevin Friedman Photos by Vincent Peters There is a darkness that permeates the world of David Lynch. His films capture a challenge to the audience to figure things out for themselves and to make their own something menacing and disturbing, often by combining the mundane with the surreal interpretations. To paraphrase something he said years ago: Life doesn’t always make but just as often going full bore into the heart of evil. Themes of duality, especially in his sense, so why should films? female characters, and sexual violence exist in the day-to-day worlds of both the urban And then there are The Kills, the kind of vampyric duo—blade thin, as though and the rural. Whereas traditional film noir kept its violence limited to the metropolis, carved from wood with a straight razor—that Lynch would conjure if he were to write Lynch subverts this idea. As he exhibited with Twin Peaks, the woods were just as a pulp film about a band. Their music is the lost soundtrack to a scratched celluloid menacing, if not more so, than any concrete jungle. It’s as if he were taking traditional black and white getaway flick from the French New Wave. Dirtily gorgeous, they are Grimm fairy tales as a starting point and going deeper into the furthest recesses of the musical equivalent of Sailor and Lula from Wild at Heart, guitars and microphones the forests of depravity. Drugs, murder, rape, incest? You betcha. Neither is suburbia substituted for guns and cars. -

Lucca Film Festival 2014. Catalogo
1 lucca EFFETTOCINEMA Universal: Intervista/Interview to David Lynch: Prodotta da/Pruduced by NBC Universal Global Networks Italia Cuore selvaggio: il film è disponibile in DVD e Blu-ray ed è distribuito da Universal Pictures Italia/ The movie is available on dvd and Blu-ray and It’s distributed by Universal Pictures Italia 2 3 LUCCA FILM FESTIVAL Riprese e montaggio video: PROGRAMMAZIONE ARTISTICA RINGRAZIAMENTI/AKNOWLEDGEMENTS Kalispéra Production Presidente Kalispéra Production è: David Lynch David Lynch Nicola Borrelli Alfredo Ferrua, Francesco Nanni, Antonio Petta, La sezione è curata da: Ringraziamenti: Rachele Pollastrini, Federico Salvetti e Francesco Nicola Borrelli Fatima Franco, Mindy Ramaker, Angelo Badalamenti, Consiglio Direttivo Terranova. Assistenti: Alessio Romagnoli e Alessia Del Freo Alessandro Romanini, Fabiola Manfredi, Paolo Masini, Nicola Borrelli, Stefano Giorgi, Alessandro Andrea Benassi, Maria Messere, Riccardo Lopes, Mas- De Francesco, Andrea Diego Bernardini. Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni: Omaggio al cinema di John Boorman simo Salotti, Luca Giometti, Alessandro Stefani, Keane PS Comunicazione - Antonio Pirozzi, La sezione è curata da: Mario Sesti, Daniela Venturi, Sabrina Nocchi, Monica Comitato Organizzativo Arianna Monteverdi Stefano Giorgi, Nicolas Condemi, Federico Salvetti Biagini, Rosi Lazzari, Gianmarco Caselli, Fabio Pam- Andrea Diego Bernardini, Nicola Borrelli, www.pscomunicazione.it molli, Pietro Pietrini, John Hagelin, Roy Menarini, Paolo Alessandro De Francesco, Nicolas Condemi, Il cinema -

Gilles Deleuze En Dos Films De David Lynch
MÀSTER D’ESTUDIS AVANÇATS EN HISTÒRIA DE L’ART TRABAJO DE FIN DE MÁSTER CURSO: 2019/2020 «DEL RECUERDO A LOS SUEÑOS» GILLES DELEUZE EN DOS FILMS DE DAVID LYNCH Apellidos y nombre: Romero López, Marta NIUB: 17512084 Tutor: Dr. José Enrique Monterde Lozoya 1 Índice 1. Introducción _____________________________________________________________ 3 2. Aproximación a Gilles Deleuze ______________________________________________ 6 2.1. Contra la imagen dogmática del pensamiento _____________________________ 6 2.2. El pensamiento cinematográfico deleuziano _____________________________ 14 2.2.1. La imagen-tiempo y la imagen-movimiento _________________________ 21 3. Aproximación a David Lynch _______________________________________________ 25 3.1. Artista renacentista posmoderno _______________________________________ 25 3.2. Características y etapas _____________________________________________ 37 3.3. Influencias: surrealismo, Romanticismo americano, noir __________________ 47 4. David Lynch y Gilles Deleuze ______________________________________________ 55 4.1. Tener una idea en cine _____________________________________________ 55 4.2. David Lynch y el pensamiento cinematográfico _________________________ 57 4.3. La presencia de la filosofía cinematográfica de Gilles Deleuze en la filmografía de David Lynch ____________________________________________ 63 4.4. Una aproximación a la imagen-recuerdo y al «sueño implicado» en Carretera perdida y Mulholland Drive ____________________________________________ 70 4.4.1. El fracaso de la imagen-recuerdo -

El Arte Como Forma De Meditación
EL ARTE COMO FORMA DE MEDITACIÓN UN VIAJE ESPIRITUAL DESDE LA EXPERIMENTACIÓN GRÁFICA TESIS DOCTORAL 2017 Departamento de Dibujo Autor: Luca Pantina Directora: Áurea Muñoz del Amo Profesora Contratada Doctora, Departamento de Dibujo Universidad de Sevilla A mi familia, siempre presente. AGRADECIMIENTOS A quienes han contribuido en la realización de este fascinante viaje espiritual a través del arte. A Rosa Fernández Gómez , José Antonio Antón Pacheco, Eva Fernández del Campo Barbadillo, Antoni Gonzalo Carbó y Juan Martínez Moro por haberme iluminado a través de sus indicaciones durante mis comienzos. Al maestro Riccardo Macrì De Marino por haber encendido mi luz interior. A Fernando García Gutiérrez el cual me abierto la puerta hacia la tradición zen. A los artistas: Ana Crespo, Federico Guzmán e Ian Szydlowski Álvarez por su disponibilidad en compartir sus inquietudines artístico-espirituales. Al profesor Liborio Curione, que generosamente me ha regalado parte de su sabia experiencia en el campo del arte gráfico. A Mª Ángeles por el apoyo especial en todo momento. A Carlo Guarrera amigo y compañero de proyectos transcendentales. A todos aquellos que de alguna forma han favorecido la llegada a esta significativa etapa de mi vida. Y, sobre todo, a quien me ha dirigido con paciencia y profesionalidad, en este viaje. ÍNDICE RESUMEN 9 RIASSUNTO 13 FUNDAMENTOS DE LA TESIS 17 I. ANTECEDENTES 20 II. HIPÓTESIS 22 III. OBJETIVOS 24 IV. METODOLOGÍA 28 INTRODUCCIÓN 33 PRIMERA PARTE (ARGUMENTACIÓN TEÓRICA) 41 CAPÍTULO 1. DE LO ESPIRITUAL EN EL ARTE: CONTEXTO 43 HISTÓRICO Y CONCEPTUAL 1.1 EN TORNO AL CONCEPTO DE LO SAGRADO 47 1.2 EL ARTE COMO EXPERIENCIA DE ELEVACIÓN 54 ESPIRITUAL CAPÍTULO 2. -

Printable Version
SCOTT RESSLER director of photography cell: 323-333-2507 los angeles, california / north carolina email: [email protected] features/television: “POEM OF ELISA LAM”, Director of Photography experimental short Dir. Maya Gurantz “RAPID EYE” (Haven), Director of Photography interactive web pilot Dir. Graham Reznick “TWIN PEAKS” (Rancho Rosa), 2nd Unit Photography tv series Dir. David Lynch DP: Peter Deming “WHAT DID JACK DO?” (Absurda), Director of Photography experimental short Dir. David Lynch “AMITYVILLE: THE AWAKENING” (Blumhouse), Green Screen Photography feature Dir. Franck Khalfoun DP: Steven Poster “CHASING LIFE” (Term Prods.), 2nd Unit Photography tv pilot Dir. Steve Miner DP: Shelly Johnson “MANSION OF BLOOD” (Image Prods.), Director of Photography feature Dir. Michael Donahue “THE EXTRA” (M Donahue Prods.), Director of Photography feature Dir. Michael Donahue “POOLTIME” (Elusive Ent.), Director of Photography feature Dir. Michael Donahue “OBSESSED” (Screen Gems), 2nd Unit and Insert Photography feature Dir. Steve Shill DP: Ken Seng “DEXTER” (Showtime) season 1-6 2nd Unit and Inserts Photography tv series Dir: various DP: Romeo Tirone “JARHEAD” (Universal), C Camera Operator and 2nd Unit feature Dir. Sam Mendes DP: Roger Deakins “AUSTIN POWERS IN GOLDMEMBER” (New Line), B Camera Operator feature Dir. Jay Roach DP: Peter Deming “THE STRAIGHT STORY” (Picture Factory/Disney), 2nd Unit Photography feature Dir: David Lynch DP: Freddie Francis “OLE” (Cinema Perfecta), Director of Photography feature Dir: Roberto Santucci "VIRTUAL HELL" -

Catalogue CD
CATALOGUE CODE TITRES CHANTEURS V2080 DES ROSES § DES ORTIES FRANCIS CABREL V2081 DIVINIDYLLE TOUR VANESSA PARADIS V2082 COMME A LA MAISON 2CD CHRISTOPHE MAE V2083 L'EXPEDITION LES COWBOYS FRINGANTS V2084 THIS IS THE LIFE AMY MACDONALD V2085 NRJ 200% HITS 2CD NRJ V2086 REFLETS SHY'M V2087 MOI BORDEL YOANNA V2088 EN CORPS ETRANGER WILLIAM BALDE V2089 ERSATZ JULIEN DORE V2090 CHANSONS ET COMPTINES DE NOTRE ENFANCE V2091 LESSONS TO BE LEARNED GABRIELLA CILMI V2092 BLONDE COMME MOI BB BRUNES V2093 ME,MYSELF US PASCALE PICARD V2094 TOI + MOI GREGOIRE V2095 INFREQUENTABLE BENABAR V2096 CA NE FINIRA JAMAIS JOHNNY HALLYDAY V2097 LA CASA BANCALE CASA NOSTRA V2098 THE LOVE ALBUM ANAÏS V2099 L'EQUILIBRE INSTABLE STANISLAS V2100 MELODY SHARLEEN SPITERI V2101 OUR BRIGHT FUTURE TRACY CHAPMAN V2102 OU S'EN VONT LES AVIONS JULIEN CLERC V2103 AND WINTER CAME ENYA V2104 DEBOUT SUR LE ZINC DE CHARYBDE EN SCYLLA V2105 WOW SUPERBUS V2106 MADEMOISELLE BERRY V2107 ECOUTEZ D'OU MA PEINE VIENT ALAIN SOUCHON V2108 BLACK ICE AC/DC V2109 SEAL SOUL SEAL V2110 LE BAL DES GENS BIEN SALVATORE ADAMO V2111 CARLA BRUNI CARLA BRUNI V2112 GREATEST HITS CRAIG DAVID V2113 JE SAIS QUE LA TERRE EST PLATE RAPHAEL V2114 GRAVITY AT LAST AYO V2115 MA MINITHEQUE VOL 5 ANNE SYLVESTRE V2116 ALLO C'EST MOI LYNDA LEMAY V2117 CE QUE L'ON SEME TRYO V2118 QUINZE CHANSONS VINCENT DELERM V2119 ZEST OF, ZAZIE V2120 PO'N'GUM SUPERBUS V2121 SOUL CONVERSATION J,J, MILTEAU V2122 24 HOURS TOM JONES V2123 PARENTHESES FRANCOISE HARDY V2124 2009 LES ENFOIRES FONT LEUR CINEMA LES ENFOIRES V2125 POINT -

1 El Arte De La Noche. Lo Dionisíaco Musical En E
V Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) Métodos, metodologías y nuevas epistemologías en las ciencias sociales: desafíos para el conocimiento profundo de Nuestra América El arte de la noche. Lo dionisíaco musical en el cine y videoclip experimental. Dr. Pau Pascual Galbis Arte e Multimédia Faculdade de Artes e Humanidades Universidade da Madeira (Portugal) [email protected] Con la palabra dionisíaco se expresa un apremio de unidad, un desarrollo más allá de la persona, de la cotidianidad, de la sociedad, de la realidad, como abismo del olvido. (NIETSZCHE 2016 :224) Introducción Según las palabras de Nietzsche cuando se permanece hechizado bajo el estado dionisíaco, -concepción ocasionada por la transgresión de las fronteras y límites existenciales- entraña mientras dura, una dimensión soñolienta bajo la cual toda vivencia personal pasada queda como sumergida. De este singular abismo de Mendoza, FCPYS-UNCUYO, 16 al 18 de noviembre de 2016 1 sitio web: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar - ISSN 2408-3976 olvido que el pensador comenta; separa, por un lado, el mundo cotidiano y, por otro, la realidad dionisíaca. Sin embargo cuando esa misma realidad regresa de nuevo a la conciencia, no hace sino que producir asco, repugnancia hacia la cotidianidad y a la austeridad moral impuesta. En ese sentido el concepto intempestivo de lo dionisíaco en El nacimiento de la tragedia a partir del espíritu de la música del filósofo alemán, es ante todo un modelo esencial que procede de la tragedia helénica, con algunas influencias de la nueva cultura opuesta al optimismo científico y desarrollada por Schopenhauer y Wagner. -

A Tortuous Q&A with David Lynch on the Inspiration For
"I’m Happier and Happier": A Tortuous Q&A With David Lynch on the Inspiration For His New Paintings by Ben Davis 27/03/12 10:27 AM EDT David Lynch (Photo Courtesy Père Ubu via Flickr) Who would have thought that an interview with David Lynch would be so unsettling? Lynch, who already has about as much cachet as any living American filmmaker could, seems lately to have expanded his preoccupations decisively beyond film, having branched out into pop music with his recent album "Crazy Clown Time," and even nightclub design with the opening of his Club Silencio in Paris last year. His efforts as a visual artist, however, stretch back decades, running in tandem with his more famous career as an auteur. It was as an art student at the Pennsylvania Academy of Fine Arts that he first discovered the moving image, making the short animated film "Six Men Getting Sick" (1966) to give life to one of his paintings. Not so long ago, he had a full-blown career retrospective of his painting and sculpture at the Fondation Cartier in Paris. His solo exhibition at the Upper East Side's Jack Tilton gallery, however, is his first gallery outing in New York in decades. The modestly sized show encompasses a series of newish paintings, some on cardboard panels and with bulky gold frames, some with Christmas tree lights poking through the background. The protagonists of these paintings are generally boys, often with bulbous or misshapen body parts, often frozen in the middle of some absurd moment of self-mutilation or savagery.